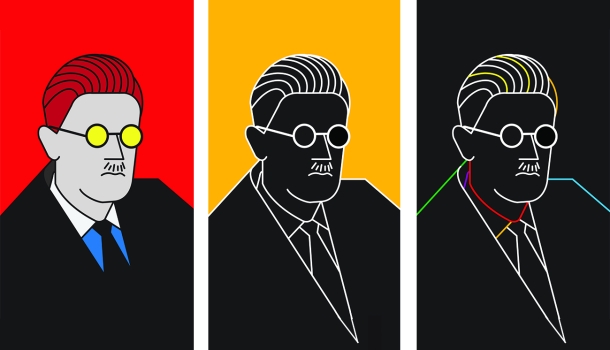Semana, sim, e na outra também, o Brasil metamorfoseia-se numa usina de polêmicas artificiosas, sobretudo num meio que, por sua gênese mesma, teria a obrigação de, antes de mais nada, primar pela civilidade e, em havendo discordâncias, o que é hígido e até louvável, encorajar a análise fria dos assuntos em tela, expediente fundamental para o bom andamento das discussões e das urgências que inquietam e angustiam uma nação inteira. A controvérsia enganosa que vem andando na cabeça e nas bocas, para lembrar um escrevinhador que representa tão bem a fundura do pântano mental em que gostosamente chafurdamos, remete a um tal deputado. Recebi um vídeo em que o deputado solta outra de suas tantas flechas envenenadas, visando a conservar a pureza de nossos adolescentes. O distinto, de quem, assumo, nunca tinha ouvido falar até então (que falta a minha, santo Deus!), publicara em sua página oficial no Instagram um vídeo em que se insurge, colateralmente, contra o romancista Marçal Aquino. Prezando pela justeza, o deputado, que, fiquei sabendo, é — ou “está”, como eles preferem, achando que dessa forma ocultam sua sanha por publicidade e mando — deputado federal de Goiás, abriu fogo contra a Universidade de Rio Verde, a UniRV, instituição particular de ensino superior da cidade do sudoeste goiano, por causa da escolha dos textos do escritor paulista para apreciação nos enunciados das questões de seu próximo vestibular. Ou seja, Aquino, esse devasso, entrou no bolo de contrabando, porque a guerra santa que o deputado, obelisco à moral e aos bons costumes, deseja encampar é um pouco mais abrangente.
Sempre que despontam no belo horizonte da gloriosa República figuras como o deputado, que arvoram-se em paladinos do bom, do justo e do belo, defensores genuínos e abnegados da brava gente brasileira, que consideram perfeitamente natural e mesmo forçoso interditar o livre pensamento sobre qualquer assunto lançando mão de argumentos ad hominem, aqueles que ofendem a honra do interlocutor e não propriamente suas ideias, jogando-o às feras moucas, mas vorazes, das arenas do linchamento moral — o que, em verdade, são as redes sociais —, e tanto pior quando se trata da diversidade de visões de mundo, se me ilumina de pronto a lembrança de Hanns Johst (1890-1978). Alinhado ao nazismo até o fim da vida, aos 88 anos, num asilo de Ruhpolding, extremo sul da Alemanha, o poeta tornou popular a máxima que reza que quando escuta-se a palavra “cultura”, deve-se logo sacar um revólver. Como se sabe, os nobres ensinamentos de Johst nunca interromperam a marcha a galope sobre todas as civilizações do planeta, e o século 21 inclina-se à vergonhosa posição de uma das eras de maior triunfo do obscurantismo.
O deputado tem uma concepção muito idiossincrásica do que vem a ser educação, formação intelectual, livre-pensar, ideais sonhados por Platão (428-348) nos primórdios do que hoje se transformaram nas universidades, aos quais a academia brasileira renunciou há pelo menos trinta anos. Todos os cursos de todas as universidades Brasil afora reúnem numa única sala mais militantes da ignorância à direita e à esquerda do que cidadãos que desejem de coração, ardorosamente, mudar a sina triste de nosso povo, e isso não é um fruto podre que cai da árvore das eventualidades: trabalha-se de sol a sol — meios de comunicação de massa; artistas; a academia mesma; e as elites políticas, por evidente — no intuito de obliterar o pensamento, e por conseguinte, a ordem, o progresso, a fortuna e a transformação. E não se consegue nada disso sem atear fogo, com ou sem figura de linguagem, aos livros. O deputado talvez seja, no momento, a personificação do atraso em nosso país, ao qual só chega com um empenho digno de Girolamo Savonarola (1452-1498) e seu horror ao que sua insânia extremista tachava de profano.
Livros salvam homens e homens salvam a humanidade. O deputado faria bem em poupar o Brasil e os adolescentes brasileiros de seus carinhos, e ler mais, ainda que eu saiba que não o fará: vossa excelência precisa da estupidez, do cinismo e da retidão sem lastro na vida prática a fim de tecer seus ditirambos patranheiros em nome do que nunca poderá ser, não é mesmo? O deputado, dono de uma capivara gordíssima, certamente espera por sugestões para próximas cruzadas, e a Bula atreve-se a socorrê-lo. Escolhemos uma dezena de publicações de autores, em tempos diversos, sobre os quais o deputado pode debruçar-se, acusando o fim do mundo, a exemplo de “A Casa dos Budas Ditosos”, em que o baiano João Ubaldo Ribeiro (1941-2014) coloca na boca de uma senhora de 68 anos as pornografias que todos precisamos dizer de quando em quando. Como diria Dercy Gonçalves (1907-2008), a maior filósofa que já tivemos, palavrão é apenas a imagem distorcida que temos de coisas muito prosaicas. Como certa política e dados políticos teimam em ratificar.

Numa narrativa a um só tempo fluida e densa, o francês Michel Houellebecq apresenta a história de Michel Renault, um anacoreta de quarenta e poucos anos nada interessado em travar contato com o mundo a sua volta. A morte do pai desperta-lhe a urgência de recobrar o tempo que talvez perdera; o protagonista começa indo para a Tailândia, onde conhece Valérie, uma jovem agente de viagens que reacende nele o gosto pela vida. “Plataforma” sai do prelo pouco antes do 11 de Setembro, o que atesta a vocação profética do autor, um niilista afetuoso que detesta quase tudo no mundo pós-moderno — a globalização, o islã, a sociedade de consumo, as perenes injustiças do capitalismo, a banalização do sexo e a vulgaridade do pensamento neoliberal.
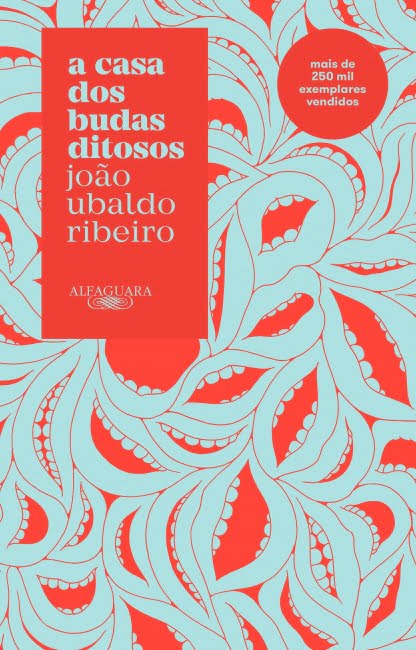
Publicado originalmente na coletânea “Plenos Pecados”, da Editora Objetiva, o tema-livro do baiano João Ubaldo Ribeiro é a luxúria, encarnada por uma elegante senhora de 68 anos, também nascida na Bahia, que conta com toda a naturalidade do mundo, e em vernáculo escorreito, suas experiências com o sexo, feito sem pudores. A prosa do escritor — ele mesmo um tipo bastante fescenino, de voz grave e um espesso bigode — sabe a dendê e maresia, e foi com esse balanço tão autêntico que Ribeiro foi laureado, merecidissimamente, com o Prêmio Camões de 2008.
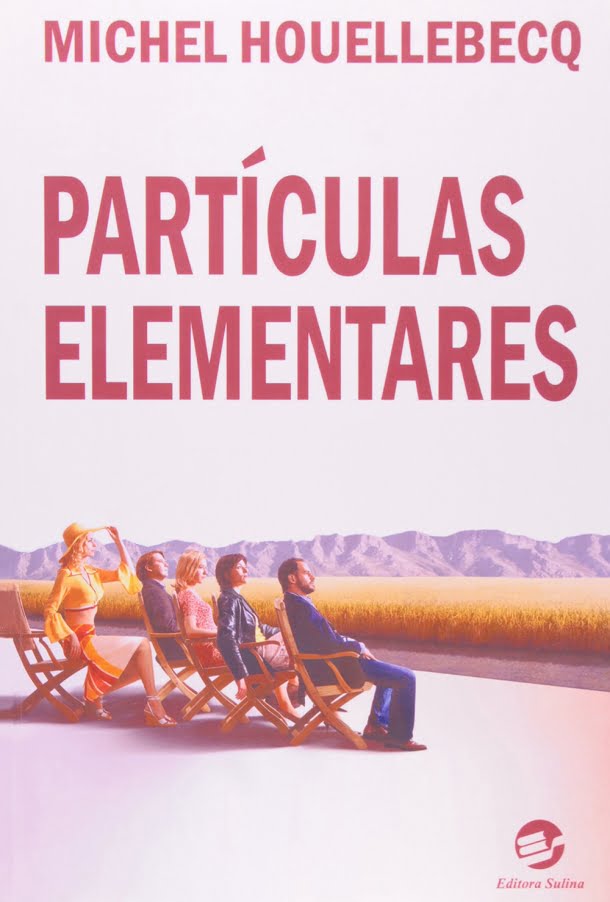
Houellebecq não se acomoda na pele do enfant terrible da literatura contemporânea e com Partículas Elementares segue falando de tudo quanto julga insuportável na civilização, mas concentrando no recorte íntimo. Personagens centrais de “Partículas Elementares”, os meios-irmãos Bruno e Michel são antípodas um do outro. Enquanto Bruno, professor de literatura e mais velho dos dois, parece querer beber a vida de um só gole, consumindo pornografia desbragadamente e fazendo sexo o mais que pode — além de nutrir com devoção sua misoginia e seu racismo —, Michel, nome recorrente entre seus protagonistas, dedica-se a biologia, prefere a solidão e faz dela o estímulo de que precisa para trabalhar e viver, como um monge. Gradualmente, o romancista elabora a potência que o amor pode significar para cada um, sem garantia de final feliz, contudo.
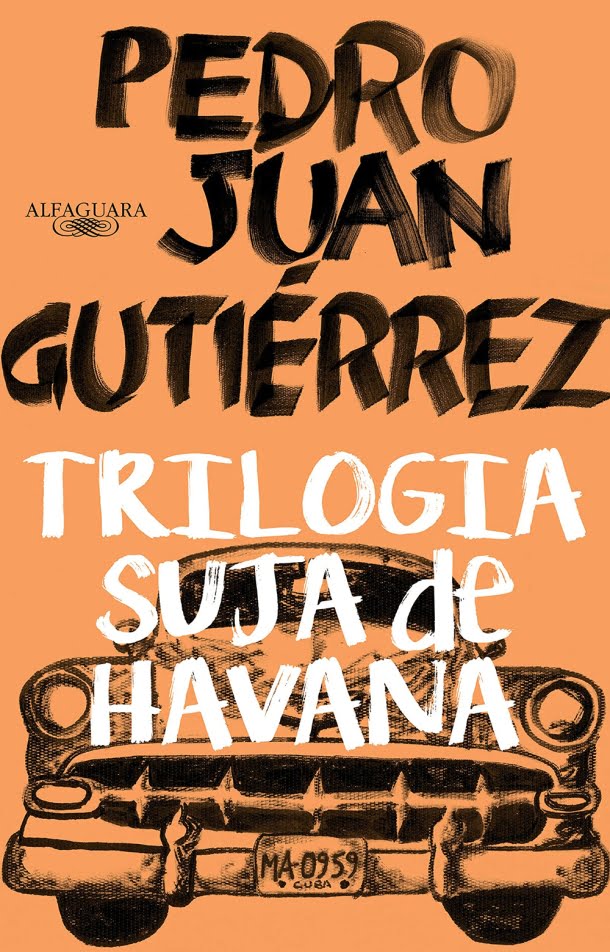
A Revolução Cubana (1953-1959), que depôs Fulgencio Batista e deu início à ditadura de Fidel Castro (1926-2016) pelos cinquenta anos seguintes, conduz a pena de Pedro Juan Gutiérrez, ele mesmo alcançado pela perversidade do comunismo, hábil em atirar à indigência e à fome milhões de cidadãos. Gutiérrez, todavia, refuta o papel de vítima, preferindo deixar a nu um lado festivo, até alienado, da população da ilha caribenha, e nesse momento o autor investe-se de sua porção engajada, militante, sem o qual julga-se incompleto. A utopia cínica de uma nação revolucionária, renovada, cai por terra mediante a constante ausência de comida e serviços básicos: essa é a deixa para que o escritor alce a imundície das vielas da capital Havana a uma forma de resistência, com sexo, maus odores e criminalidade à solta.
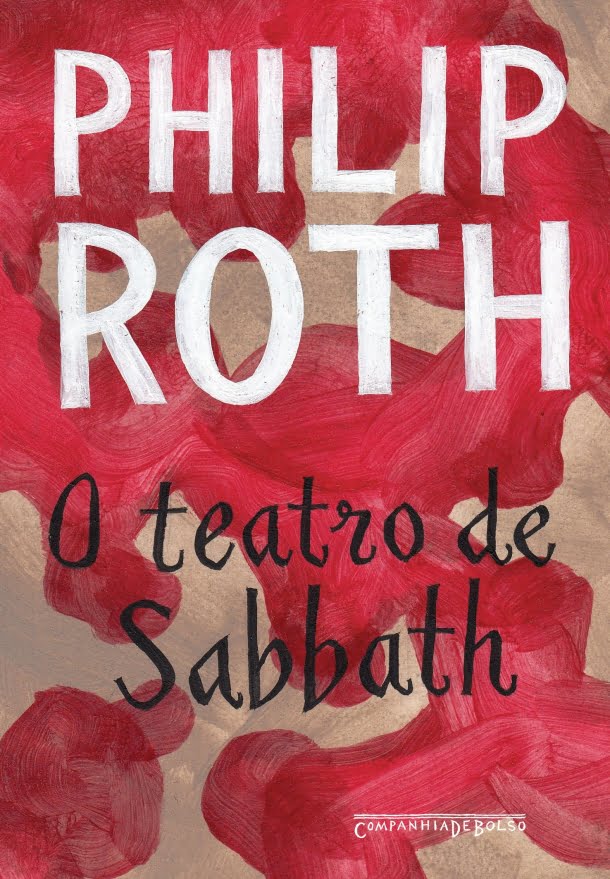
Um dos mais talentosos romancistas que o século 20 produziu, o americano Philip Roth nunca teve medo das boas polêmicas. Em “O Teatro de Sabbath”, Roth confere a Mickey Sabbath autoridade para representar a visão de mundo do escritor. Sabbath, um titereiro caído em desgraça num mundo sem lugar para a arte e tanto para a poesia, contamina o leitor com sua sujeira, sua descrença de tudo, seu esplim, seus pequenos delitos. Resta-nos acompanhá-lo por seus descaminhos de progressivo horror à retidão hipócrita, sexo bestial e autodestruição. Paira sobre esse sobrevivente da vida que não teve um mistério que Roth trabalha como só ele mesmo poderia, enquadrado em elementos tão corpóreos quanto alcoolismo, artrite e câncer.
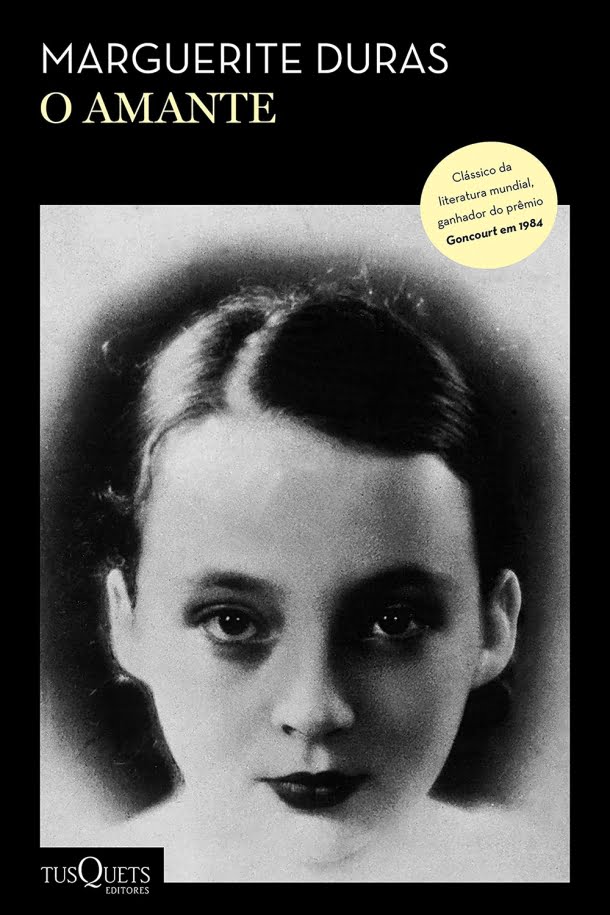
Vencedor do Prêmio Goncourt de 1984, o relato autobiográfico de Marguerite Duras ostenta a fabulosa marca de mais de dois milhões e meio de exemplares vendidos, só na França. “O Amante” narra o amor caótico de uma garota francesa e um próspero comerciante chinês na Indochina, então colônia da França, nos anos que antecedem a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Nascida ela mesma em Saigon, hoje Ho Chi Minh, capital do Vietnã, Duras não poupa críticas ao imperialismo da metrópole sem prejuízo de seu olhar lírico, até ingênuo, no que toca ao amor e seus vínculos, potentes, mas também frágeis, e a virulência com que sua família recebeu a notícia do relacionamento que transformou sua vida, para o bem e para o mal.
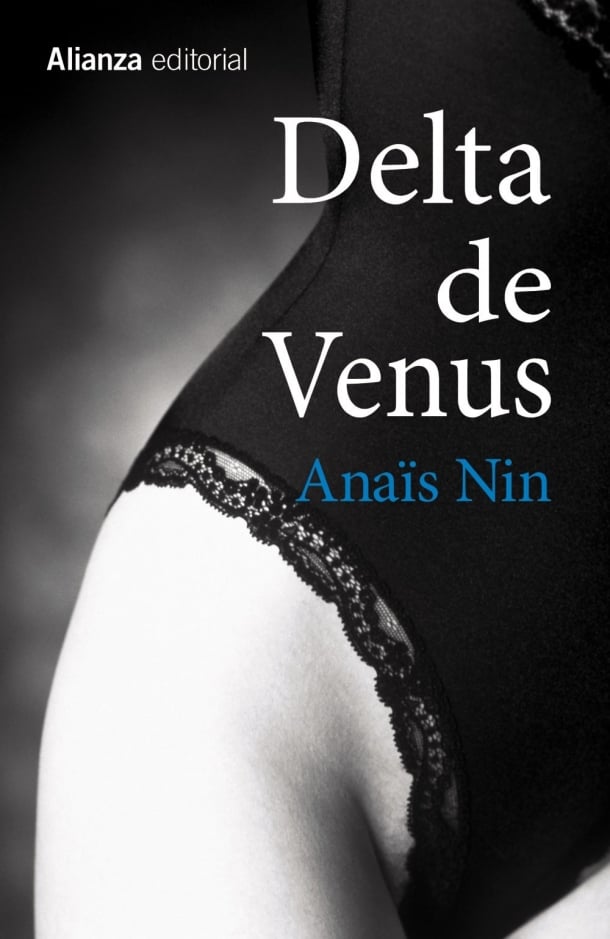
Anaïs Nin reúne em “Delta de Vênus” contos escritos no transcurso dos anos 1940, encomenda de alguém que se nomeia O Colecionador. Seu chefe misterioso, em cujo plantel figuram artistas do gabarito de Henry Miller (1891-1980), quer dela narrativas curtas em que o sexo é o personagem central. Mesmo instada a privilegiar a abordagem obscena, explícita até, do coito, Nin soube, por meio de metáforas e construções semióticas sem par, dar azo a um novo gênero de literatura, amálgama de pornografia e delicadeza, num tempo em que o belo sexo ainda despertava para temas a exemplo de orgasmo e prazer sem culpa.
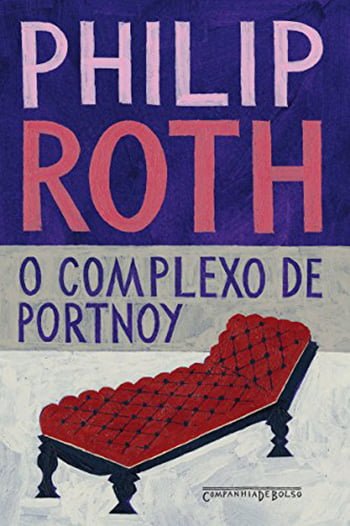
Valendo-se de um talento único para contar histórias com elegância e riqueza de minudências, Philip Roth encarna o judeu Alexander Portnoy, ninfomaníaco inveterado às voltas com reprimendas de seu superego, fruto de uma infância opressiva. Nenhum outro literato seria capaz de juntar num mesmo volume opróbrios latentes há três décadas e a urgência de autoafirmação de um homem fraco, suscetível a toda sorte de interferências nefastas, da família — quase sufocada pela imagem onipresente da mãe —, da religião e da sociedade falocêntrica que nos vigia desde sempre, implacável com machos que ousam descontinuar esse modelo.
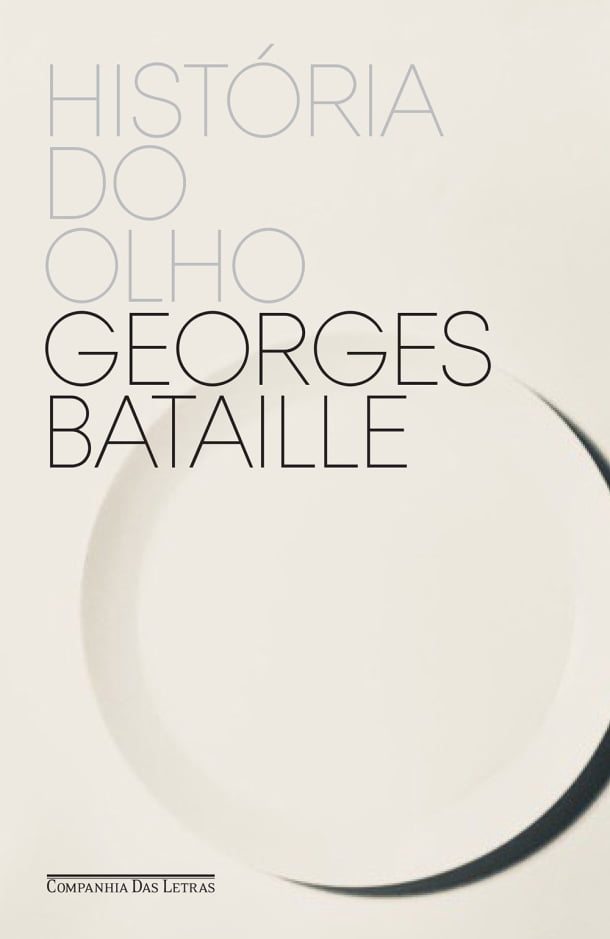
Já no título, o propósito de “História do Olho” é escandalizar, mas igualmente propor a reflexão. Que olho enigmático, secreto, escondido será esse que nos contempla a todos, e mais que nos contempla, nos espreita e nos desafia? Cada um tem sua experiência e atinge sua própria conclusão, a partir, por evidente, do que consegue descobrir de si mesmo; no caso do narrador do estranho romance de Georges Bataille, Simone, sua musa inspira-lhe curiosidades nada ortodoxas, como o que poderia haver debaixo de meias pretas de seda capazes de resumir o universo inteiro num contorno suave de mulher. A partir do segundo parágrafo, Bataille começa a dizer o que pretende, mas nunca vai além da sugestão, guardando para o curso do que resta do livro o maravilhamento das revelações, óbvias só à primeira vista.

Publicado em 1870, “A Vênus das Peles” compõe o primeiro volume de “O Legado de Caim”, antologia de Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895). O narrador anônimo da novela de Sacher-Masoch sonha com Vênus, a deusa romana do amor, com quem trava uma discussão apaixonada sobre de que forma as mulheres, seres aos quais atribui defeitos invencíveis e uma constituição psíquica monstruosa, em contraste com a harmonia estética, determinam a sorte dos homens. Seu idílio morfético, claro, termina com a aurora, e ainda pela manhã ele despacha-se à casa de Severin von Kusiemski, onde uma pintura à óleo de Vênus leva-o à iluminação que se deslinda pelo restante da história, complementada por uma ponderação bastante ardilosa de Severin, momento em que a prosa do austríaco sabe a um Dostoiévski bem condimentado.