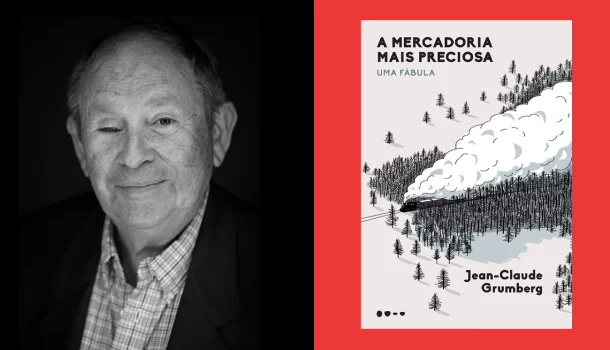Mais do que mirá-lo, uma página em branco latia-lhe sem pistas de decifração, prestes a devorá-lo: “E agora, o que vai ser, caro escritor? Somos apenas eu, você e essa baita falta de inspiração”. Não tinha um osso para atirar a si mesmo. Por um instante, amofinou-se, desistiu de escrever. Abriu os jornais e se banhou de sangue. Ligou a TV onde um padre de chapéu branco e calça colada vendia colchões magnéticos. Chorou o mais alto que pode, mamãe não escutou — morrera de desgosto. Tentou rezar, só que Deus não acreditava mais nele. Restava se afobar. A pior coisa que podia suceder a um cronista remunerado era ter a mente ocupada pelo vazio. Nem o diabo ensejava empreender ali a sua oficina.
Se ao menos fosse uma folha de papel, amassava-a, tacava fogo, dava-se um jeito. Há pouco, estava sentado em frente a tela do computador, enervando neurônios com uma história sem pé nem cabeça que ia para lugar algum. Espreguiçou. As juntas estralaram feito tabocas. Abriu a geladeira. Encheu uma taça até a boca com um bom tinto chileno. Retirou os chinelos. Estava mal. Caminhou descalço pelo apartamento. Trocar elétrons com o assoalho de taco poderia, quem sabe, redundar em boa coisa, salvá-lo do marasmo por meio de um estalo criativo.
Aproveitou a pane mental para separar documentos obrigatórios para a declaração de imposto de renda pessoa física 2024. A velha tísica tossiu no 403. Podia ouvir o estrondo do catarro hemoptoico cuspido dentro da lata de leite em pó vazia. Séquitos de insetos atacavam o bolo de fubá esquecido sobre a bancada. Por um momento, irritou-se. Carecia dedetizar o dedetizador. O maldito lhe arrancara precioso dinheiro ao executar um combate fictício às pragas que nada mais fez do que provocar a insurreição de formigas e de baratas contra a sua pessoa.
Sentia-se entediado. Revoltou-se ao constatar que o Estado, por meio da cobrança abusiva de impostos, surrupiava mais da metade dos seus proventos anuais. Só se fugia morto do fisco. Abandonou a papelada. A bisteca deteriorada dentro da frigideira comia-o pelos olhos. Perdera o olfato há cerca de três anos, desde que sucedeu a última pandemia viral. Andava com a saúde física na ponta dos cascos; a mental, nem tanto. Caminhava a copos largos para consolidar o vício em vinho e punheta, práticas que remontavam dos primórdios dos anos 1980.
Optou por desperdiçar um pouco mais tempo bisbilhotando nas redes sociais da internet. Catou o smartphone e começou a conversar com pessoas desconhecidas, denominadas amigos virtuais, pelas quais acabara se afeiçoando por obra dos algoritmos. O ócio era um escândalo. Entregava-se de porco e arma para dezenas de estranhos. Estava particularmente interessado numa mulher jovem, loira, que lembrava a atriz Marylin Monroe antes da overdose de analgésicos. Era mais bonita que uma rinha de rottweiler. Utilizou a conversa privativa para ser mais assertivo nos elogios aos seus atributos físicos.
Foi mais fácil do que imaginava. A moçoila engoliu a isca com anzol, linha e chumbada. Convidou-a para um encontro no seu apartamento. Morava sozinho com um cágado que um editor aloprado lhe trouxera do vale do rio Araguaia, escondido dentro de uma caixa de uvas Niágara. O bicho não emitia sons, não era tão interativo quanto um bichano, por exemplo, de tal sorte que já cogitava dar cabo dele.
O interfone tocou. Era a bela do Instagram. Jogou um pouco mais de aguarrás nas axilas. Ato falho, soprou contra a palma das mãos para testar o hálito. Sorriu para o espelho, a caçar fiapos de comida entre os dentes. Naquela altura do campeonato, vida de solteiro era uma humilhação. Podia ser que o apartamento tivesse mesmo aquele cheiro de cachorro molhado de que lhe falara a diarista muda, por meio de gestos e de caretas. A anosmia constituía sempre um risco. E se a moça fedesse nos países baixos a esconder micróbios infectantes?
Era óbvio que exagerava. A falsa Marylin bateu na porta. Ele disse olá como vai entre e fique à vontade. Era mais feia pessoalmente. Nada que a embriaguez não pudesse amenizar. Pediu que a moça se sentasse. Apreciou a delicadeza dos seus pés, as unhas pintadas de verde e amarelo. Devia ser mais uma fogosa correligionária da extrema-direita.
Ofereceu a ela bebida. A conversa fluía num ritmo promissor até que sentiu a bexiga sussurrar que precisava de alívio imediato, pois, a próstata bojuda a estava apertando feito um par de sapatos novos sobre os joanetes. Pediu licença. Levantou. Seguiu cambaleando até o banheiro. Gastou eternos três minutos para esvaziar um miserável copo de mijo. Quando retornou à sala, deparou com a moça descalça e as taças reabastecidas. Sentia-se mais animado do que um patriota defecando sobre o escudo da república dentro do gabinete oficial do presidente da suprema corte.
Bebericou com fé na causa. Sentiu uma vertigem, depois, uma incontrolável sonolência. Antes que pudesse soletrar Deus pátria e família, desmaiou sobre o sofá. Só despertou na tarde do dia seguinte, ao sentir o calcanhar mordiscado pelo circunspecto quelônio. Estava nu. Fora roubado, humilhado. Tinha caído no manjado golpe do boa noite Cinderela. Sentia um desconforto tremendo na retaguarda. Tateou a raba com cuidado e retirou lá de dentro um bilhete introduzido com os seguintes dizeres: “Golpistas não passarão! Viva a democracia!”.
Deprimiu-se. Tomou uma ducha. Passou pomada. E pôs na panela o cágado — coitadinho — que nada tinha a ver com a história.