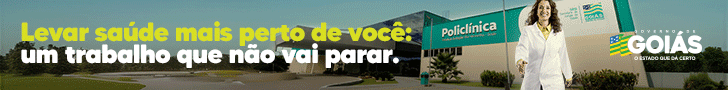Harold Bloom insiste em que a melhor obra escrita pelo conde Liev Tolstói é a novela “Hadji Murad”. Sustenta sua opinião tanto em “O Cânone Ocidental” quanto em “Gênio”, livro este que pouco ou nada acrescenta em relação ao primeiro, salvo a quantidade de personalidades, entre as quais o brasileiro Machado de Assis.
Não posso duvidar e não tenho condições de contestar Harold Bloom quanto a Tolstói, mas arriscaria a dizer que a novela mais impressionante do escritor russo é “A Morte de Ivan Ilitch”. Pelo menos, assim me parece. A morte, ao lado do amor e do ciúme, é sabidamente um dos grandes assuntos de toda a literatura, incômodo embora. Em último caso, é ela que tempera as relações humanas, justificando-as ou tirando-lhes todo e qualquer sentido, a depender do ponto de vista. E não é um conceito tão simples, uma vez que não existe apenas a morte física. Schopenhauer, em “A Vontade de Amar”, defendeu que os suicidas se matam por amor à vida, incapazes que são de submetê-la a determinados sofrimentos. É um entre tantos paradoxos: algumas correntes espiritualistas e religiosas — o Cristianismo é uma delas — consideram que a vida eterna, ou vida verdadeira, segue-se à extinção da carne. Pessoalmente, acho importante, mas pouco importa o que pensam a filosofia e a teologia, duas tentativas desesperadas de consolo. Tememos de verdade a perda de nosso corpo, razão de nossos sentidos mais elementares. E amamos esta vida pelo mesmo motivo, vá ela ou não aos trancos e barrancos.

Li uma vez “A Morte de Ivan Ilitch” e nunca mais tive disposição para enfrentar a história escrita por Tolstói, hipocondríaco que sou. Nada que se escreveu acerca do infalível tema da morte, ao menos de meu conhecimento, é tão cruel. Uma das cenas antológicas de Shakespeare versa sobre o mistério dos mistérios: a de Hamlet segurando a caveira do histrião Yorick, quando uma vez mais reflete sobre nossa decadência final (Ato V, cena I). É uma das passagens mais famosas do teatro e da literatura. Mas o príncipe da Dinamarca não era um moribundo, o advogado Ivan Ilitch o era: a angústia deste infeliz denota a experiência de um condenado, não de uma testemunha. Nada é tão desalentador e tão sinistro quanto a visão de Tolstói. Apesar de no clímax subjugar seu personagem à redenção, convencer-me-ia facilmente de que Tolstói estava profundamente magoado com Deus ao escrever essa história, e que externa por meio dela seu profundo sentimento de decepção com a Criação. Somos por definição sensualistas, e é um contraste brutal a vida ofertar tanto e a morte tirar tudo.
Em vida, Ivan Ilitch prosperou na carreira e obteve materialmente o luxo e conforto sonhados por qualquer mortal; foi comissionado, juiz de instrução, promotor substituto e procurador. Conquistou respeito e admiração; cumulou-se de riquezas e elevou-se aos píncaros da sociedade russa — até que um dia, sentiu uma dor. Desde então qualquer dor física e mal localizada que sentir o leitor ou leitora de Tolstói pode causar aflição, pois no caso de Ivan foi o começo do fim, aliás perturbador. Não houve alento, comiseração, nada. Ninguém foi capaz de curá-lo; a medicina nada pode fazer, a não ser tapeá-lo, e a família simplesmente o desprezou. Os raros instantes de solidariedade e de consolo, Ivan os teve ironicamente de um criado, Guerássim, o único ser humano que se dispôs a servi-lo com lealdade e respeito, até o último suspiro. Por alguns momentos apenas, Ivan convenceu-se de que as dores morais são muito piores do que as dores físicas: “Considerou que as pequeninas tentativas que fizera, tentativas quase imperceptíveis e que logo sufocava, para lutar contra o que era considerado acertado pelas pessoas mais altamente instaladas na sociedade, podiam representar o lado autêntico das coisas, sendo falso tudo o mais. E que os seus deveres profissionais, sua vida regrada, a ordem familiar e todos os interesses mundanos e oficiais, não passavam de grandes mentiras. Tentou defender tudo aquilo perante si mesmo e, de repente atinou com a fragilidade de sua defesa. Não, não havia nada a defender”.
A zombaria de Hamlet, na cena mencionada, aplica-se perfeitamente a Ivan: “Aí está outra; por que não poderá ser a caveira de um jurista? Onde estão agora as suas cavilações, os seus processos, os seus truques, as suas trapaças? Como é que ele agora suporta que esse maroto lhe pespegue pancadas com uma pá imunda sem processá-lo por lesões corporais?”
Podia ser esta a caveira do jurista Ivan, pisoteada por um reles coveiro. Onde fica a vaidade, a presunção de um homem, depois de morto? Mas a pergunta de Hamlet, “Onde estão agora as suas cavilações, os seus processos, os seus truques, as suas trapaças?”, persiste em busca de uma resposta, reportando-nos fatalmente a outros autores e a outras conclusões, aliás muito parecidas.
Recentemente, reli o norte-americano John Updike, que morreu em 2009. Aficionado por contos mais do que por qualquer outro gênero literário, adquiri dele uma coletânea de 23 histórias curtas chamada “Uma Outra Vida”. O título traduzido é ambíguo, mas apenas diz respeito às muitas facetas da relação amorosa na maturidade, quase na velhice. A narrativa de Updike é dotada de uma sensibilidade impressionista — aliás, o nome de Proust aparece no conto “O Boato”. Contudo, descobri uma página sua que me lembrou Tosltói, me lembrou “A Morte de Ivan Ilitch” e me lembrou esse trecho de “Hamlet”. Trata-se de uma preciosidade chamada “A Viagem aos Mortos”, em que o protagonista Martin Fredericks faz as vezes de Ulisses e Eneias descendo ao Hades. A certa altura, Fredericks vai com a esposa a um churrasco oferecido a uma amiga do casal, e que sofre de uma doença terminal. Sim: à parte à inadequação, trata-se de um churrasco de despedida silenciosa. Na chegada ao lugar, uma mangueira de jardim serve de pretexto para se pensar o tema em questão: “Fredericks voltou e removeu a mangueira para que o carro seguinte não a atropelasse [isto é, à doente, diante do carro], ao mesmo tempo tentando imaginar como esses acessórios de nossa vida cotidiana, pacientemente conservados, guardados, enrolados e consertados como se sua utilidade fosse eterna, deviam parecer a alguém cuja morte era iminente. A mangueira, as flores, a colher de jardineiro abandonada cujo cabo amarelo-canário cintila entre as ervas silvestres ao lado dos flox. O gramado mesmo, e o sol, o céu, as arvores semelhantes a maciços cenários bidimensionais desgastados — eles que se danem. O valor deles estava para ser submetido a uma revisão tão vasta e tão implacável que Fredericks não era capaz de imaginá-la”.
Seria preciso transcrever toda a página, para que o leitor fosse devidamente compensado pelo talento reflexivo de Updike. O fundamental, porém, é o lugar que ocupa em nossas vidas esse complexo de “acessórios”, as posições e “processos”, nossos “truques” e “trapaças” cotidianos, e mesmo o cenário à nossa volta, “o sol”, “o céu”, “as árvores” e tudo mais, quando o que está em questão é a irremediável condição do homem. Na poesia, Jorge Luis Borges escreveu um poema chamado “As Coisas”, fazendo sua própria e severa revisão: versificou em tom desprezível que elas “Durarão para além do nosso olvido e nunca saberão que somos idos”. Outro poeta, Ferreira Gullar, intuiu o mesmo problema que Updike e concorda inteiramente com Borges, num poema dedicado a Clarice Lispector: a natureza não depende de nós, embora tenhamos a ilusão frequente do contrário.
A morte é um tema naturalmente desagradável. Mas é também, na literatura como na vida, universal e se nos impõe.