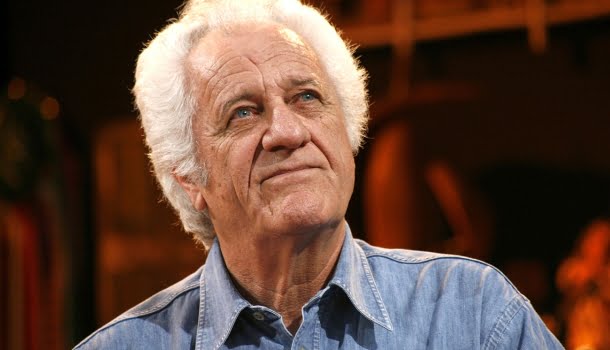Neste confinamento forçado, todos — inclusive o degas aqui — já escrevemos sobre o livrinho de Xavier de Maistre, “Viagem em Volta do Meu Quarto”. Virou clichê, assim como recordar Camus e o seu “A Peste”. É justo, é muito justo, é justíssimo, diria aquele personagem interpretado por José Wilker. Mas e Pedro Nava descrevendo a devastação da gripe espanhola? Nada, nadica, nonada? Pois faço aqui a merecida lembrança daquele que nos deu uma das nossas grandes obras em prosa.
Primeiro, “o autor, o autor!”, para imitarmos as plateias de teatro de antigamente. Em junho de 1903, nasceu, na mineira Juiz de Fora, um “pobre homem do Caminho Novo das Minas dos Matos Gerais”, como Nava escreveu no primeiro livro das suas memórias, “Baú de Ossos”, usando uma fórmula de Eça de Queirós (“Eu sou um pobre homem da Póvoa do Varzim”), depois também utilizada por Otto Lara Resende (“Eu sou um pobre menino do Matola, de São João del Rei”) — aliás, como a inveja é o pecado dos escritores frustrados, eu gostaria de poder dizer que sou um pobre homem de São Sebastião do Alemão (Palmeiras de Goiás, cidade da minha família materna), ou que sou um pobre homem de Itaberahy (Itaberaí, claro, onde nasceu meu pai), mas fico apenas na vontade não realizada, pois nasci nesta mui nobre, leal, benemérita, heroica, invicta e boa cidade de Goiânia.
Juiz de Fora, a meio caminho entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro, moldaria as hesitações geográficas e existenciais de Nava (algo assim como os caminhos de Swann e Guermantes?). É ele quem nos conta: “(…) Nasci nessa rua, no número 179, em frente à Mecânica, no sobrado onde reinava minha avó materna. E nas duas direções apontadas por essa que é hoje a Avenida Rio Branco hesitou a minha vida. A direção de Milheiros e Mariano Procópio. A da Rua do Espírito Santo e do Alto dos Passos. A primeira direção é o rumo do mato dentro, da subida da Mantiqueira, da garganta de João Aires, dos profetas carbonizados nos céus em fogo, das cidades decrépitas, das toponímias de angústia, ameaça e dúvida — Além Paraíba, Abre Campo, Brumado, Turvo, Inficionado, Encruzilhada, Caracol, Tremendal, Ribeirão do Carmo, Rio das Mortes, Sumidouro. Do Belo Horizonte (não esse, mas o outro, que só vive na dimensão do tempo). E do bojo de Minas. De Minas toda de ferro pesando na cabeça, vergando os ombros e dobrando os joelhos dos seus filhos. A segunda é a direção do oceano afora, serra do Mar abaixo, das saídas e das fugas por rias e restingas, angras, barras, bancos, recifes, ilhas — singraduras de vento e sal, pelágicas e genealógicas — que vão ao Ceará, ao Maranhão, aos Açores, a Portugal e ao encontro das derrotas latinas do mar Mediterrâneo”.
É belo, não?
Desde jovem, Nava, estudante de Medicina e futuro médico de renome internacional, juntou-se a escritores. Foi integrante de primeira hora do chamado Grupo do Café Estrela, que publicava “A Revista”, página em que os jovens mineiros cometiam os seus modernismos. Por toda a vida, apesar da carreira médica, continuou convivendo com a turma das letras. Também era tido como poeta bissexto de alto quilate (como comprova “O Defunto”, esse grande memento mori da literatura brasileira); então, com quase 70 anos, começou a publicar as suas memórias. Foi ajudado por sua memória hipermnésica, mas parece também que se preparara a vida inteira, talvez de modo inconsciente, para a obra que o imortalizaria: há notícia de que recolhia documentos e objetos de família e de que coletava desde jovem dados dos antepassados. São seis volumes (suicidou-se quando estava no início do sétimo): “Baú de Ossos”, “Balão Cativo”, “Chão de Ferro”, “Beira-Mar”, “Galo-das-Trevas” e “O Círio Perfeito”. É uma estranha obra: no início, biografia de antepassados; depois, memória da infância e juventude; por fim, mistura de realidade e ficção. Estranha e fascinante.
Leitor de vida inteira de Marcel Proust, Nava, também conhecedor de Henri Bergson, entendeu os mecanismos da memória involuntária. Sua obra é profundamente proustiana, influência que proclamava abertamente. Daí a sua fixação obsessiva com a passagem do tempo, como confessava. É, aliás, curioso que não haja mecanismos desse tipo nas memórias que o amigo de vida toda de Nava, Afonso Arinos, publicou a partir de 1961 — seus livros, bem escritos e elegantes, são mais lineares, o que talvez diga muito sobre as diferenças entre um e outro: Nava, mais atormentado, é assaltado por lembranças involuntárias; Arinos, consciente do seu lugar no mundo, segue uma rota fixa na evocação do seu passado.
Pausa para uma digressão, que também sou homem de linhas tortuosas. Escrevi há muito tempo e repito aqui: lemos Pedro Nava para saber como é a vida do seu ponto de vista; porém, como mencionei Proust, devo dizer que seus livros são também uma espécie de madeleine para mim. Eles me trazem de volta a Palmeiras da minha família materna, aquela Itaberaí dos meus ancestrais paternos e a Campininha dos meus tios. As casas de sonho dos meus avós e tios-avós, com a sua profusão de cômodos onde eu podia me perder dos adultos e ser um explorador do Velho Oeste. A partir daí, é uma avalanche de recordações: o cheiro de talco das tias velhas; a lenha queimando todos os dias no fogão desde cedo; a paçoca comida com muito feijão às seis horas da tarde; “Winnetou” lido em estado febril na rede; as histórias de família contadas em noites sem energia elétrica; as discussões políticas da parentada, com seu arraigado udenismo; o estranhamento de ver homens fantasiados para as Cavalhadas, cujo significado ninguém me explicara; os livros, velhos de quarenta anos, com as histórias de Tarzan dos Macacos; o tio caçador trazendo pacas vivas de uma viagem que fizera para destino desconhecido; o retrato — a presença — do tio morto que não conheci; o gosto de todos pelas coisas ínfimas ditas de modo grandioso; as mulheres práticas e os homens sonhadores; os restos da farmácia desmontada de meu avô; os armários com os livros de Chernoviz, hoje aqui em casa, em que, para meu espanto, havia propaganda de cocaína em pastilhas (doze pastilhas por dia para laringites!). Mais, muito mais: a deusa loira de oito anos que eu só conseguia impressionar empurrando na lama; o meu paciente avô com sua leitura vagarosa de livros de História; as longas noites, iluminadas por lampiões, numa fazenda cuja sede não tinha energia; a avó matando uma cobra no quintal dessa fazenda; as jabuticabas comidas no pé; o cemitério familiar, com túmulos do século 19, à beira da estrada (“Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”); as ariranhas entrevistas num córrego; as assombrações que eu nunca via; os velórios nos quais se servia arroz com frango no almoço; minha bisavó centenária comandando toda a família de uma cadeira de balanço; meu tio quarentão, com síndrome de Down, vestido de Zorro. Minha vida tão recente que tudo era espanto e alumbramento — “o mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome”, escreveu aquele colombiano genial. Fim da digressão.
Mas me perdi. Perco-me sempre. Ah, sim, Nava e a gripe espanhola. É em “Chão de Ferro” que Nava narra o que foi a devastação que varreu o país em fins de 1918:
“É que no meio da população, como naquela festa do Príncipe Próspero, insinuara-se — não a Morte Vermelha de Poe mas a Morte Cinzenta da pandemia que ia vexar a capital e soltar como cães a Fome e o Pânico, que trabalhariam tão bem quanto a pestilência. It is not deaths that make a plague, it is fear and hopelessness in people — diz Powell. E o que iria ser visto no Rio daria toda razão ao médico americano.
(…)
Pois o sínoco de catarro, influenza, gripe ou como queiram chamá-la — a espanhola instalou-se entre nós em setembro, cresceu no fim desse mês e nos primeiros do seguinte.
(…)
O colégio fechava por tempo indeterminado. Sobretudo, que não nos demorássemos na rua. Voltei rapidamente para Major Ávila, 16. Quando eu saíra de manhã, tinha deixado a casa no seu aspecto habitual. Quando cheguei, tinham caído com febre alta e calafrios a Eponina, o Ernesto, a sinhá Cota e o Gabriel.
(…)
Era apavorante a rapidez com que ela ia da invasão ao apogeu, em poucas horas, levando a vítima às sufocações, às diarreias, às dores lancinantes, ao letargo, ao coma, à uremia, à síncope e à morte em algumas horas ou poucos dias. Aterrava a velocidade do contágio e o número de pessoas que estavam sendo acometidas. Nenhuma de nossas calamidades chegara aos pés da moléstia reinante: o terrível já não era o número de casualidades — mas não haver quem fabricasse caixões, quem os levasse ao cemitério, quem abrisse covas e enterrasse os mortos.
(…)
Numa espécie de loucura, todos os boatos eram acreditados; transmitidos de um a um; multiplicados pela imprensa, de um para cem, para mil, para dez mil.
(…)
As opiniões médicas dividiam-se. Uns queriam os sais básicos e achavam os neutros inoperantes. Era Hipócrates dizendo sim. A metade preferia os sais neutros e tratava de homicidas os colegas que prescreviam os básicos. Galeno dizendo não.
(…)
Mas quem prescrevia as drogas de que falamos acima eram os médicos e esses também adoeciam e morriam. Quando os clínicos não deram mais para o repuxo entraram em cena os cirurgiões, os parteiros, os laboratoristas — fazendo também de internistas. Os doutores viviam exaustos.
(…)
Pediu e obteve dos seus superiores um bagageiro com dois taiobas e vasculhou com eles a cidade de norte a sul — Fábrica das Chitas, Tijuca, Andaraí, Aldeia Campista, Vila Isabel, Méier, Engenho de Dentro, Piedade, Cascadura, Penha Circular, Benfica — apregoando que todos pusessem para fora seus mortos (Bring out your deads!). Bonde e reboques cheios de caixões empilhados e de amortalhados em lençóis, o motorneiro solitário batia para o Caju. O dia já ia alto mas ele voltava a nove pontos, varejava Laranjeiras, Flamengo, Botafogo, Jardim Botânico, Ipanema, Copacabana — pegando mais defuntos. Lotava. Já noite, passava a sinistra composição como o Trem Fantasma ou o navio de Drácula — entupida de carga para o São João Batista.
(…)
Um ou outro passante andando como se estivesse fugindo e trazendo no rosto a expressão das figuras dos quadros de Edvard Munch: Angst. Isso mesmo, angústia: faces de terror, crispações de pânico, vultos de luto correndo, pirando, dando o fora e, no fundo, um céu vangogue sangue ocre. Só que para quem viveu aqueles tempos — sua lembrança não vem com nenhuma cor viva como as daquela tela. Nenhuma tinta matinal, diazul, púrpura crepúsculo, prata luar — tudo é dum cinza pulverulento, dum roxo podre, poente de chuva, saimento, marcha fúnebre, viscosidade e catarro.”
Também belo, mas lúgubre, não? É o nosso Nava costumeiro. E aquele 1918? Pânico, mortes, boatos, médicos exaustos e com opiniões distintas…. “Ainda somos os mesmos/ E vivemos/ Como os nossos pais”, eu diria. Mas… passou. Passou e o Rio de Janeiro, centro pulsante do país, foi à forra, em 1919, num Carnaval eufórico, arrebatado, orgíaco…. Os sobreviventes celebraram a vida. Ruy Castro, em “Metrópole À Beira-Mar: O Rio Moderno dos Anos 20”, nos dá a dimensão da farra: “Na Quarta-Feira de Cinzas, o Rio despertou convicto de que vivera o maior Carnaval de sua história. Exceto pelos punguistas de sempre, pelos comas alcoólicos e pelos corações partidos, tudo correra bem — só nove meses depois se saberia a enorme quantidade de ‘filhos do Carnaval’, gerados naquele período”.