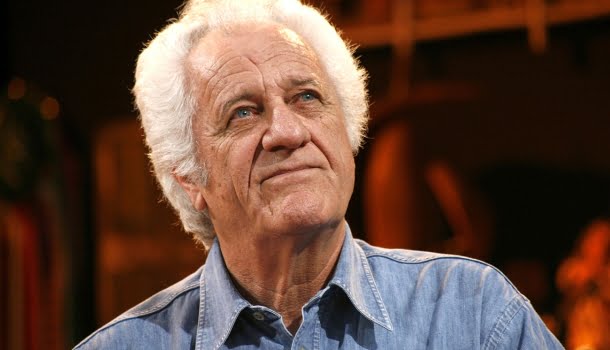Já disse anteriormente que nunca fui exatamente um homem de cinema. Confessei e reescrevo aqui: para mim, os melhores anos das nossas vidas não são aqueles passados numa sala escura com projetor. Gosto mais de certas cenas — sempre revistas — que propriamente de filmes completos. São muitas, são muitas. Aquela dos beijos excluídos de filmes em “Cinema Paradiso” (ao que me consta, atualmente considerada kitsch). O tango em “Perfume de Mulher” e o duelo entre Lee Marvin e James Stewart em “O Homem que Matou o Facínora”. Do mesmo filme, a cena em que John Wayne conta ao iludido Jimmy Stewart que foi ele quem matou Liberty Valance: “Assassinato a sangue-frio. Posso viver com isso”. A famosa porta dando para o deserto em “Rastros de Ódio”, quase uma pintura a óleo. A abertura de “Patton”, claro, que de gente doida eu entendo. O reencontro do casal em “Paris, Texas”. A cena final de “Reflexos da Inocência”, uma mistura de passado e presente ao som de “If There Is Something”, clássico do rock da banda Roxy Music, triste, triste e ainda assim nos enchendo com um quê de urgência de viver. Aquela vingança de Tom Hanks contra Paul Newman em “Estrada Para a Perdição”, Newman paralisado enquanto os seus capangas morrem um a um. O que mais? Ah, também a despedida do herói em “Os Brutos Também Amam”: a mulher que Shane ama (em silêncio, como deve ser a paixão dos fortes) pergunta-lhe se nunca mais o irá ver e ouve como resposta um adequado “Nunca é tempo demais”. Muitas cenas de atores e atrizes que aprecio, como Robert Duvall, Al Pacino, Vanessa Redgrave, Audrey Hepburn, Tommy Lee Jones, Peter Sellers, Jack Nicholson, Toni Servillo. Alguma coisa de Almodóvar, outras de Juan José Campanella. Com certeza, também muitas cenas de westerns e de filmes de guerra, dos clássicos, aqueles sem preocupações sociais — mas onde estais, westerns de outrora? Bem, é isto: os cinéfilos leitores, acredito, já pegaram o espírito da coisa — algumas tomadas especiais, poucos filmes inteiros.
Portanto, sou, pobre de mim, um ignorantão no assunto, o que me faz classificar o que vejo nas categorias “gostei” e “não gostei”. Contudo, também sou humilde e já tentei curar a minha ignorância comprando um livro qualquer sobre cinema; ávido para me desasnar, abri-o e logo li: “24 imagens filmográficas representam um segundo de duração filmofânica e podem representar vários anos de duração diegética”. Não deu. Assim, estupefato e contrafeito, admiti então que a minha ignorância sobre o tema sempre terá vários anos de duração diegética.
E por que escrevo tudo isto? Para dizer que um filme entrou na categoria “gostei”, subgênero “gostei muito e até recomendo”. O negócio é o seguinte: praticamente não me abalo da minha casa para ir a cinemas, mas acabei, quase por acidente, numa sala escura vendo “O Filme da Minha Vida”, dirigido por Selton Mello. Festa estranha com gente esquisita. Tudo o que costuma me afastar dessa atividade estava lá para ser enfrentado, gente falando ao telefone, comendo sanduíches gigantescos e tirando os sapatos, mas, reconheço, valeu o esforço. Fui, vi e venci.
Venci principalmente o meu preconceito contra filmes brasileiros. Há uma tendência, digamos, lítero-musical-cinematográfica brasileira de tratar a arte como instrumento de crítica a burgueses feios, nojentos e maldosos, vertente quase tão obrigatória quanto chifre em música sertaneja e bolinação em funk, disso derivando certa estetização do caipirismo e mesmo algum louvor à pobreza pelo simples fato de ser pobreza. Não é preconceito de classe, garanto, e sim contra os temas recorrentes e as leituras enviesadas de gente que ainda está em 1968, bem ali na beira da estrada, pedindo carona para voltar de Woodstock. Vocês sabem: cinema e literatura do tipo caminhando-e-cantando-e-seguindo-a-canção e música quem-mora-lá-no-morro-mora-pertinho-do-céu. E tudo vindo de escritores e cineastas ortodoxos anunciando ao mundo falsas heterodoxias — nada mais velho que aquela lenga-lenga de “subversão da narrativa”, por exemplo. Contar de novo uma história com toques idiossincráticos do diretor, eis a verdadeira audácia. Ou, dito de outro modo, gente normal vivendo aventuras surpreendentes, eu diria, e não gente surpreendente vivendo aventuras normais — notem, aliás, como uns draminhas burgueses fizeram bem ao cinema argentino, que conseguiu trilhar um caminho próprio sem essa repetição temática e sem partir para as variações cinema-como-divisão-da-indústria-de-explosivos ou cinema-feito-por-diretor-que-se-acredita-filósofo (muitos hífens, bem sei, mas fica assim mesmo). Exagero? Pois vejam: “Que Horas Ela Volta?”, me diz a “Wikipedia”, “Trata dos conflitos que acontecem entre uma empregada doméstica do Brasil e seus patrões de classe média, criticando as desigualdades da sociedade brasileira”. Sobre “Aquarius”, eis o que aprendo no “AdoroCinema”: “Assim como fez em ‘O Som ao Redor’, o diretor espalha vários comentários e situações ácidas que tão bem representam a hipocrisia existente na convivência diária entre classes sociais no país”. Quod erat demonstrandum (se não sabem, antiga expressão latina significando “lacrou”.)

Ao filme, então. Antes, contudo, uma explicação: por “Selton Mello” entenda-se “diretor mais os responsáveis pela fotografia, trilha sonora, edição etc. etc. etc.”. O fato é que não sei bem quais são todas as funções de um diretor de cinema, e desde que a turma dos “Cahiers du Cinéma” inventou o tal “cinema de autor” a vida de gente ignorante como eu ficou mais fácil. Adiante.
A trama é relativamente simples, baseada num livro do chileno Antonio Skármeta (que até aparece brevemente no filme), mas tem lá as suas camadas se a descascarmos. Na superfície: Tony Terranova volta à sua cidade, no Sul do Brasil, no mesmo dia em que seu pai francês abandona a família; Tony vai ter de lidar com essa perda enquanto amadurece; algum conflito será então necessário para fechar a história. Já um pouco mais abaixo da epiderme, foi jogado um verniz de nostalgia, melancolia, saudade, amor, ritos de passagem, hormônios em ebulição moderada, essas coisas que conhecemos desde os gregos — um blend que tem sido testado e aprovado há muito tempo e mais uma vez funcionou.
Se o plot (percebi que críticos gostam de falar “plot”) não tem complicações de monta, onde então está o busílis, onde fica a rebimboca da parafuseta que comprova mais uma vez que, se tudo já foi dito, o negócio é o diretor dizer de novo e com ênfase nas suas idiossincrasias? Ora, a beleza da coisa toda, estetas leitores. “Só a beleza salvará o mundo”, escreveu Dostoiévski, e o próprio Selton lembrou essa frase do nosso perene russo em alguma entrevista. Sim, sim, deixemo-nos salvar. Há, aliás, um conceito em arte e design de interiores, muito desenvolvido pelo italiano Mario Praz (leiam, leiam “La Casa della Vita”, “The House of Life” na versão em inglês, espécie de autobiografia de Praz na forma de passeio pelo seu apartamento), de “horror vacui”, horror ao vazio, aquela ânsia de não deixar espaços vagos em quadros e ambientes. Selton sofre ligeiramente de horror ao vazio, eis o meu diagnóstico: vendo o filme, é preciso estar atento aos muitos detalhes com que ele preenche a sua pintura.
O resultado desse horror vacui de Mello é um espetáculo de beleza: a paisagem, as mulheres (Bruna Linzmeyer!), a música, a fotografia em tons pastel e vermelhos (ou “tons pastéis”, como li em muitas críticas — gente que escreve assim com certeza usa “camisas salmões” e “sapatos caramelos”, imagino), tudo nos enche os olhos. Sente-se em cada quadro a ourivesaria de Selton Mello. E, eu ouso dizer, a interação entre música, fotografia e trama calculada minuciosamente me lembra o Tarantino de “Kill Bill” (a Igreja de São Quentin com certeza me excomungará por heresia ou apostasia por causa dessa comparação). É arrebatador, tudo muito belo e coisa e tal, mas sabemos que o mundo é cheio de gente chata que demanda propósito em tudo, donde aposto a minha coleção de filmes do Almodóvar que haverá acusações de esteticismo exagerado ou gratuito. (Fui às críticas e, sim, houve — e, a propósito, “direção precisa”, “direção irregular”, “arco da personagem que não fecha”, “colírio para os olhos”, “soco no estômago” e “ator que se entrega” são termos obrigatórios do jargão técnico? Imagino que sim, dada a frequência com que são usados. Como o filme não é americano, ao menos não li “american dream tornado pesadelo”.) Voltando à vaca fria do esteticismo: besteira, besteira, rematada besteira. Para usar a frase-meme das redes sociais, se não for pra ver espetáculo assim eu nem saio de casa.
Acomode-se na poltrona, ansioso leitor. A paisagem — note a bruma — logo tomará de assalto a tela. As mulheres — note a Bruna — logo tomarão de assalto o incauto espectador. Resta-me, então, falar da trilha musical, que é de tirar coró de goiaba, e música em filme é como aroma em vinho: a gente se enche de sensações e crê erroneamente que elas vêm só do sabor (no caso, das imagens). Sabor/aroma e imagem/música são unidades duais, não nos esqueçamos. Há muita música francesa, por motivos óbvios, Tony é professor de francês e seu pai veio da França, com destaque para Charles Aznavour — Aznavour cantando qualquer canção é coisa que figura na minha lista dos grandes feitos da humanidade, muito próxima dos dribles de Garrincha e de Churchill discursando e vencendo a Segunda Guerra; se a canção for “Hier Encore”, obrigatoriamente cairá um cisco aqui no olho. Mas há também “Comme d’Habitude”, com Claude François (a “My Way” original), e até Sérgio Reis, na sua esquecida versão jovem guarda, comparecendo com “Coração de Papel”, além de Nina Simone, Françoise Hardy e trechos da ópera “Carmen”, de Bizet. Dica para os responsáveis por trilhas sonoras: Aznavour é obrigatório. Dica para os prefeitos e urbanistas franceses: todas as cidades da orgulhosa Gália merecem estátuas desse velho chansonnier.
Eu mencionei que li alguma coisa sobre o filme depois de o ver? Sim, mencionei. A crítica. Ah, a crítica. “É a economia, estúpido” foi o mote da campanha à presidência de Bill Clinton contra Bush pai, uma forma de mudar o rumo da prosa eleitoral, que Bush teimava em encaminhar para o sucesso da Guerra do Golfo. Ora, depois de uma vista-d’olhos nas críticas, pensei em berrar “É o tempo, estúpido!”. Tempo, meus apressados amigos, é do que trata o filme. Tempo, memória, à la recherche du temps perdu, carpe diem, o passado é um país estrangeiro, matamos o tempo e o tempo nos mata and so on. Ocorre que quase todos os críticos dos grandes jornais e revistas curiosamente trotaram sobre isso sem desviar a vista (Luiz Carlos Merten mencionou, no “Estadão”, a memória, mas apenas para citar uma fala do próprio Selton Mello); já os youtubers, categoria à qual fui agora apresentado, parecem crer que crítica de cinema se resume a fazer a sinopse da trama. Assisti a umas cinco ou seis dessas críticas no YouTube, mas ficou tudo muito enevoado na minha mente, como se eu tivesse visto apenas uma, tudo se misturando nas minhas fracas células cinzentas; recordo, contudo, que havia vozes estridentes, frases com anacolutos, pôsteres de cartazes de filmes ao fundo… Coisas lá ouvidas me assombram desde então, pois la bêtise n’est pas mon fort: “crescimento enquanto pessoa”, “os takes do Selton Mello… cara, cês têm de ver o filme… os takes… o Massaro, sabe, é tipo assim um ator fodástico…”, “nós enquanto plateia”, “os campos ali, o verde ali, tudo é muito Sul do país”, “tem trem no filme, trem é charmosíssimo”, “é um filme mais pro drama”, “a cidade natal do Tony fica numa cidade chamada Remanso”, “o trem é uma metáfora de um veículo que leva a gente para algum lugar”. Crede-me vós, céticos leitores, eu nada inventei, buscai no YouTube e encontrareis essas cositas. Espantei-me também com o detalhismo desse pessoal; elogiam bastante o filme mas logo se recompõem, que é pro Selton não ficar se achando muito, e criticam o criado-mudo fora de foco ou os 0,0003 segundos de diferença entre o movimento de boca dos atores e o som da fala. É pra cabá cos pequi do Goiás, como dizemos, com artigo mesmo, aqui no cerrado. Nós nos esfalfamos e eles ganham dinheiro assim? Isso pode, Arnaldo?
Mas me perdi. Ah, o tempo. Notei esses signos durante toda a fita, como dizíamos na minha juventude (“hier encore j’avais vingt ans”) e me cri um tanto doido ou imaginativo; veio, porém, um eureca salvador quando li a crítica, certeira, bem escrita e redentora do bom nome da crítica nacional, pois o homem viu o que vi (“um tal” porque, confesso, jamais ouvira falar dele — como ele tampouco deve ter ouvido falar de mim, empatamos). Bem sei que isso, antes de ser prova da minha inteligência especial, é muito mais comprovação do emburrecimento nacional que se dá, tal como a nossa anistia, de modo amplo, geral e irrestrito. Ver o que deve ser visto não é motivo de vaidade; as pistas, afinal, foram fartas, e é a miopia coletiva que sói ser indefectível. Há closes (close é o termo certo?) de relógios, a personagem Luna se questiona sobre o tempo, ao menos três das canções falam da passagem dos anos (“Hier Encore”, “Comme d’Habitude” e “Voilà”), o maquinista do trem (participação afetiva, por assim dizer, de Rolandro Boldrin e seus minúsculos olhos) parece ser o “maquinista do tempo”, digamos, e, em certo sentido, da própria história (o que fica evidente quando ele diz, não exatamente com estas palavras, que a sua profissão é levar pessoas para resolver problemas e que jamais se pode ser afoito para partir com o trem, caso contrário o bicho descarrila). Mais óbvio que o óbvio ululante do Nelson — e, sobre isso, insisto, quase nadica de nada, e notem que houve crítica falando do “machismo” do filme (onde, mon Dieu, onde?), da sua “mensagem duvidosa” (qual seria, a de que às vezes problemas se resolvem?) e do “arco de amadurecimento prejudicado pelo final” (falam mais em “arco” que índio ainda não aculturado; creio que “narrativa” e “história” sejam agora palavras que fedem a naftalina). Li até que o filme tem lá a sua carga de “crítica à sociedade patriarcal” (boquiabro-me!). Rezarei a Deus para que perdoe aqueles que veem filmes com o seu “Das Kapital” à mão: perdoai-os, Senhor, apesar de eles saberem o que fazem.
Evidentemente, o pai do protagonista reaparecerá. Tranquilizem-se: o segredo do filme é outro, e o ressurgimento do pai só é spoiler para quem não sabe que em “Rio Vermelho”, western de 1948 mencionado de modo recorrente no filme, há um conflito entre pai e filho (John Wayne e Montgomery Clift) — Tony o vê mais de uma vez, sonha com ele e até narra a trama a alguém —; do mesmo modo, quem conhece a “jornada do herói” de Joseph Campbell, que influenciou 11 em cada dez roteiristas, também sabe de antemão que o pai terá de voltar (na jornada, o herói recebe o chamado da aventura, demora a aceitar o desafio, passa por provações, sobrepõe-se aos seus medos e ganha uma recompensa, em resumo resumidíssimo). É isto: o pai ressurge, as peças se encaixam razoavelmente bem e saímos do cinema com a sensação de coisa resolvida, de cheque compensado e hipoteca resgatada. E o que diz, mais uma vez, parte da crítica? Final feliz? Não pode, não pode. Essa gente vive com a avó atrás do toco, é fato; inventou-se até uma categoria de filme, “feel-good movie”, que nós outros não temos o direito de ver ou não podemos apreciar porque a vida neste nosso vale de lágrimas é feia, muito feia. Claro que é, mas existem aqueles poucos momentos que compensam tudo e talvez a arte ainda os possa retratar, não? Suportamos muitas agonias na nossa determinação de não sofrer nesta vida, e sempre querem nos roubar essas poucas e fugazes alegrias? Esquecem-se, os fariseus, daquela regrinha básica da boa crítica de antigamente: crítica serve para dizer o que o artista fez, nunca para ensiná-lo a fazer. (Eu, que sou um homem de fé, acredito piamente na divisão de trabalhos: Selton Mello dirige o filme e não o critica; os críticos o criticam mas não o dirigem; o degas aqui o vê e comenta as sensações que teve sem jamais, jamais pensar que o possa dirigir ou criticar profissionalmente.) Mais uma vez não exagero — querem ver como a coisa é grave? Juro por São John Ford que vi uma moça com alegadas credenciais acadêmicas — pós-graduação em cinema na Inglaterra — gastar dez minutos para dizer apenas que “teve um problema com o final”. Selton Mello, contrate a jovem como roteirista que a sua vida entra nos eixos, rapaz!
Perdi-me novamente. Eu falava de críticos chatos, não? Bem, tanto faz. Da minha parte, ali, vendo sozinho a “beleza que salvará o mundo”, quase flutuei, à moda do próprio Tony nos seus momentos de êxtase, e certamente me lembrei, como na letra de “Hier Encore” e das outras canções do filme, de que ainda ontem eu tinha vinte anos e acariciava o tempo, havia as primeiras Brunas, o meu pai me ensinou a andar de bicicleta, alimentei tantas esperanças que bateram asas, só fiz correr e me esfalfar e hoje sei, ai de mim, que le temps passe plus mal que bien. Destrancou-se o baú onde estava tudo isso, os olhos agora procuram o céu (le coeur mis en terre, porém). J’ai perdu mon temps à faire des follies; comme d’habitude, enfin je vais vivre et puis le jour s’en ira.
A propósito e sem propósito, outro dia revi “Clamor do Sexo”, clássico de 1961; esse criminoso título em português esconde algo importante que há no original, “Splendour in the Grass”, expressão tomada ao poeta romântico inglês William Wordsworth, da sua ode “Intimations of Imortality from Recollections of Early Childhood”: “Though nothing can bring back the hour / Of splendour in the grass, of glory in the flower; / We will grieve not, rather find / Strength in what remains behind; / In the primal sympathy / Which having been must ever be; / In the soothing thoughts that spring / Out of human suffering; / In the faith that looks through death, / In years that bring the philosophic mind”. Talvez sejam os mais belos versos já escritos sobre a obrigação adulta de se entender com o passado (Wordsworth rimou “hour” com “flower!), e o que o nosso protagonista Tony Terranova faz é de certo modo encontrar “strength in what remais behind”. “Toca os teus caminhos, guri” é o que ele sempre ouve do seu amigo Paco, interpretado pelo próprio Selton Mello, como incentivo para se livrar da memória do pai. Pois toquemos os nossos caminhos, guris e gurias que me leem.
Pois é: por conta e graça de Selton Mello, habemus cinema. Tive até vontade de gritar, ao fim do filme, “O autor, o autor!”, como se gritava antigamente no teatro quando a peça excedia as expectativas. Contive-me, mas aqui me redimo desta fraqueza: bravo, Selton, bravo!