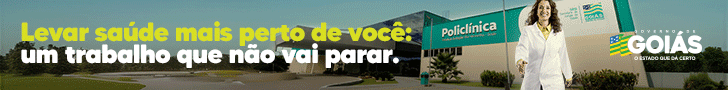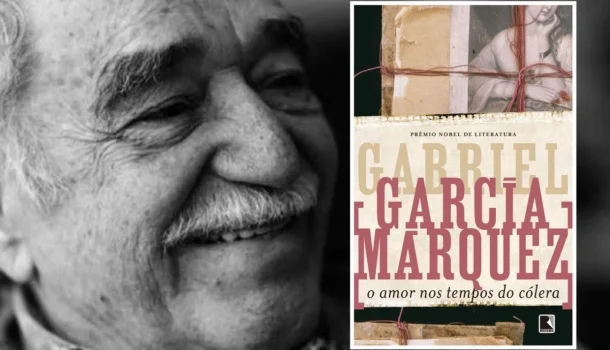Descontada a singularidade de “O Outono do Patriarca” — influência mais direta de William Faulkner? —, talvez “O Amor nos Tempos do Cólera” (1985) seja o livro mais importante de Gabriel García Márquez, depois do consagradíssimo “Cem Anos de Solidão”. Capítulos inteiros do livro deixam em nós fortes impressões, seja a amizade de Juvenal Urbino pelo antilhano Jeremiah de Saint-Amour, seja a própria história de amor do médico sanitarista com o centro feminino da narrativa: Fermina Daza. Autêntica fortaleza de ânimo e de caráter, Fermina é objeto de disputa entre dois homens completamente diferentes entre si. Mas o que mais conta, apesar da força do primeiro amor — relação que perdura quase o livro inteiro —, é a história maluca do protagonista para conquistá-la. Mesmo depois de casada.
Juvenal começa ganhando o jogo por algumas razões: primeiro, conquista a simpatia do velho e ambicioso Lorenzo Daza, pai da moça. Segundo, o próprio Juvenal é uma figura solar, racional e muita bem-sucedida social e economicamente, em total contraste com a personalidade doentia de seu rival. Florentino Ariza é um poeta lúgubre, romântico nos moldes dos românticos da segunda metade do século 19, quando tem lugar metade dos acontecimentos narrados. Fermina só não o esquece, talvez, por influência de uma prima solteira do interior, Hidelbranda, cujo fogo insatisfeito se espelha nas maluquices daquele desesperado poeta. Entre outros disparates febris, o rapaz é capaz de escrever “cartas” de amor de mais de 60 páginas para a adolescente assustada (eles se conhecem da infância). Temos, em perspectiva, a sorte de enxergá-lo pela ótica de um escritor de final do século 20. Reside neste fato sua salvação para nossa memória.
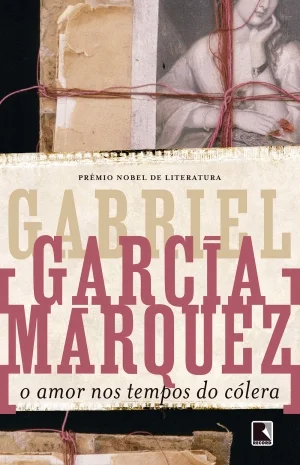
Se Márquez escrevesse a mesma história com o espírito doentio daquele século 19 romântico, a coisa desandaria. Seria tão lacrimosa e chata que não suportaríamos o tal Florentino Ariza, como em alguns momentos mal suportamos o Paulo, de “Lucíola”, em José de Alencar. Porém o suportamos, porque o temos sob as lentes de um realista distanciado mais de uma geração dos acontecimentos. É tempo bastante para que fosse concebido sob luzes menos graves, e seus sentimentos como mais uma ilusão de amor desmistificada. Se suportamos as desventuras de Florentino é, portanto, por causa do irônico deboche do seu autor, cujo feito é tornar seu personagem tão divertido: “Foi essa a época em que cedeu aos ímpetos de comer as gardênias que Trânsito Ariza cultivava nos canteiros do pátio, e desse modo conhecer o sabor de Fermina Daza. Foi também a época em que encontrou por acaso num baú de sua mãe um frasco de um litro da água-de-colônia que vendiam de contrabando os marinheiros da Hamburg American Line e não resistiu à tentação de prová-la para buscar outros sabores da mulher amada”.
Censuramos tais loucuras de amor, mas gostamos sinceramente de Florentino Ariza como se gosta de um amigo maluco, mas do bem. Ele é surpreendente em sua evolução, tendo inventariado nada menos que 622 “amores continuados”, sem contar os fugazes. Casto ele já não é, a essa altura, mas absolutamente libertino. Bastou conhecer Rosalba (supõe!), e depois a viúva de Nazeret, para descobrir a estupidez dos amores virginais. O romantismo lúgubre atenua-se para dar lugar ao amor mundano, que o mantém vivo, mitiga seus ciúmes da amada (casada com o magnânimo Juvenal Urbino de la Cale até a morte do médico) e o faz suportar cinco décadas de espera. Cinquenta e um anos, nove meses e quatro dias, para sermos exatos. Fantástico!
Florentino Ariza é um Quixote sem espada e morrião: tanto quanto o cavaleiro de Cervantes, vive um amor idealizado e platônico, curtido em leituras obsessivas, não menos patético ou disposto a façanhas legendárias em nome de sua própria Dulcineia del Toboso. Pois o que seria o plano de resgatar o galeão San José do fundo do mar com suas riquezas, apoiado apenas por um menino de 12 anos de idade (Euclides), senão uma alucinação digna dos moinhos de vento concebidos pelo cavaleiro da Mancha? Florentino Ariza é um personagem picaresco, como expõe aquele trecho que diz possuir “um ar de cachorro batido, cuja indumentária de rabino caído em desgraça e cujas maneiras solenes não podiam alterar o coração de ninguém”. E este outro: “todo aquele que atravessou em seu caminho sofreu as consequências de uma determinação arrasadora, capaz de qualquer coisa, por trás de uma aparência desvalida”. São ecos de Cervantes.
Diante disso, ninguém suspeitaria que haja em “O Amor nos Tempos do Cólera” ecos também de Tchekhov. Mas há. Uma das cenas seminais do livro — justamente o rito de iniciação sexual e consequente amadurecimento sentimental de Florentino — é aquela em que nosso herói, certa noite, é desvirginado por uma mulher desconhecida que ele supõe ser, de três possibilidades, a tal Rosalba. Florentino chega a tratar o fato como “revelação”, tão determinante que é para o seu destino: “Certa noite em que interrompeu a leitura mais cedo que de costume, dirigia-se distraído para as privadas quando uma porta se abriu ao passar ele pelo refeitório deserto, e uma mão de falcão o agarrou pela manga de camisa e o fechou num camarote. Mal chegou a sentir o corpo sem idade de uma mulher nua nas trevas, empapada em suor quente e com a respiração ofegante, que o empurrou de barriga para cima no beliche, lhe abriu a fivela do cinturão, soltou os botões e se desmembrou toda, acavalada em cima dele, e o despojou sem glória da virgindade”.
Florentino muda completamente depois desse acontecimento, e com ele o livro em que é protagonista, descansado enfim daquela assombração pueril, padecendo a malaise de um Álvares de Azevedo. Pois bem: a origem dessa cena parece ser “O Beijo”, um dos contos mais célebres de Tchekhov. Lá existe um acaso que expõe o soldado Riábovich a “uma pequena aventura”, que lhe sucede ao atravessar dois ambientes em trevas numa mansão em festas: “Nesse ínterim, inesperadamente para ele, ouviram-se passos apressados e um frufru de vestido, uma ofegante voz feminina murmurou: ‘Até que enfim!’, e dois braços macios, cheirosos, indiscutivelmente femininos, envolveram-lhe o pescoço; uma face tépida apertou-se contra a sua e, ao mesmo tempo, ressoou um beijo”.
Tanto num caso como no outro, não se sabe quem foi a mulher, e tanto em um quanto no outro, também, assistimos ao momento que transfigura para sempre a vida do personagem. São travessias simbólicas. A diferença sutil e muito engraçada é que enquanto o quarto de Riábovich tem o olor de “choupos, lilases e rosas”, o camarote em que Florentino e sua amante rolam no escuro tem o cheiro de um “alagado de camarões”. Até então, Florentino teimava em não manter relações com as putas oferecidas pelo tio Lotário Thugut, pois “era virgem, e havia proposto a si mesmo não deixar de sê-lo, se não fosse por amor”. Bem, pelo menos até provar a carne. Nunca mais se contentaria em comer gardênias e beber perfumes para, deste modo, contentar-se com o sabor de uma mulher. “No auge do gozo tinha tido uma revelação na qual não podia acreditar, que se negava mesmo a admitir, e era que o amor ilusório de Fermina Daza podia ser substituído por uma paixão terrena.”
Feita essa transição vital para o homem adulto, Florentino torna-se um empresário de sucesso no ramo fluvial e está pronto para continuar sua façanha: roubar Fermina do não menos bem-sucedido dr. Juvenal Urbino. O sanitarista é personalidade do mundo científico e cultural de São João da Ciénaga, com inúmeros títulos e um fenomenal legado cívico para a cidade portuária. A quem (é claro!) deseja a morte. O que no momento certo decorre — pois a saúde do velho octogenário é de ferro — das traquinagens de um louro de criação.
Se o “O Amor nos Tempos do Cólera” possui menos crédito do que “Cem Anos de Solidão”, é porque aprendemos a esperar do escritor colombiano histórias recheadas de coisas absurdas, como fizera naquela obra em que criara certamente mais dificuldades para seus leitores. A dupla latino-americano formada por Mário Vargas Llosa e Gabriel García Márquez anunciava-se ao mundo no final dos anos 1960, e o último exporia uma nova faceta do realismo mágico-fantástico iniciado por Alejo Carpentier e Jorge Luis Borges em décadas anteriores. Segundo este critério, o último livro do escritor colombiano sobressai — de longe —, àquele outro, embora seja mais cansativo em muitos pontos, talvez porque nem todas as biografias desfraldadas ali nos interessem tanto.
Em termos comparativos, o romance de Florentino Ariza tem muito pouco de fantástico, exceto certas imagens pontuadas no texto, longe da devoção de um Borges por mundos inteiramente concebidos, ou mesmo da essência onírica do clã dos Buendía. Largas passagens da narrativa lembram apenas aquilo que o olhar europeu a nosso respeito classificaria de “exótico”. Ou seja, o colorido, a sensualidade e a malemolência que a sociologia de Gilberto Freyre descreve tão bem em “Casa Grande e Senzala”, ao interpretar a porção portuguesa do continente sul-americano, em seu intercâmbio com nativos e africanos.
É fácil ler certas páginas de “O Amor nos Tempos do Cólera” e recordar a sociologia vazada de literariedade de Gilberto. A comparação é justa, quando Márquez se põe a descrever as condições sanitárias da cidade portuária onde vivem seus personagens, São João da Ciénaga, e o impacto social dos lixões e cloacas espanholas: condições perfeitas para a disseminação do cólera morbo, doença que justifica a profissão de Juvenal Urbino. Talvez seja este o trecho mais precioso com características de ensaísmo, do romance. O contexto da obra, quase inteiramente real, inclui um surto virótico que dizimou em torno de mil pessoas na Colômbia, entre 1849 e 1850, misturando-se à calamidade sanitária — que “causara em onze semanas a maior mortandade em nossa história” — ecos de uma guerra civil, entre caudilhos.
O romance de Florentino Ariza e Fermina Daza só não é mais realista por causa da fantástica persistência do protagonista. Já a história dos Buendía só não é mais fantástica (ou mais mágica) devido às intromissões do real, que o perpassam como a luz que atravessa as persianas de um sonho. Unifica-os indissoluvelmente o estilo poderoso de Márquez, no qual uma frase é recorrente — “a salvo”, seja dos estragos da memória, seja de qualquer outra coisa. A característica mais recorrente — está-se falando do estilo de Márquez — é a frase composta, com advérbio de negação seguido de conjunção adversativa, como “não” “e sim”, “não” “e mas” e assim por diante, criando para a literatura uma musicalidade pessoalíssima, de inesquecível beleza. Um exemplo singelo, pinçado nos confins de “O Amor nos Tempos do Cólera”: “Durante a noite não eram despertados pelos cantos de sereias dos peixes-bois nas pontas de areia, e sim pela baforada nauseabunda dos mortos que passavam boiando rumo ao mar”.
E ainda este outro, sintomático nos dias que correm no Brasil, onde uma pandemia sob sinais trocados dos governantes aumenta o número de óbitos: “E nunca se soube o número de suas vítimas, não porque fosse impossível estabelecê-lo, e sim porque uma de nossas virtudes corriqueiras era o pudor das próprias desgraças”.
Sobretudo, trata-se de um romance elegíaco sobre a persistência do amor e suas possibilidades na velhice. É tarde para o sexo: Florentino Ariza jamais o desfrutou nem desfrutará com intensidade, ao lado da mulher que mais amou na vida. Os dois finalmente reconciliam-se, depois que desaparece um fantasma para dar lugar a um homem capaz de oferecer-lhe a coisa mais importante para uma mulher daqueles tempos: segurança. Quando reinicia suas investidas, “se revelava um Florentino desconhecido, com uma clarividência que não correspondia às missivas febris da juventude nem á sua conduta sombria da vida inteira”. Fermina Daza está com 72 anos e ele com 76. Depois de alguns recatados encontros de reaproximação, ambos se trancam num navio de propriedade de Florentino, tendo por companhia apenas o capitão, ao leme. A viagem final pelo Rio Madalena — rio da vida em direção ao desconhecido — não é nada menos que essa canção elegíaca.
“O Amor nos Tempos do Cólera” possui certa ternura de um quadro de Marc Chagall, com que também possui notáveis semelhanças. Parece nutri-los a mesma afeição. Este é um livro milagroso, mas as imagens que unem Gabriel García Márquez ao pintor serão melhor observadas em “Cem Anos de Solidão”, obra “revolucionária” (como disse Giulio Carlo Argan a respeito do pintor surrealista), sem abrir mão do “populismo”, pois sabe que “a fonte da linguagem não é a lógica, mas a imaginação”.