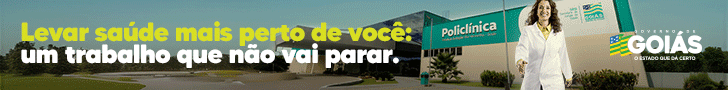Não poucos estudiosos acreditam que a língua de Shakespeare produziu a maior das literaturas. Não vem ao caso discutir a procedência deste julgamento. Mas é certo que, indiscutivelmente, dois dos maiores escritores do último século, são o inglês Ian McEwan e o norte-americano Philip Roth, que morreu em 2018. Não terem ganhado o prêmio Nobel é apenas um detalhe que deporia contra o prestígio da academia. São dois magistrais romancistas, gênero por excelência de sua arte. E são igualmente profícuos: escreveram livros e mais livros, um atrás do outro. É de dar inveja a quem escreve.
A inveja, no caso, advém não apenas da capacidade de criar tanto, mas sobretudo de criar de uma maneira esplêndida, formidável. Se há algo em comum, que os une e caracteriza, é o realismo. Não por certo o realismo do século 19, mas ainda assim o realismo, que não envelhece, apenas se transforma.
A assertiva faz sentido. Comecemos por Roth, diante de um “devaneio”, de David Kepesh, personagem central de “O Professor do Desejo”. A certa altura, a “aula introdutória” que redige para seus alunos ensina, na verdade, seu credo estético para possíveis escritores que o leem, ao dizer assim: “Sugiro isso na esperança de que, se falarem sobre ‘Madame Bovary’ com as mesmas palavras que usam com o dono da mercearia ou com sua namorada, estarão criando uma relação com Flaubert e sua heroína íntima, mais interessante e até mesmo mais referencial”. Isto é realismo.
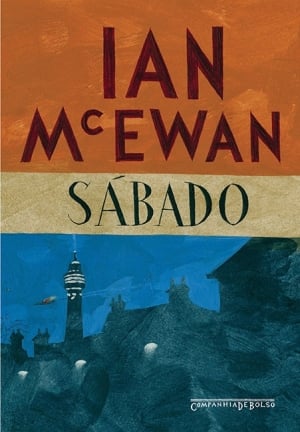
Agora conheçamos o credo de McEwan. Em “Sábado”, sobre o personagem Henry Perowne: “Sonhos não lhe interessam; a possibilidade de que isso seja real é mais rica”. Ora, isso não é apenas a idiossincrasia de Perowne, senão a crença estética de seu criador.
Porque em outro livro, “Serena”, McEwan descarta abertamente a literatura fantástica dos latino-americanos para tomar outro partido. Chega a citar nominalmente Borges e Cortázar para em seguida vocalizar, por meio da personagem principal (simulacro de suas opiniões), que “O que me fazia falta era um realismo ingênuo. Eu prestava uma atenção especial, espichava o meu pescocinho de leitora, toda vez que aparecia uma rua de Londres que eu conhecia, ou um certo tipo de vestido, uma pessoa pública real, até uma marca de carro. Era aí, eu pensava, que eu tinha uma régua, que eu podia avaliar a qualidade da escrita pela sua precisão, pela medida em que ela correspondia às minhas próprias impressões, ou era melhor que elas”. E continua por um parágrafo inteiro defendendo tal ponto de vista, na verdade um programa estético.
A consciência de ofício, metatextual, é básica na formação dos grandes ficcionistas, aplicada metodicamente quando, por exemplo, Briony Tallis, protagonista de “Reparação”, chega para visitar a irmã Cecília em seu apartamento, nos subúrbios de Londres. Ao subir as escadas Briony nota que “No terceiro degrau faltava a vareta de latão que prendia o carpete”. McEwan não precisava dessa frase senão para marcar posição, para ser “melhor que as próprias impressões”. Lembra-nos a precisão descritiva com que Flaubert descreve o gorro de Carlos, em “Madame Bovary”.
Por causa desse realismo confesso, os marinheiros de primeira viagem de Roth e McEwan talvez não percebam as diferenças existentes entre eles. Mas quem os lê com certa frequência logo descobre que não são tão iguais, afinal. A grandeza de cada um implica o fato de serem, também (à parte às influências recebidas), dois originais, com personalidades bem diferentes entre si. Pode ser que o autor seja um ente desimportante para a literatura, mas uma obra é produto de sua idiossincrasia, que transcende a dos personagens e fica como a marca digital do conjunto.
Ler em profundidade não é a mesma coisa que ler a história que se conta. É ler o processo narrativo, a engrenagem sob a superfície. Neste sentido, valeria a pena um estudo esmiuçado que traçasse as diferenças entre os dois escritores, quando menos porque, sendo semelhantes na língua e na concepção estética, é difícil escolher qual deles é o melhor. Por certo há quem prefira McEwan e quem prefira Roth, preferência que pode decorrer do temperamento do leitor, mas que não é tão óbvia. Tentamos coligir algumas diferenças, apenas tópicas, evidentes no uso da língua e no método de concepção.
Se pudermos confiar nas traduções, se forem fiéis ao temperamento do autor e ao trato que cada um confere à língua nativa, logo se percebe as diferenças. O inglês de McEwan é mais educado, menos chulo que o de Roth. O que um tem de vulgar o outro tem de elegante: um só podia ser mesmo inglês e o outro norte-americano, quase um lord em face de um ianque livre e selvagem, como seus antepassados coloniais.
Senão, vejamos. Dificilmente McEwan escreveria a seguinte frase: “Cada garota que ele vê revela-se (segurem os chapéus) portadora, entre as pernas, de — uma pomba. Assombroso! Surpreendente! Ainda não se deu conta da fantástica ideia de que, quando se olha uma garota, olha-se alguém que com toda a certeza possui — uma pomba! Todas elas possuem pombas!”. Esta frase debochada e engraçadíssima está em “O Complexo de Portnoy”. Isso é Philip Roth no que o escritor norte-americano tem de mais autêntico e acintoso, repetindo-se com semelhante intensidade em “O Teatro de Sabbath”. É quase o seu normal. McEwan jamais seria tão cru, tão explícito.
Isso tem a ver com o feroz anticonvencionalismo de Roth, tão exaltado em “Indignação”. O anticonvencionalismo de McEwan produziu no máximo “A Praia”: uma noite inteira de lua-de-mel descrita com uma delicadeza vitoriana, sem ofensas. Seria talvez uma linguagem mais adequada à sensibilidade feminina, menos agressiva e mais sugestiva. É disso que se trata: McEwan é um escritor não apenas menos explícito mas tendenciosamente mais denso, também. Seu realismo é mais psicológico que o de Roth, ao menos quando é capaz de se deter dezenas de páginas em um único episódio, a fim de vasculhar, até exaurir, a percepção que seus personagens têm da realidade, como é o caso de Florence Pointing.
O processo é explorado até o limite em “Reparação”, quando opõe mais de um ponto de vista sobre o mesmo acontecimento: houve ou não um estupro? Quantas versões tem um “fato”, e quais os seus ângulos?
McEwan gosta de surpreender seus leitores; suas histórias são propelidas pelo suspense e, nesse sentido, possui algo de artificial. A sensação é de que seus romances são contos gigantescos, pensados antes de serem executados, verdadeiras máquinas de elaboração mental. É como se começasse pelo fim, seu grande trunfo, ao menos em “Reparação”, em “Serena” e, em menor medida, em “Solar” e em “A Praia”. O expediente usado no primeiro desses livros é idêntico ao utilizado no segundo, e não há como o leitor arguto não ficar boquiaberto até a última página, às vezes até a última linha.
Excluindo o apêndice, o cético Michael Beard se rende ao amor na última palavra de “Solar”, quando abraça o filho que deixou escapulir numa transa com a amante Melissa Browne. Diferentemente de Roth, McEwan é um autor que não se dobra à amargura: “Estou velha demais, apaixonada demais por esses farrapos de vida que ainda me restam. Tenho pela frente toda uma maré de esquecimento, e depois a anulação completa. Não tenho mais a coragem de meu pessimismo”. Daí a intenção deliberada, em “Reparação”, de assumir uma atitude vital e corrigir um erro do passado.
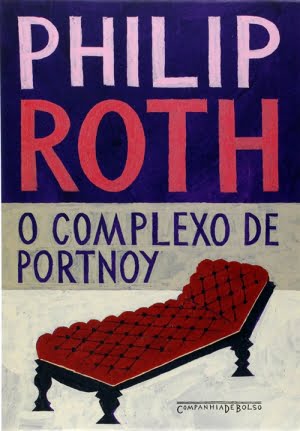
Conquanto a penetração psicológica defina “O Complexo de Portnoy”, de Philip Roth, também é verdade que as histórias narradas por ele não dão a mesma sensação de esquematismo que as de McEwan: mesmo quando o autor estabelece o final, como em “Indignação”, o fato de Marcus Messner terminar seus dias no campo de batalha é anunciado logo no começo do livro, quando o narrador se nos apresenta como morto. Pois parece que o método rothiano consiste em não ter o autor, no geral, a mínima ideia de como suas histórias vão terminar. Mais que isso, Roth parece não se interessar pelas surpresas, dispensando-as. Convence-nos antes pela mordacidade, pela causticidade muito mais intensa com que expõe seus personagens diante da vida, caso da sensual e pobre Consuela Castillo, acometida pelo câncer no auge da juventude, em “O Animal Agonizante”. Não esperem, de Roth, otimismo e esperança.
Outras diferenças entre os dois escritores naturalmente existem e poderiam ser observadas. Se em grandes momentos McEwan incorpora mulheres (Briony, Serena), Roth tem uma ideia mais ou menos fixa: David Kepesh, protagonizando vários livros. E ninguém é melhor do que ele quando o assunto é erotismo, sendo que “O Teatro de Sabbath” representa uma espécie de paroxismo dessa invencível compulsão por sexo. Roth gosta de encarnar professores se relacionando com mulheres jovens — às vezes muito mais jovens do que seus protagonistas. E há sempre uma assinatura genética: o judeu e seus costumes, e fatalmente o estigma moral, a mácula, o preconceito perpassando todos os seus livros. Além, é claro, de algo que o autor gosta muito: opor o indivíduo e seus instintos contra a opressão das instituições sociais, em especial a escola e a família (casos de “Indignação” e “A Marca Humana”).