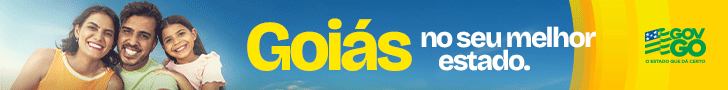Elas não morreram de amor. Tampouco por falta dele. Morrem porque o mundo as cercava como um quarto sem janelas — e o silêncio, naquele bairro ordenado de gramados milimetricamente cortados, era apenas uma forma lenta de asfixia. As cinco irmãs Lisbon nunca foram propriamente reais para os que estavam ao redor. Nem para os garotos que as observavam da casa em frente, nem para os adultos que insistiam em explicar tudo com uma razão clínica ou um sermão moral. E talvez seja essa a tragédia mais insidiosa de “As Virgens Suicidas”: não apenas a morte precoce de cinco adolescentes, mas o fato de que, em vida, elas já estavam condenadas à condição de espectro.
A crítica que recaiu sobre o romance de Jeffrey Eugenides — a de que romantizaria o suicídio ou objetificaria suas personagens sob o olhar de narradores masculinos — revela, na verdade, parte do próprio incômodo que o livro busca expor. Não há erotização nas mortes. O fetiche que existe — e ele existe — está alojado na consciência dos meninos que narram a história, já adultos, tentando reconstruir com documentos, lembranças e delírios o que nunca entenderam. Eles não têm respostas, só obsessões. E o texto, ao contrário de celebrar esse fascínio, o corrói por dentro, tornando-o incômodo, patético, até ridículo. Eles falam sobre as meninas, mas dizem mais sobre si mesmos — suas limitações, sua impotência, sua ignorância diante do feminino e da dor.
Lux, Mary, Therese, Bonnie e Cecilia são menos personagens do que lacunas. A narrativa gira em torno do que não se sabe, do que não foi dito, do que foi interrompido antes de poder florescer. Não há interioridade confiável: o leitor nunca entra verdadeiramente no coração das garotas. E isso, que poderia soar como falha, é justamente o que empresta densidade ética ao livro. Ao se recusar a colonizar a subjetividade das irmãs Lisbon, Eugenides evita uma armadilha comum: a de atribuir lógica, romance ou sentido ao suicídio. Ele se mantém na borda — olhando, escutando, mas nunca invadindo.
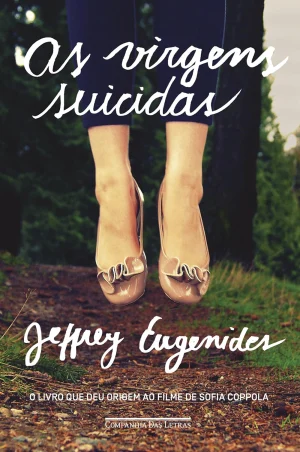
É também nesse ponto que o romance revela sua modernidade incômoda. Publicado em 1993, “As Virgens Suicidas” antecipa uma era de nostalgia analógica com verniz sepulcral. A atmosfera é de suburbanismo em decomposição — muros impecáveis escondendo ruínas domésticas, escadas rangendo sob o peso de segredos abafados, diários arrancados, cruzes improvisadas nos jardins. Tudo o que deveria ser estável, familiar e seguro — o lar, a escola, a vizinhança — se transforma em uma rede de opressões sutis, não ditas, mas profundamente corrosivas. As meninas não são vítimas de um ato isolado; são o efeito acumulado de uma cultura que exige obediência, pureza e silêncio das mulheres.
A mãe, religiosa e severa, não conversa: sentencia. O pai, passivo e ausente, escapa ao confronto. Os adultos da comunidade se refugiam em desculpas psicológicas ou chavões religiosos. E os meninos — ah, os meninos — constroem uma mitologia vazia para manter o mistério vivo, talvez porque não suportem a banalidade da verdade. Porque, no fundo, talvez saibam: as meninas não morreram por serem especiais, mas por estarem invisíveis.
A escolha narrativa de Eugenides — múltiplos homens tentando rememorar as vidas de cinco garotas — não é um artifício inofensivo. É uma armadilha para o leitor apressado. Aqueles que veem ali uma fetichização podem estar, inadvertidamente, reforçando o que o texto pretende desmontar. Pois não há catarse, nem redenção, nem beleza no desfecho. Há, sim, uma melancolia viscosa, uma sensação de perda sem consolo, como se algo essencial tivesse sido mal interpretado para sempre. O suicídio, no romance, não é glamourizado — é desfigurado pela memória e pela impotência de quem ficou.
E o olhar masculino? Sim, ele está ali — enviesado, limitado, por vezes incômodo. Mas não como glorificação: como denúncia. A obsessão dos garotos pela figura das Lisbon é reveladora de uma cultura que transforma o feminino em alegoria, em coisa, em tela para projeção. Eles não amam as garotas: amam a ideia que fizeram delas. E quando tentam montar o quebra-cabeça das mortes, o que têm nas mãos são peças repetidas, incompatíveis, falsas. O que falta — sempre — é escuta.
No fim, o romance é menos sobre as virgens do que sobre a cegueira que as cercou. Eugenides não oferece um diagnóstico, tampouco uma saída. E é nesse desconforto que o livro sobrevive — como uma ferida que nunca cicatriza porque nunca foi limpa de verdade. A escrita é lírica, por vezes etérea, mas sob essa superfície há dor e denúncia. O mundo dos Lisbon era um aquário sem oxigênio. O suicídio não é o enigma do romance; é sua sentença.
Muitos livros foram acusados de tratar temas delicados com leveza irresponsável. Este não é um deles. “As Virgens Suicidas”, não consola, não explica. Ele testemunha. E, ao fazer isso, revela a falência das explicações prontas, o ridículo das análises apressadas, a violência do silêncio institucionalizado. Talvez o romance incomode justamente por não oferecer o conforto da empatia fácil. Ele olha para o abismo e não tenta decorá-lo — apenas observa o modo como todos à sua volta fingem que ele não está lá.