Certos livros não resistem ao próprio tempo: evaporam entre as mãos, por falta de vigor ou urgência. Outros, ao contrário, não se rendem a ninguém — e por isso mesmo, permanecem. “Ardil 22”, de Joseph Heller, pertence a essa segunda espécie rara: uma obra que repele os impacientes, que esgota os voluntariosos, que exige do leitor não apenas atenção, mas entrega plena, quase uma rendição à sua lógica desconcertante. Não é, jamais foi, um livro feito para agradar. E talvez seja essa sua glória secreta. O que começa como sátira de guerra termina como labirinto existencial, encharcado de absurdo e humanidade em proporções quase indistintas, como se o riso e o desespero fossem apenas dois modos de reagir ao mesmo enigma insolúvel: a sobrevivência.
Alegar que muitos o abandonam é, de certo modo, uma forma de reconhecer sua integridade. O abandono, nesse caso, não é falha do autor — é consequência natural do atrito entre uma mente que pensa como o mundo deveria ser e um livro que mostra o mundo como é, em sua engrenagem ilógica, circular, entrópica. Não há linha reta em “Ardil 22”, e não há consolo. Há, sim, um mecanismo linguístico intrincado e deliciosamente cruel, que prende o leitor num jogo de repetições, digressões e personagens que orbitam o caos como se este fosse o único centro possível. Como Yossarian, o protagonista exausto e lúcido, o leitor é levado a desconfiar de tudo, inclusive de si mesmo — da própria leitura, da razão para tê-la começado.
Nada ali é simples. As frases se acumulam como soldados em trincheiras, aparentemente confusas, desordenadas, mas cada uma apontando para um alvo preciso: a lógica perversa da guerra, a banalidade do heroísmo, a demência institucionalizada. Tudo gira em torno de uma cláusula impossível, o tal Ardil 22, cuja definição escapa exatamente porque faz sentido demais — e por isso mesmo, nenhum. Se o soldado quer parar de voar porque está louco, prova assim que é são o suficiente para continuar voando. E assim por diante, num ciclo de raciocínios que se anulam e se reforçam simultaneamente. Heller não escreve apenas sobre guerra: escreve sobre o paradoxo de estar vivo quando tudo ao redor exige a morte.
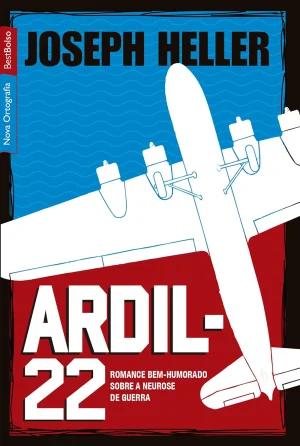
Esse é o peso que afasta tantos leitores. Não há amparo em sua prosa, que ora desliza como caricatura, ora pesa como tratado filosófico. As piadas, muitas vezes, são tão brutais quanto as tragédias; o nonsense é apenas uma outra forma de trauma. A cada capítulo, o livro se recusa a tomar o rumo que dele se espera, desmontando sequências temporais, subvertendo expectativas narrativas, enterrando o leitor sob camadas e mais camadas de repetição, ironia, desespero. Ler “Ardil 22” não é avançar — é girar. E não há quem suporte o movimento circular por muito tempo sem perder um pouco do eixo.
Mas quem permanece — quem aceita o torvelinho, quem consente em naufragar com ele — emerge diferente. Não melhor, talvez. Mas mais desperto. Porque há um ponto em que a leitura para de resistir e começa a respirar junto com o livro, num compasso estranhamente harmônico. É quando o absurdo, antes irritante, se revela como estrutura do real. É quando a piada se revela tragédia. É quando a guerra, em sua brutal normalidade, se torna tão familiar que assusta ainda mais. E é também quando o leitor percebe que Joseph Heller não escreveu um romance sobre soldados ou batalhas, mas sobre sistemas: militares, políticos, econômicos, afetivos — todos eles operando sob regras que se anulam mutuamente, mas permanecem, inexplicavelmente, de pé.
Talvez o desconforto com o livro venha daí: ele se recusa a fechar qualquer círculo. Não há catarse. Não há crescimento interior. Não há paz. Há, sim, uma consciência dilacerada que se recusa a colaborar. Yossarian, ao final, não é herói nem mártir. É um homem que diz “não” — e esse “não” é tudo o que lhe resta. É o último gesto de lucidez possível diante de um mundo que transformou a obediência em virtude suprema. E por isso, o livro, que tantos deixam pelo caminho, permanece na memória dos que insistem até o fim. Não por ser esperançoso. Mas por não mentir.
A literatura — quando realmente arrisca — não consola, não organiza, não salva. Ela perturba. “Ardil 22” perturba com precisão cirúrgica. Não se trata de gostar do livro, nem de entendê-lo completamente. Trata-se de aceitar que ele existe por uma razão — uma razão incômoda, mas urgente. E talvez seja justamente por isso que tantos o deixam — e por isso também que os que ficam jamais esquecem. Porque há livros que se esquecem sozinhos, sem resistência. E há livros como este, que ficam onde doem.







