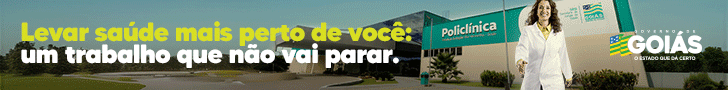Minto desde que nasci. Sou uma mentira inata, contudo, desprovida de pedigree. Meus pais esperavam que viesse uma menina. Então, eu vim. Um recém-nascido com cara de joelho. E chorei nos braços do obstetra bêbado, sentindo uma vontade danada de rir na cara de todo mundo. Jamais, na história da humanidade, criança alguma nascera sorrindo. Toda família tinha um ente desequilibrado. Eu era a pedra da vez. Pedro. Vocês podem me chamar de Pedro. Ou do nome que preferirem, não estou nem aí, desde que não melindrem a reputação dos indivíduos desgraçados.
Não uso olho de vidro. Não sou um sujeito engraçado. Não me recordo de ter mentido durante a primeira infância. Até o dia em que comecei a pular o muro da escola. E a adulterar boletins. E a falsificar atestados médicos. E a sentar atrás dos alunos brilhantes para me esconder em suas sombras e trair a confiança dos professores enquanto não estivessem me olhando. Todo mundo já fez isso um dia? Não sei. Como diria a minha mãe — se não a tivesse matado de desgosto — eu não era todo mundo.
Tornei-me velhaco com as primaveras. Comprei uma vaga numa renomada faculdade de direito. Papai queria que eu fosse médico. Imaginem só. Logo, eu. Um médico. Um potencial contrabandista de vísceras humanas para países do leste europeu. Nunca fiz nada direito. Consegui a façanha da aprovação na faculdade de Direito contratando um calouro genial que fez as provas do vestibular no meu lugar, ao fraudar com sua cara feiosa, cravejada de acnes, a minha carteira de identidade. Não me identifico com nada de positivo, em particular, a não ser dinheiro.
Quase morri. Quase sofri um colapso fatal ao completar 18 anos. Tomei um medicamento que fazia a pressão arterial subir horrores. Cometi essa ilicitude para me livrar do alistamento militar obrigatório. Não dava para comprar um milico. Ninguém era obrigado a me aturar nas forças armadas e vice-versa. O coitado do oficial médico que coordenava o exame físico dos candidatos a recruta assinou a minha dispensa imediata e recomendou que eu procurasse um cardiologista. Mal sabia o ilibado esculápio que o meu caso era para a psiquiatria. Ou, então, para a psicologia. Quem sabe, para ambos os profissionais, senão, um prato cheio para um padre exorcista ou uma cartomante picareta acometida de obesidade mórbida.
Orbitei durante anos ao redor da sordidez, como fazem as moscas. Moscas morrem em poucas horas de vida. Mas, eu ainda estou aqui. Voando por cima da carne seca e de certas decrepitudes. Me acostumei a mentir. Eu tinha a lábia. Eu tinha o carisma. Eu enganava as garotas. E humilhava os gays. Não demorou muito tempo, ascendi ao grêmio estudantil da faculdade, incentivado pelo braço extremista de um partido político cristão conservador, ao qual me filiei aos 21. Logo, percebi que levava jeito para a política. Eu parecia um ator, só que não tinha nenhum glamour. As pessoas acreditavam em mim e era só isso: Deus, pátria, família e o escambau a quatro.
O diabo estava mancomunado comigo. Não precisava mais ninguém. Reconheço que eu tinha um comportamento que beirava a psicopatia. Fui amante de uma das minhas tias, irmã do meu pai. Assediava as domésticas. Domesticava os meus demônios premiando-os com nacos de perversidade. Abri uma empresa no ramo da fé. Tornei-me pastor evangélico, a contragosto. Fui batizado nas águas podres do Tietê. Comi merda pela raiz. Até ser eleito vereador, depois que fiquei famoso por atropelar com o meu Porsche branco um punguista preto que acabara de bater a bolsa lilás de uma velhota ictérica. Acelerei a máquina sobre o meliante, danifiquei a droga do cardan, registraram um beó, fui parar na mídia, viralizei na internet, ganhei uma comenda dos CAC e me tornei o vereador mais votado de todos os tempos.
De fato, eram tempos estranhos, como tantos outros tempos estranhos da história. A maior parte do eleitorado me idolatrava; a outra parte votava em branco. Eu não podia ver um microfone, uma mulher vestindo um tule, um conchavo partidário, uma treta midiática, uma teta do erário, um telefone celular dando sopa sobre a mesa. Acho que sempre fui cleptomaníaco. Eu sentia um prazer descomunal em furtar. E pensava que Deus estivesse sempre ao meu lado. Acima de tudo, tive uma vida movida por escândalos abissais e declarações bombásticas que me tornaram uma celebridade, um ícone polêmico da banda podre da política nacional. Até que veio a facada.
Tomei uma facada de um doido. O atentado sucedeu durante a campanha eleitoral, numa biboca cujo nome faço questão de esquecer. Enquanto esperava a morte chegar, com a boca escancarada, cheia de dentes, um maldito comunista passou de bicicleta gritando “Toca Raul, filho da puta”. A vista já ia embaçando, mas, notei que o cabo do punhal, fincado no fundo do peito, baloiçava como um penacho de um lado para o outro. Temi que a lâmina tivesse passado dos limites e trespassado o coração como um espeto de picanha, mas, graças ao Bom Pai, ela tinha se alojado num espaço ocioso do tórax, uma área oca e não letal, onde permanecia justaposta ao fabuloso músculo cardíaco.
Ressuscitei ao terceiro dia de internação numa UTI e, semanas depois, acabei faturando as eleições presidenciais com os pés nas costas, um dreno de látex no peito e Deus no comando.