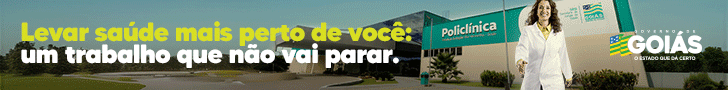Existe muito mais beleza no mundo do que pode supor nossa vã filosofia e nossa grande amargura diante do sofrimento que é a vida, em todos os campos, inclusive os que se estendem para muito além da nossa curtíssima visão. A vida, magnânima, sábia, tem o poder de transformar em encanto muito do que vemos como revestido de uma outra natureza qualquer, que o imediatismo dos dias que se sobrepõem uns após os outros, sem muito sentido e nenhuma graça, deixam ainda mais baço, opaco, morto, absorto pela imensidão do vazio do que não se alcança. O que supomos irrevogavelmente nosso, por direito e por conquista; os tantos delirantes sonhos acerca do futuro; os feitos todos que o porvir nos reserva — até aqueles que sabemos que nunca vamos chegar a tirar do onírico plano das míseras conjecturas —; a gravidade de tudo quanto toca o que não se permite revelar: o mais que alimentamos expectativas, mesmo as que soam brutalmente cimentadas ao chão da vida, mais distantes ficamos do indócil princípio do existir, em que só vale o que de fato se realiza. Entretanto, nada somos se privados do gosto do devaneio, precisamente o que nos confere algum relevo sobre todas as demais criaturas a povoar a Terra.
O homem é o único animal que sonha, que deseja, que se encontra e se perde em suas quimeras de perfeição, que, por ser essencialmente imperfeito, nunca é capaz de tornar em realidade. Poucas vezes no cinema houve um personagem tão sonhador — no que isso pode ter de vigorosamente transformador e irresistivelmente nefasto — como Michael Corleone, o mafioso arrependido de Al Pacino na saga “O Poderoso Chefão”, trilogia o seu tanto inexata que o passar dos anos faz o favor de deixar cada melhor. Conhecido pelo perfeccionismo e mesmo pelo preciosismo de seus trabalhos, burilando cenas e diálogos que gente comum julga irretocáveis, Francis Ford Coppola conclui (será?) seu tratado sobre a máfia italiana que encontra o refúgio ideal nos subúrbios de Nova York na esteira da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), e cresce e aparece, a ponto de seus próceres tornarem-se íntimos de celebridades que faziam questão de desdenhar do politicamente correto e de líderes políticos, que por sua vez disfarçavam a todo custo essa incômoda amizade, lucrativa para os dois lados.
Coppola abre seu filme com uma crítica ferina à Igreja, preservando o estilo de Mario Puzo (1920-1999), o escritor ítalo-americano que se especializou em revirar os intestinos do crime organizado siciliano muito antes que ele fosse entendido como a potência em que acabou se transformando. Os dois, Coppola e Puzo, parecem muito bem afinados num roteiro pleno de minúcias, como se quisessem mesmo fazer deste o melhor dos registros sobre os Corleone, abrindo espaço para análises sociológicas mais aprofundadas, sem prejuízo, claro, das intrigas, dos conchavos, traições e inconfidências entre eles. É justamente a sequência de abertura a que resume com mais argúcia o que se vai assistir ao longo de mais de duas horas e meia, com um Michael decidido a comprar o Vaticano, ao passo que se afunda em recordações agridoces do convívio com os parentes-serpentes — não que seja um cavalheiro, muito pelo contrário. Vira e mexe, o diretor saca da manga uma cena em que alguém o instiga a confessar que matou Fredo, o primogênito vivido por John Cazale (1935-1978), o que ele acaba fazendo, da maneira mais inusitada, e para uma figura aparentemente alheia à engrenagem maldita que mantém os Corleone no topo há quase meio século. Aparentemente.
O segredo de polichinelo em torno da franquia é que cada volume se impõe por si só. No caso deste, o amadurecimento de Michael, que, claro, regula com a maturidade de seu intérprete, autoriza inferências heréticas a respeito do personagem, o que desagrada de morte os fãs mais ortodoxos, com a licença dos trocadilhos. É nítida sua sensação de tormento diante do que foi obrigado a fazer de sua vida, a assunção ao trono com a morte do patriarca Vito, de Marlon Brando (1924-2004), o cerco cada vez mais inescapável da justiça dos Estados Unidos, malgrado tenha torrado alguns milhões de dólares nos honorários de advogados influentes e para calar a consciência de promotores e juízes — não é sem motivo que uma parte bastante significativa transcorra em Bagheria, no noroeste da Sicília, onde vive um autoexílio nostálgico e melancólico —, e as providências que precisou tomar para que seu legado de duas gerações não derretesse sob o calor do sul da Itália ou frente ao hálito quente dos gângsteres adversários. Nesse particular, Coppola acerta em cheio ao aumentar as inserções com Kay, a ex-mulher submissa e eternamente apaixonada defendida por uma Diane Keaton na flor da idade, viçosa, linda, exalando carisma e talento por todos os poros. As cenas em que Kay vai visitar Michael no hospital em que o novo poderoso chefão convalesce de um infarto (não, não é nesse momento em que ele canta para subir) acompanhada de Tony, papel de Franc D’Ambrosio, que escapa à sina de ser o terceiro Corleone bandido, e Mary, em tudo parecida com o pai, mas mulher, explica o que porventura ainda não tenha ficado claro o suficiente.
Uma das tantas polêmicas no longa foi justamente a participação superestimada de Sofia Coppola, filha do diretor. Posso dizer que como atriz, Sofia é uma excelente realizadora, talvez até melhor que o pai, um paranoico profissional (e maravilhoso), segundo dizem dele 99% do staff de “Apocalypse Now” (1979). Minha nota de rodapé favorita, contudo, é a que sugere que Frank Sinatra (1915-1998) quis processar Puzo e Coppola por ter se sentido exposto em certos trechos. A vaidade de Sinatra de fato daria um filme à parte.
Filme: O Poderoso Chefão: A Morte de Michael Corleone
Direção: Francis Ford Coppola
Ano: 2020
Gêneros: Drama/Ação/Suspense
Nota: 9/10