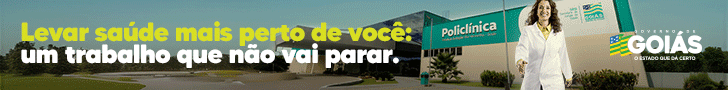Charlize Theron tem se notabilizado por defender com propriedade histórias plenas de ação que só tomam corpo e convencem o espectador em histórias bem cuidadas, em que toda ação acontece no devido momento, no lugar exato e pelas justas razões: foi assim em “Mad Max: Estrada da Fúria” (2015), dirigido por George Miller, e “Atômica” (2017), levado à tela por David Leitch. Theron entende como ninguém que o recurso da violência, empregado com adequação, torna-se nada mais que um trampolim para que o público alcance a complexidade da mensagem que se deseja transmitir. A cada novo trabalho, ao passo que se livra de antigas referências e se permite embeber do espírito do personagem da vez, a atriz preserva essa fúria atávica de uma criatura que tem de se impor pela força, proibida de se permitir extravasar sentimentos mais viscerais, sob pena de, se o fizer, arrastar uma legião de desgraçados como ela consigo. Theron experimenta esse sentimento com ainda mais precisão em “The Old Guard” (2020). Pode-se dizer que ela é rigorosamente isso no filme de Gina Prince-Bythewood, um caldeirão de ódio concentrado, que não deixa uma partícula sequer se desgarrar do todo, fervendo em fogo baixo pelos séculos dos séculos.
O roteirista Greg Rucka, responsável pela adaptação da graphic novel homônima coescrita com Leandro Fernandez, não só chega à essência do conflito de Andy, a protagonista vivida por Theron, como supera qualquer expectativa que se possa nutrir acerca de um enredo dessa natureza. Imortal como quase todos os super-heróis da Marvel ou da DC, em Andy a sobrecarga da culpa, do remorso, da indignação por ter se transformado no que é estão à flor da pele; em momento algum ninguém, nem ela, nem Rucka ou Prince-Bythewood — e muito menos sua intérprete — querem esconder nada. Prova disso são suas companhias, que cujo arco dramático começa a se delinear com mais energia na virada do primeiro para o segundo ato, momento em que, se a plateia ainda não se quedou presa do carisma da vingadora iniludível (o que eu duvido muito), o fará sem demora de bom grado e, a exemplo da anti-heroína, sem o menor receio de deixar em evidência uma possível fraqueza. O aspecto mais nobre dessa esfinge de anatomia indevassável, com uma face voltada para o futuro e muitas outras capazes de vislumbrar apenas o passado, é se admitir duplamente perigosa.
Andy é a decana de um esquadrão de soldados imorredouros que reúne ainda Nicola, o Nicky, vivido por Luca Marinelli; Joe, de Marwan Kenzari; e Booker, interpretado por Matthias Schoenaerts. Incorporado ao grupo em 1812, o personagem de Schoenaerts se presta a uma espécie de consciência desse quarteto nada fantástico; consciência coletiva da equipe, é ele quem faz a descoberta quase banal, que chega a passa despercebida, mas imprescindível quanto a se captar de profundis a essência dos protagonistas de “The Old Guard”: quanto mais unidos se mantiverem, mais fortes se tornam, uma vez que quando ousam tomar rumos diversos, sofrem de visões que prenunciam eventos terríveis a se abater sobre os colegas — deixando-se a licença poética de lado por um instante, a pergunta que se levanta é: quais as potenciais consequências de se enfrentar desgraças levando-se em conta que o fato de que a morte não os contempla? Booker é o membro mais novo da guarda, até a entrada em cena de Nile, a fuzileira naval vivida por KiKi Layne. Destacada para combater no Afeganistão, a soldado conclui que é dotada de algum superpoder — de que abdicaria sem hesitar, caso essa hipótese lhe fosse facultada — no momento em que sofre um ferimento grave e, segundos depois, está nova em folha. Como esses condenados à eternidade só podem resistir se mantidos todos juntos, Andy, Nicky, Joe e Booker se põem em seu encalço até resgatá-la. Se Nile já não se conformava em ter de renunciar a sua vida em nome de algo que mais parece uma maldição, a ideia de se tornar o quinto elemento dessa e engrenagem desditosa lhe soa ainda mais abjeta ao saber que nunca mais verá sua família, mesmo destinada a sobreviver a todos eles.
Prince-Bythewood administra com competência os conflitos que se avultam à medida que a trama se desenrola, e são muitos. Há a exposição do relacionamento homoafetivo entre Nicky e Joe, um judeu e um árabe que quase se mataram durante as Cruzadas, mas se descobrem almas gêmeas e nunca mais se largam, abordagem algo idealizada do amor romântico (e eterno) que todos gostaríamos de viver; a assunção do vilão negro Lykon, de um Chiwetel Ejiofor de potência a toda prova; e a insinuação de que a fonte da maior parte dos infortúnios que assolam o homem brota da mente perversa de Merrick, o cientista maluco que inspira graça e pavor personificado por Harry Melling. Usando quase o mesmo nome de um famoso laboratório farmacêutico, o antagonista persegue esses cinco cavaleiros do Apocalipse na esperança de dissecá-lo e, enfim, encontrar a panaceia para todas as enfermidades e lesões, proporcionando à humanidade a vida eterna — à parcela endinheirada da humanidade, que fique claro.
Essa nonchalance do filme, esse deboche travestido de seriedade e pleno de tipos brucutus é o que faz o trabalho de Gina Prince-Bythewood tão especial. Verdadeiro achado, não só do cinema-macho como da produção cinematográfica contemporânea, “The Old Guard” parece que não acaba. Dá a impressão de que vamos topar com figuras como Andy, Nicky, Joe, Booker, Lykon e, principalmente, Merrick na primeira esquina. O que mais um diretor e um filme podem querer?
Filme: The Old Guard
Direção: Gina Prince-Bythewood
Ano: 2020
Gêneros: Ação/Fantasia
Nota: 10/10