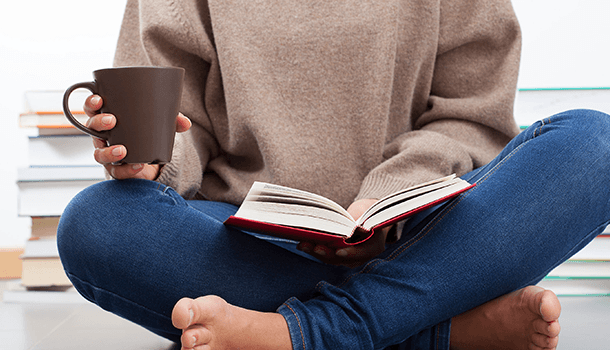O livro é cúmplice quando revela o que ninguém sabe. A narrativa nos empolga porque, acreditamos, somos testemunhas de segredos só a nós revelados. É como um tesouro escondido, do qual possuímos a exclusividade do mapa. O autor dormia em seu anonimato de papel antigo até que fôssemos lá abrir uma fresta na sua solidão e degredo. Levamos esse tipo de livro de maneira disfarçada, misturado a coisas comuns, como uma revista ou um impresso qualquer. Se formos flagrados, sacudimos os ombros e pegamos a brochura na ponta dos dedos, com desdém.
Aprendemos coisas como a palavra desdém nessa literatura que não deixou marcas, essa memória oculta, essa única edição sobre o que para sempre foi perdido. Ninguém pode desconfiar do que trazemos embaixo do braço como se fosse uma côdea de pão. Exatamente, côdea é também esse tipo de palavra enterrada em páginas esquecidas. Nós, os leitores oblíquos, costumamos ler obras atiradas no tempo, antes que descubram o quanto é cult, ou importante, ou fundamental.
No momento da descoberta, ninguém à vista sabe do que se trata. Você vira o mundo atrás de algumas pistas e não encontra uma só pegada de uma possível leitura. Então, satisfeito, embaixo de cobertas, na curva do quintal, na praça vazia em feriado, você abre, trêmulo, aquela mina anônima, aquele território sagrado onde somos ouvintes de sinetas, passos em castelos, sons de metralha.
Quando o exemplar capaz de nos prender a respiração escasseia, mergulhamos ainda mais fundo à procura de pepitas. É o momento de enfrentar bibliotecas gigantescas e vazias e resgatar do fundo de armários de ferro coisas que só nós vamos ler, porque só nós temos essa obsessão de ir até o fim quando algo nos acena de fora do tempo. Podemos então abrir a faca o relatório sobre a construção dos quartéis, de autoria do jovem engenheiro Roberto Simonsen, na gestão do ministro da Guerra Pandiá Calógeras. Ou então descobrimos, enrolados em alguma estante contra a parede do último andar de um sebo que vai fechar no dia seguinte, aquele pequeno volume de capa vermelha e que mostra textos e fotos de uma guerra desconhecida.
Dentro da encadernação caprichada e velha, você vê um saqueador coçando a cabeça diante de algumas bolsas de arroz e feijão. A legenda diz que ele não consegue carregar o produto do seu roubo. O autor é um padre que conseguiu levar a bom termo o momentâneo caos de uma escola famosa nos anos vinte, alvo da revolução que tomou conta da grande cidade. Mas tudo isso no Brasil? — me perguntaram no dia em que escancarei as fotos de tiros de canhão em prédios de todos os tipos, para estudantes surpresos.
Há também os volumes que jamais reencontramos, como os livros de aventuras sobre insurretos indonésios, que estavam dormindo na biblioteca, já extinta, do colégio. Ou o livro de bolso que lemos em 24 horas seguidas e nem atinamos direito que era “O Morro dos Ventos Uivantes”, a maior história de amor jamais escrita. Éramos Heathcliff a perambular pela charneca.
Lemos charneca e lembramos uma piada de Vinicius de Moraes sobre essa palavra. Só existe em romance inglês antigo. Em livro cúmplice, escrito só para nós, leitores oblíquos, essa espécie que jamais se extingue.