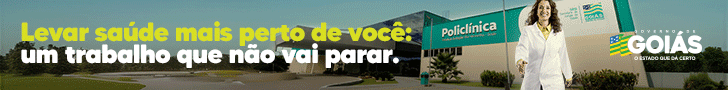Os direitos civis dos afro-americanos não caíram do céu. Homens e mulheres como Martin Luther King Jr. (1929-1968), Malcolm X (1925-1965), Rosa Parks (1913-2005), Angela Davis e o branco John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) cortaram um dobrado para que os negros nos Estados Unidos gozassem da liberdade, ou de alguma liberdade, a fim de se afirmarem como indivíduos plenos de direitos e obrigações, cidadãos nem de primeira classe nem de segunda classe, mas apenas cidadãos. Essa é uma luta que se consolida aos poucos, avança no tempo — e nunca há de ser vencida por completo, uma vez que episódios de intolerância racial e violência não pararam de ocorrer desde a década de 1950, quando a campanha que reivindicava a igualdade entre brancos e negros se intensificara. A questão racial na América é um problema atávico. Suas raízes se voltam para a Guerra de Secessão (1861-1865), quando os Confederados, do Sul, assumidamente escravagistas e defensores da separação daquele território quanto ao restante do país, se rebelaram contra o fortalecimento de políticas que garantiam a unidade nacional, em 12 de abril de 1861. A Guerra Civil Americana viu chegar seu apogeu, no entanto, dois anos depois, em 1° de janeiro de 1863, com a abolição da escravatura pelo republicano Abraham Lincoln (1809-1865). Seu legado perdura, a duras penas, mas Lincoln também pagou com a vida por ter se insurgido contra a barbárie racialista. Em 14 de abril de 1865, o 16° presidente dos Estados Unidos sucumbiu a um atentado no Teatro Ford, em Washington, enquanto assistia a “Nosso Primo Americano” (1852), de Tom Taylor (1817-1880), sobre um americano caipira que conhece os parentes ingleses, aristocráticos e esnobes. Outra metáfora, essa mais sutil, do longo caminho que o país ainda teria de percorrer em busca de sua identidade, valor inquestionável apesar de complicações sociais como o racismo não cederem.
Reginald Hudlin celebra a memória de Thurgood Marshall (1908-1993), advogado negro que se tornaria famoso ganhando causas em que defendia “pessoas de cor”, como enunciava a nomenclatura falsamente inclusiva da época, mas que só referendava ainda mais o preconceito. Seu talento o levou a ser escolhido o primeiro magistrado afrodescendente da Suprema Corte americana, a esfera mais alta do judiciário do país. A alma arrojada e humanista desse personagem, patrimônio do povo americano pelo qual, como seus antecessores, também lutou à custa de sacrifícios pessoais, torna-se mais límpida em “Marshall: Igualdade e Justiça” (2017), manifesto contra a opressão de um grupo étnico e um canto à dignidade de todos os homens do mundo, em todas as eras. Retrocedendo um pouco e ampliando o campo de observação do fenômeno que pretende analisar, ou seja, a vida de Marshall, sua inabalável atuação profissional como um dos advogados mais respeitados da NAACP, entidade que militava por inclusão e justiça para os afro-americanos, e o impacto de seus serviços na jurisprudência dos Estados Unidos, o trabalho de Hudlin oferece um excelente panorama do que era ser negro nos anos 1940. O diretor se vale de estrelas reconhecidamente populares para levar a termo o roteiro de Jacob e Michael Koskoff — caso de Chadwick Boseman (1976-2020), que parece ter sido talhado a cinzel para interpretar Marshall —, mas nunca perde o controle sobre o enredo, destrinchado a partir do julgamento de Joseph Spell, interpretado por Sterling K. Brown, ex-presidiário negro acusado de estuprar a patroa, Eleanor Strubing, personagem de Kate Hudson, rica, sofisticada, culta e infeliz no casamento. A partir dessa última informação, Marshall e Sam Friedman, o judeu gordo e bonachão que se torna seu colega na defesa de Spell — Josh Gad dá um banho de carisma e domínio cênico, mormente em dada altura da narrativa, quando a parceria entre o protagonista e Friedman ameaça fazer água —, chegam ao argumento irrefutável, matador em sua clareza, capaz de persuadir o corpo de jurados e absolver o acusado, mesmo que o juiz Foster, de James Cromwell, não se furte a demonstrar seu descontentamento.
Filmes de tribunal tem uma propensão quase inescapável ao tédio, graças à repetição exaustiva do cenário claustrofóbico, dos personagens, dos diálogos, da pouca movimentação dos atores em cena, da austeridade inescapável da situação. “Marshall: Igualdade e Justiça” supera todos esses obstáculos galhardamente, não obstante decepcione um pouco quem, como eu, ansiava por assistir ao menos uma sequência com o protagonista atuando como magistrado da Suprema Corte. Um deslize, por óbvio, mas de menor potencial ofensivo.
Filme: Marshall: Igualdade e Justiça
Direção: Reginald Hudlin
Ano: 2017
Gêneros: Biografia/Drama
Nota: 9/10