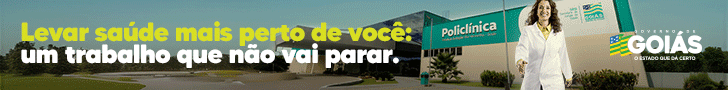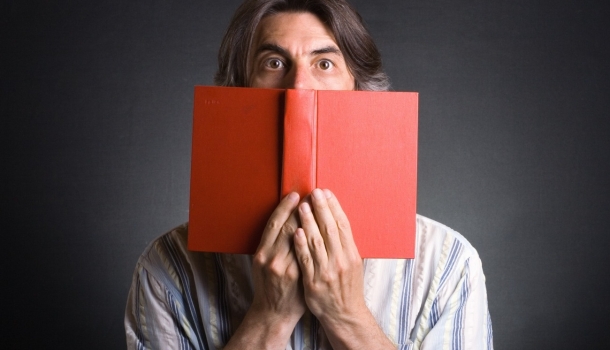O valor de um intelectual deveria ser medido pela quantidade de gente a quem consegue desagradar. Neste item, ninguém melhor, nos dias que correm, que o filósofo inglês John Gray. Com uma argumentação coerente e límpida, Gray ataca, em “Missa Negra — Religião Apocalíptica e o Fim das Utopias”, (Record, 352 páginas, tradutor Clóvis Marques), os fundamentos filosóficos e culturais das grandes correntes políticas da modernidade, dedicando um número equitativo de páginas para espinafrar jacobinos, marxistas, nazistas, liberais, integralistas islâmicos, trabalhistas ingleses e neoconservadores norte-americanos. Pouca gente escapa das agulhadas de Gray, preocupado em demonstrar que o regime teocrático iraniano fundado pelo Aiatolá Khomeini, os totalitarismos do século 20 e as políticas agressivas e imperialistas de George W. Bush, nada mais são que manifestações de uma leitura apocalíptica da história, cuja teleologia foi descoberta e explicitada sob a forma de doutrinas políticas preocupadas em alterar a própria natureza humana. Na origem de tudo encontram-se mitos fundadores do próprio Ocidente cristão, comunicados também a outras culturas pela difusão do Iluminismo.
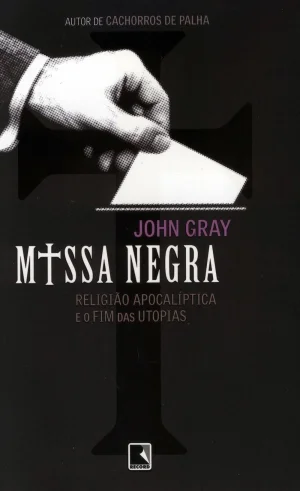
Vistos pelo pano de fundo de tais mitologias apocalípticas, os modernos movimentos revolucionários constituem uma continuidade das religiões por outros meios, o que Max Weber denominou de religião laicizada. Para demonstrar tal proposição, Gray remonta às visões milenaristas que periodicamente manifestam-se na história, dos tempos bíblicos aos atuais, pregando alguma variante escatológica de fim do mundo (ou da própria história), com o advento de uma era de ouro marcada pela prosperidade e pelo progresso infinito. Tais crenças messiânicas, que estão na base do cristianismo, foram mitigadas por pensadores como Santo Agostinho (354-430 d.C.) que duvidou da capacidade humana de eliminar o mal do mundo. Baseando-se numa antropologia negativa, que acreditava que os seres humanos são irremediavelmente imperfeitos, Agostinho reforçou nesta tradição do cristianismo um forte conteúdo realista, propondo que o fim dos tempos fosse percebido em termos puramente espirituais. Com base em tais premissas, argumenta Gray, esta doutrina “conferiu ao cristianismo uma disposição antiutópica que ele nunca perdeu completamente, sendo os cristãos poupados da desilusão que se abate sobre todo aquele que espera mudanças muito profundas nas questões humanas”.
Se, por um lado, a visão de Agostinho sobre o cristianismo constitui uma das correntes profundas sob as quais corre o fluxo da história ocidental, por outro, as crenças messiânicas no advento da sociedade perfeita e depurada dos vícios humanos nunca nos abandonaram, constituindo outra constante no pensamento e ação da humanidade, reaparecendo primeiramente sob a forma de milenarismos, como a revolta ocorrida na cidade de Münster, em 1534. O fim do mundo aproximava-se, pregavam os exaltados da época, e o próprio planeta soçobraria antes da Páscoa. Somente Münster seria salva, na qualidade de uma Nova Jerusalém. Tais expectativas logo converteram-se em ações bárbaras, como a proibição de todos os livros, com exceção da Bíblia. Bockelson, o líder da rebelião autoproclamado como rei, deu início a uma prática moderna, imitada pelos jacobinos, renomeando as ruas e inaugurando um novo calendário.
Estavam presentes os ingredientes da fé milenarista: a ideia de que a salvação não é individual, mas coletiva, que pode realizar-se na terra e não num distante reino celestial, de forma iminente, total, abrangendo todos os aspectos de uma vida humana tornada perfeita e miraculosa. Como ironia histórica, foram os jacobinos, mesmo com o seu pronunciado secularismo, que abraçaram com força total as crenças milenaristas, inaugurando uma forma moderna de ver a política baseada num otimismo pensado filosoficamente pelo Iluminismo: a humanidade poderia livrar-se de seus males de forma definitiva, desde que lançando mão do conhecimento baseado nos ideais iluministas.
O terror jacobino, com seu séquito de cabeças cortadas após julgamentos sumários, nasce desta pretensão de depurar de forma definitiva o corpo social de suas imperfeições. Não por acaso, em todas as utopias modernas subsiste a ideia de deixar os conflitos habituais da vida humana no passado, como se fosse inescapável um gradual aperfeiçoamento de toda a humanidade que obedeceria, universalmente, aos mesmos valores políticos, em uníssono.
Contra tais pretensões, Gray argumenta em sentido contrário. Para o pensador inglês, o conflito é uma característica universal da vida social. Na própria natureza humana parece subsistir o desejo de coisas incompatíveis entre si: “emoções e vida tranquila, liberdade e segurança, verdade e uma imagem do mundo que seja lisonjeira para seu senso da própria importância. Uma vida livre de conflitos é impossível para os seres humanos, e onde quer que isso seja tentado, o resultado é intolerável para eles”. A utopia carrega em seu ventre, após o fracasso sempre evidente de tentar suprimir o conflito da vida social, a semente do seu contrário, a distopia: “as utopias são sonhos de libertação coletiva que na vigília se revelam pesadelos”. Para Gray, as grandes conquistas obtidas por um número considerável de nações, como o fim da escravidão ou a conquista de direitos civis e liberdades democráticas ou ainda a emergência dos direitos sociais, não surgiram de expectativas utópicas, mas sim da luta por objetivos concretos e realizáveis.
A utopia pode nos conduzir ao seu contrário. Um exemplo é o coletivismo maoísta, que ceifou milhões de vidas no Grande Salto para Frente e na malfadada Revolução Cultural para atingir o seu ápice nos campos da morte de Pol Pot, no Camboja. Para nos afastarmos de tais perigos, escreve Gray, melhor nos concentrarmos justamente no pensamento distópico, em autores como George Orwell, Aldous Huxley, H. G. Wells, Yevgeny Zamyatin, Vladímir Nabokov, William Burroughs ou ainda J. G. Ballard.
Neste ponto, Gray segue de perto uma das suas referências filosóficas principais, o também britânico (embora letão de origem) Isaiah Berlin, que propunha um liberalismo de feição agonística que aceitava o conflito como inerente à nossa capacidade de escolha. Berlin insistia na tese de que os valores humanos fundamentais são muitos e frequentemente estão em conflito, pois as próprias necessidades humanas alteram-se com o tempo, trazendo incertezas que só podem ser resolvidas por decisões radicais.
Dos sonhos de uma humanidade depurada surgiram movimentos como o nazismo, que pretendia apoiar-se na ciência para construir uma sociedade de vencedores, selecionados pela evolução darwinista da espécie. Em sua base, encontramos a ideia de que a sociedade poderia ser recriada como uma comunidade imaculada, também despida de conflitos. Gray retoma a tese da Escola de Frankfurt de que o nazismo surgiu como desdobramento lógico do pensamento iluminista e sua razão instrumental. Mais que isso, o nazismo também surgiu de certa forma de “racismo liberal” que louvava a missão civilizatória europeia em sua ação de conquista imperialista de povos tidos como “atrasados” e “primitivos”. O próprio racismo aparece como um produto do Iluminismo, que abria as possibilidades de destruição compulsória de outras culturas. O genocídio com as bênçãos da ciência e da civilização, sentencia Gray.
O mesmo espírito missionário e salvacionista, podemos detectar no discurso dos falcões do neoconservadorismo norte-americano (com a variante inglesa proposta por Tony Blair). Também esta maneira bastante contemporânea de ver o mundo possui vínculos ancestrais com correntes profundas do pensamento fundador da nação norte-americana. Há um fio condutor que liga a ideia da “excepcionalidade americana” e seu “destino manifesto” e o discurso da doutrina Bush de “Guerra ao Terror”, que fala em “destruir Satã” (representado pelo terror islâmico). Gray lamenta a existência de um ponto que distingue os EUA dos outros países, qual seja: a “persistente vitalidade da crença messiânica e a intensidade com que continua a influenciar a cultura pública”. Como resultado, além da busca pelo controle das fontes de petróleo do Golfo Pérsico, a Guerra do Iraque teve como um dos seus motivos uma estratégia neoconservadora de impor ao povo iraquiano um modelo de democracia representativa similar ao que Francis Fukuyama pretendeu consagrar como forma última de Estado, em seu ensaio o “Fim da História”.
Alguns teóricos mais delirantes do Departamento de Estado norte-americano escreveram que a “guerra ao terror” era apenas um capítulo de uma “revolução democrática global”. Como o neoconservador Michael Ledeen, citado por Gray, que sintetiza esta linha de pensamento advogando que os norte-americanos não devem alimentar dúvidas quanto à sua capacidade de “destruir tiranias”: “É o que sabemos fazer melhor. É um talento natural, pois somos o único país verdadeiramente revolucionário do mundo, e o temos sido há mais de 200 anos. A destruição criativa é para nós uma segunda natureza (…). Em outras palavras, chegou mais uma vez a hora de exportar a revolução democrática”.
O discurso utópico é sempre sedutor e carismático, pois ativa emoções profundas contidas na psique humana. Tenta suprir a necessidade de dar significado à vida. Para os grupos políticos que se mobilizam em torno de tais propostas, tanto melhor que sua legitimação possa ser obtida por meio de uma semântica tão carregada. Quem quer que se coloque contra a utopia de uma sociedade perfeita não merece crédito, revela uma má-fé evidente, um conservadorismo desprezível. Ao inimigo público, que carrega toda a infâmia de surgir como dissidente, mesmo que ainda compartilhe a mesma visão de mundo de seus algozes, será negado qualquer direito. Aquele que busca revestir suas pretensões de poder com a túnica do discurso utópico fala sempre de um lugar inatingível aos demais.
A experiência histórica nos leva a esta conclusão, bastante evidente, de que melhor que atentar para as visões idílicas de uma terra sem males, nossa atenção deve estar voltada para o potencial de barbárie que repousa no cerne de nossa experiência civilizatória. A civilização é frágil e insegura. Seus diques podem ser rompidos, a qualquer momento, e as guerras, morticínios e explosões de violência estão longe de pertencerem a um passado remoto. De boas utopias, certamente, está cheio o caminho do inferno.