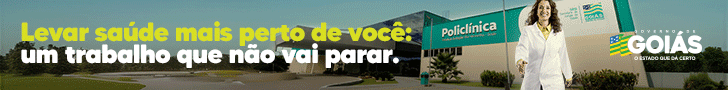Um novo mundo muitas vezes se nos abre a partir de perguntas, e essas nem sempre soam pertinentes à primeira vista. Philip K. Dick (1928-1982) era um dos mais eufóricos com a iminência de uma estreia de peso nos cinemas. Em sua última entrevista, à “The Twilight Zone Magazine”, PKD deixara escapar a tietagem, que se estendia mesmo ao traje que deveria usar quando do grande acontecimento, talvez o maior de sua vida, a coroação de uma carreira meteórica que já contava 20 anos e 44 trabalhos. Para a ocasião, provavelmente compraria — ou, o mais sensato — alugaria um smoking, ainda que preferisse uma camiseta e jeans surrados.
PKD, contudo, não era um entusiasta de primeira hora da versão fílmica de “Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?”, seu melhor livro, o mais famoso, o mais delirante, o mais bonito, publicado em 1968. Dois anos depois, soube que os direitos autorais da obra haviam sido vendidos pela editora nova-iorquina Doubleday sem o seu consentimento e adquiridos pelo produtor Herb Jaffe, que incumbira o filho, Robert, de roteirizar a história. “Devo bater em você aqui no aeroporto ou no meu apartamento?”, teria dito o escritor, ao ser recepcionado por Jaffe para um encontro com o qual concordara a fim de tentar aparar todas aquelas arestas e, na melhor das hipóteses, dissuadi-lo de seguir com tal despautério. Felizmente, nem uma nem outra coisa: em 1977, mais um produtor, Michael Deeley, se incorporaria à empreitada que permitiria, enfim, que a odisseia se levantasse e “Blade Runner — O Caçador de Androides”, de Ridley Scott, chegasse às telonas, em 25 de junho de 1982.
No decorrer de mais de 30 anos, a primeira transcrição cinematográfica do livro de Philip K. Dick nunca foi unanimidade. Embora tivesse fôlego para ser muito mais que um cult, venerado por cinéfilos tarados em cineclubes suspeitos a horas mortas, demorou para que o “Blade Runner” de Scott atingisse a aura de clássico que sempre mereceu, a despeito da cara fechada daqueles fãs mais refratários — e intolerantes —, crianças birrentas que queriam o bolo todo só para si mesmas.
Lançado em 2017, “Blade Runner 2049” é, além de desesperadoramente atual, fiel à produção de que saíra. O que muita gente continua não conseguindo entender é que um enredo pode ser preciso quanto à ideia que lhe deu azo, sem, todavia, ficar com gosto de simples pastiche do original, o que se comprova pelo argumento de base e o arco dramático dos muitos personagens, centrando as atenções, por óbvio, no talento de Ryan Gosling, intérprete de KD6-3.7, um policial de Los Angeles que “aposenta” androides envelhecidos (e rebeldes), que, por uma ou outra razão, escaparam da extinção que lhes estava destinada desde a programação de fábrica, se misturaram aos homens de carne e osso — e alma, e sentimento — e ameaçam a paz social.
Chichezão com tudo para resvalar em mais uma xaropada das muitas do gênero no mercado, mas como talento chama talento, a pátria estava salva, graças ao franco-canadense Denis Villeneuve, já que o próprio Ridley Scott declinara da missão de dirigir a continuação de um filme seu, envolvido com outros projetos, e se comprometera “apenas” com a produção executiva, leia-se, grana. Villeneuve já havia mostrado a que viera, ao apresentar trabalhos muito acima da média, caso de “Os Suspeitos” (2013), “O Homem Duplicado” (2013), “Sicario: Terra de Ninguém” (2015), e o incomparável “A Chegada” (2016), decerto um dos filmes mais emblemáticos do cinema do século 21, instigante, impactante, revolucionário e, como se não bastasse, sofisticado. A nave decola e, no Brasil, a 5 de outubro de 2017, um dia antes do que acontece nos Estados Unidos, “Blade Runner 2049” chega às salas de projeção.
Como já se disse, K, o personagem de Gosling, caça os replicantes, ele próprio um espécime híbrido, mistura só aparentemente ordenada, mas confusa, de ser humano e uma sequência do que se convencionou chamar hoje de algoritmos, que por serem finitos, também implicam em morte. Seu alvo principal é Rick Deckard, o replicante de 1982 que, inexplicavelmente, resistira ao tempo, às perseguições, à obsolescência do software e vive sem dar satisfação a ninguém, tudo o que K deseja para si. A certeza do fim o apavora, ao mesmo tempo em que reflete sobre se faria sentido continuar, a exemplo de Rick Deckard, como um pária, fugindo, tendo relações que nunca chegam ao ápice, por mais perfeição que emulem. K jamais é negligenciado por Joi, sua namorada virtual, que pode ser real, mas não tem pé no mundo da matéria, da carne; Joi não passa de um aplicativo desenvolvido pela Wallace Corporation, responsável por fabricar os replicantes, enquanto Deckard é casado.
A luz do existencialismo, corrente filosófica nascida a partir das teorias do pensador dinamarquês Søren Kierkegaard (1813-1855), e difundida com espalhafato pelos franceses Jean-Paul Sartre (1905-1980) e Simone de Beauvoir (1908-1986), a existência sempre terá mais valor que a essência, ou seja, ninguém nunca é nada até que tenha alguma vivência concreta, alguma experiência prática que lhe confira lastro para se intitular o que se pretende. K se quer humano, mas falta-lhe a humanidade — não é capaz de ter sentimentos, e as poucas manifestações do que se poderia compreender como sua alma são sempre pontuadas por segundos propósitos, até que se lembra de um brinquedo, um cavalinho de madeira, a chave de ouro em “Blade Runner 2049”.
Esteticamente, “Blade Runner 2049” é uma festa. A fotografia é, sem dúvida, um dos pilares mais sólidos do enredo, forte o bastante para carregar nas costas cerca de três horas de um filme cuja mensagem ainda vai levar boas décadas para ser incorporada. A obra-prima de Denis Villeneuve, como o “Blade Runner” de Scott, nasceu envolta numa aura noir de hesitação num mundo mais e mais assumidamente distópico, povoado por uma humanidade a cada dia mais conformada com sua perdição, com seu fracasso. As máquinas venceram.