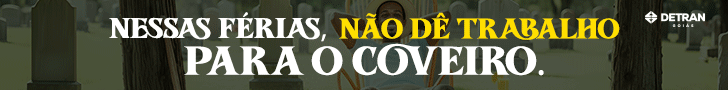O argumento de superar a realidade, reinventá-la, e jogar luz sobre perspectivas de possíveis cenários num futuro distante — ou nem tanto — é o trampolim de que se lançam diretores dos mais variados matizes ideológicos quanto a escrutinar o que a sorte reserva à humanidade. Quem nunca teve vontade de saber como seria o mundo sob situações extremas, com o seu quê de fantasioso, mas ainda assim verossímeis, como guerras, fome, realidade virtual, isolamento? Dado o tratamento que o homem tem dispensado ao meio em que vive, as projeções têm a natureza de um filme de terror dos mais mal-produzidos, em que nada guarda a menor sombra do charme do cinema noir. A sétima arte foi profética ao retratar com décadas de antecedência como poderia vir a ser o porvir que, conforme se pode observar em muitos casos, já passou faz tempo. O pioneiro “Viagem à Lua” (1902), de Georges Méliès, por exemplo, mesmo com toda a despretensão, amadorismo e frugalidade técnica de seus 18 minutos, intrigou a sociedade da época e enlouqueceu muita gente, também pelo ineditismo do que se tinha ali: uma outra realidade exposta numa tela grande por meio de um projetor. Hoje, excetuando-se o caráter histórico de registro de um tempo já morto, mais parece o fragmento de uma produção non-sense. A obra de Méliès chega a ser comovente por sua aura de um romantismo flagrante, ainda que involuntário, mas estarrece igualmente pela obsolescência. Filmes de ficção científica são saborosos justamente graças a seu ar dialético: ao mesmo tempo em que nos apresentam a vida como ela pode ser, nos falam de mundo que já não existe mais. A vida fora da Terra; dispositivos construídos pelo homem que se tornam mais inteligentes que o próprio homem; procedimentos médicos que, cada vez mais aperfeiçoados, facultam à humanidade reparar deficiências físicas e, quiçá, atingir a questionável eternidade são alguns dos temas de que a ficção científica se ocupa. Em “Upgrade” (2018), dirigido por Leigh Whannell, um homem se vale da ciência na tentativa de retomar sua vida; quanto a “Ex Machina” (2015), de Alex Garland, robôs e seres humanos se tornam tão parecidos que se fundem numa única realidade. Essas duas histórias e mais três estão aqui na nossa lista e no acervo da Netflix, à sua espera, a partir da mais nova. Se você ainda não prestou atenção a elas, eis a hora de reparar esse terrível erro.
Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Grey e sua esposa sofrem um ataque aparentemente gratuito. Ele fica tetraplégico e a mulher acaba morrendo. De luto, perdido, atônito, sem saber o que pensar e completamente imóvel a partir do pescoço, ele concorda em se tornar cobaia de uma terapia experimental que implica em instalar um microchip capaz de devolver-lhe os movimentos. Uma vez feita a cirurgia, Grey vai aos poucos se reabilitando. Com a mobilidade em sua plenitude outra vez e sedento por vingança — o único sentimento capaz de fazê-lo esquecer um pouco todo o sofrimento pelo qual teve de passar —, Grey começa a elaborar uma estratégia a fim de liquidar aqueles que arruinaram sua vida.

A fórmula da criatura exógena, aparentemente inferior, que aos poucos toma forma e domina um ambiente antes liderado por seres humanos continua a se mostrar eficaz quanto a arrebatar o interesse do público em “Vida”. No filme de Daniel Espinosa, pleno de beleza graças à sinergia entre trilha sonora e efeitos especiais minuciosamente elaborados, um organismo unicelular originário de Marte é recolhido pelos tripulantes da espaçonave que realiza uma missão interplanetária. É o prenúncio de uma nova era para o gênero humano, mais um dos gigantescos saltos para a humanidade, conforme ilustrara Neil Armstrong (1930-2012) quando da conquista da lua. Todo o mundo volta os olhos para Calvin, batizado assim depois de um concurso que mobiliza terráqueos das mais longínquas partes do globo, tamanho o afeto que o alienígena consegue despertar — ainda que não se conheça nada a seu respeito. A abordagem acerca do futuro da humanidade de um ponto de vista existencialista, ao passo que explora o tema da inteligência artificial, da corrida ao espaço como estratégia de propaganda e da importância da união dos povos a fim de combater possíveis inimigos, sem abandonar a natureza do thriller, bem conduzido, fazem de “Vida” uma produção icônica da ficção científica dirigida aos temas relacionados aos estudos sobre o que seria viver fora da Terra, significativos, mas também perigosos, devido à ganância e à desorientação do homem, que inegavelmente caminha para o progresso, mas está sempre à beira do abismo da ignorância e da maldade.

Livremente inspirado na estética de outras tramas distópicas, a exemplo de “Blade Runner” (1982), de Ridley Scott, “Arès” transpõe o cenário catastrofista de um mundo arruinado por causa da natureza predadora do homem para a capital da França. O ano é 2035, e Paris está longe da Cidade Luz que costumava ser. Nada mais de boa comida, boemia, lugares aprazíveis junto à Torre Eiffel, ao Boulevard Saint Germain ou ao longo do Sena. Agora, tudo é degradação, feiura, os espaços públicos estão completamente tomados por outdoors digitais, a população, ressentida devido ao desemprego galopante, e a polícia, comprada pelos poderosos da vez. Quem consegue trabalho tem de se sujeitar a condições as mais ultrajantes, geralmente emprestando o corpo a testes para medicamentos como o lançamento da farmacêutica Donevia, cujo presidente não mede esforços quanto a sobrevalorizar as ações da companhia no mercado especulativo. A derradeira esperança atende pelo nome do anti-herói Arès, um pugilista de espírito nobre, mas avesso a interações com outras pessoas, que aceita se submeter a experiências com uma droga produzida pelo laboratório e, assim, tirar a irmã da cadeia.

Na África do Sul, policiais humanos, de depreciação rápida e, pior, perecíveis, dão lugar a dispositivos autômatos indestrutíveis e de inteligência superior. Deon, cientista responsável pelos robôs, não deu a criação por terminada: quer dotá-la da capacidade de sentir e se emocionar, mas esbarra na objeção da diretora da empresa de segurança em que trabalha. A fim de concretizar seu sonho, ele se apossa de um protótipo com defeito, no qual passa a realizar experiências, até que vem à luz Chappie, robô que pensa e aprende sozinho. A invenção, claro, suscita propósito escusos, e Chappie é levado por criminosos que planejam assaltar um banco. Vincent, um engenheiro que disputa com Deon a preferência da chefe, sabota o trabalho do colega, atirando o país ao caos.

Um mundo em que máquinas ficassem tão perfeitas a ponto de confundir o homem, isso é possível? De que forma se apresentaria a vida a partir do momento em que percebêssemos que organismos artificiais passaram a ser tão humanos quanto nós — no que temos de pior, inclusive? O enredo de “Ex Machina” suscita essas e tantas outras perguntas, ainda que não faça a menor questão de fornecer as respostas. Um excêntrico milionário, dono de uma empresa que se dedica ao aprimoramento de dispositivos de inteligência artificial, seleciona um funcionário talentoso a fim de realizar testes para lançar um novo equipamento: um autômato com formas de mulher, capaz de sentir como um ser humano. Numa partida de xadrez, dá-se uma disputa quanto a provar quem seria o mais intelectualmente bem-dotado, se a robô, o empregado ou o patrão, e ainda mais do que isso: eles anseiam por descobrir possíveis defeitos uns dos outros. A favorita, claro, é a máquina que, além de não se abater por nenhuma espécie de pressão, conta com a vantagem de saber os pontos fracos dos outros dois. A alegoria do jogo de xadrez não é à toa: por meio do xadrez, um jogo que exige profunda capacidade analítica, o diretor Alex Garland propõe uma reflexão sobre os enfrentamentos entre as categorias mais distintas entre si — se concentrando no conflito de classes marxista, relido à luz do século 21 com a inclusão do componente robótico —, deixando o público livre para empenhar sua torcida a quem mais o apetecer, sabendo que ninguém ali é propriamente ingênuo. Mesmo a figura da robô, que a priori seria calculista e distante, adquire um ar sensual. Aliás, um dos grandes paradoxos do xadrez é justamente esse: para se vencer, é necessário muito sangue frio, mas igualmente uma boa dose de malícia, a fim de antever os movimentos do adversário. Trata-se de uma metáfora das relações humanas, mesmo quando não envolvem apenas seres humanos: quanto mais racional se pretenda o homem, mais emotivo ele deve se tornar. A natureza humana fagocita a máquina, ao passo que os algoritmos metabolizam o homem.