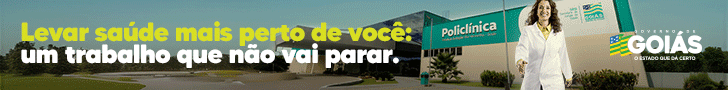Achava patética aquela coisa de bater panelas como forma de protesto político. Contudo, era líquido e certo que o governo estava, sim, a merecer os apupos do povo, pois, cometia uma série de desserviços à nação, principalmente, uma escandalosa inércia quanto à pandemia que apavorava o país matando gente a rodo. Tive a leitura interrompida pelo ribombar dos utensílios. Fui até a varanda e um punhado de gente batia panelas nos apartamentos. Lembrei-me da canção “Pelas tabelas”, de Chico Buarque. Tinha tudo a ver com o momento. Por que não nasci com olhos azuis?
Após um lapso literário abissal, eu lia 1984, de George Orwell, o tipo de livro que reitera a absoluta e crucial necessidade de defender a democracia e a liberdade de expressão com unhas e dentes. Ditadura é osso. Contra o autoritarismo vale tudo, inclusive, bater panela, protestar pelado na rua ou trepar nos velhos monumentos da república cagados pelos malditos pombos. Calma lá, meus irmãos: “trepar”, no sentido de “escalar”, se é que me entendem.
Quisera padecer de ejaculação retardada. Mas, não. Há anos atrasado, somente agora estava a concluir a leitura de “1984”, a obra mais famosa e emblemática do escritor George Orwell. São craques em literatura esses britânicos. “1984” é um clássico; o autoritarismo, idem, lamentavelmente. Não dá para brincar com calhordas que flertam com a ditadura.
Publicado em 1949, o incensado romance de Orwell fisgou-me pelos olhos, desde as primeiras linhas. Foi uma leitura, ao mesmo tempo, reflexiva, aterradora e cativante.
Não vou me alongar escrevendo uma resenha. Vários críticos literários já o fizeram, reiteradas vezes, com a devida propriedade. Muito resumidamente, apenas para o conhecimento daqueles que ainda não o leram, trata-se de um romance inspirado em fatos históricos como o nazismo de Hitler e a revolução russa, retratando com contundência, sarcasmo, criatividade e doses homeopáticas de humor negro, o totalitarismo, ao extrapolar todas as suas nuanças: partido único, arbitrariedade, perseguições políticas, prisões ilegais, torturas, execuções, sumiços de opositores, lavagem cerebral, alienação, espionagem estatal, nepotismo, loucura, etc. É uma história ficcional medonha, sofrível de se imaginar na vida real. Talvez, nunca estaremos livres do risco potencial das malevolências e das iniquidades descritas em “1984”.
Entrei com bola-e-tudo na trama construída, magistralmente, por George Orwell. Eu me permiti ser transportado para dentro da ficção e sofri, psicologicamente, imerso naquele contexto tóxico, rígido, particularmente caracterizado pelo absoluto impedimento das liberdades individuais, do livre-pensar e do ir-e-vir. Na sociedade descrita por Orwell há vigilância total e diuturna dos cidadãos, com as ferramentas estatais de bisbilhotar praticamente penetrando na mente das pessoas, uma insanidade fabricada. “1984”, que lembra Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, é um dos livros mais impressionantes e escabrosos que já li. Indico-o, fortemente. Impossível sair incólume de sua leitura.
Estava no epílogo do romance quando fui interrompido pelo panelaço. Há sempre uma enorme vantagem em permanecer quieto a observar o comportamento das pessoas, em geral, impressionante, bisonho, risível ou reprovável. A adesão ao protesto era alta. Bom sinal. Até Dona Eloá, a centenária velhinha do 301, que vivia morrendo de medo de morrer pelo Covid-19, que não punha os pés fora do apartamento fazia quase um ano, enfrentava a artrose, ao repicar animada a colher-de-pau no fundo de uma frigideira. A doce senhora, revolucionária desde o século passado, tinha mais elã do que eu, uma graça. Injuriada com o tumulto no horário nobre, a vizinha do 502, bela, liberal na economia e nos costumes, reacionária até os cornos, trovejava insultos da sacada, trajando a tradicional lingerie com as cores da bandeira nacional, contudo, balançando uma flâmula estadunidense — eu já não estava entendendo mais nada sobre aquele seu protesto particular —, mais apetitosa do que uma chuleta mal passada, a nora que mamãe não pediu a Deus. Eita, mãe, você bem que podia. Quisera ser torturado por aquelas tetas siliconadas. O colérico vizinho asiático do 704, que costumava alvejar gatos, cachorros e outros bichinhos de estimação com esferinhas metálicas desferidas por uma espingarda de pressão, agora, centrava artilharia contra paneleiros, esbanjando contentamento.
Liguei a TV, sintonizei no noticiário das 8 e o Bonner já repercutia as imagens dos manifestos domiciliares por todo o país. Andava apanhando muito o Bonner, desde os remotos tempos dos governos petistas. Aliás, a imprensa, de maneira geral, estava sendo desacreditada, escorraçada pelo presidente, pelos seus asseclas palacianos e pela malta raivosa que descarregava o verbo, turbinando publicações ilegais extremamente eficientes nas redes sociais do ódio.
O paralelo entre o romance distópico de George Orwell e a vida real cotidiana foi imediato. Já fazia algum tempo que eu andava acabrunhado com os rumos da política no país. Depois de ler “1984”, os meus receios só recrudesceram. Temores de um retrocesso político rondavam a minha mente. Parecia ridículo bater panelas da janela de casa, embora, dentro de um contexto pandêmico que exigia distanciamento social, tinha alguma lógica. Já haviam feito isso para derrubar a presidente mulher.
São grandes as incertezas na minha cabeça. Se a peste vai me pegar. Se sairei vivo da pandemia. Se o presidente vai renunciar, se vai tentar um golpe de estado, se vai ser afastado pelo parlamento. Se vou transar com a vizinha neofacista do 502. Não. Isso não. Não foi isso que mamãe pediu a Deus. E Deus, todo mundo já sabe, é brasileiro.