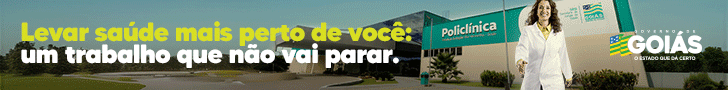Encontrei o Mofo na Marcha da Maconha. Ele e mais uns 300 desciam a ladeira com empolgação e malemolência. Fiquei preso no cruzamento da Pegasus com a Caralho-de-asas, onde os agentes de trânsito, vestidos de pincel atômico amarelo-limão, bloqueavam o fluxo de automóveis para que o manifestantes seguissem logo o seu caminho e não topassem com o pessoal da extrema-unção-de-direita que fazia, no mesmo dia e horário, uma passeata em defesa do desmatamento da cava-funda amazônica e da liberação imediata da caça ao comunistas.
Dentre tantos jovens no meio da rua, deparei-me com um veterano gorducho, baixinho, albino, de costeletas enormes. “Pô, mas aquele lá só pode ser o Mofo”, pensei. Era ele. Encostei o meu Volvo cor-de-vulva, desci do possante e gritei. Ele tirou os óculos escuros, semicerrou as pálpebras, confirmando uma miopia histórica. Reconheceu-me, imediatamente: o mesmo cara de cara apalermada, o mesmo ar desagradável, a magreza cadavérica de sempre.
Mofo tratou logo de demarcar território desferindo um beijo técnico na boca carnuda de uma garota incrível que estava ao seu lado, que ele me apresentou mais tarde como sendo a sua terceira esposa, e não a filha caçula. Gesticulou de forma atabalhoada, sinalizando com as mãos para que eu me juntasse ao grupo e pegasse a rua descendo. Eu não estava com a menor vontade de mudar o país, muito menos, de apoiar qualquer coisa diferente de cada um cuidar da sua vida. Andava pegando ojeriza de gente nos últimos tempos. Por outro lado, eu não tinha mais nada pra fazer naquela calorenta tarde de sexta-feira, a não ser morrer de tédio. Então, dei de ombros, meti o boné na calva e corri para alcançar a multidão. Talvez fosse proveitoso e divertido marchar com a juventude.
Fazia um tempo danado que eu não via o Mofo. Quando garotos, estudamos juntos no Colégio Marista, que a gente chamava, na época, de Colégio Nazista, graças à disciplina rigorosa, porém, indispensável para manter sob rédeas curtas a legião de encapetados que éramos. Abraçamo-nos com uma intimidade comovente. O Mofo mantinha aquele inconfundível cheirinho de cecê-com-Palmolive. Estava troncho, parecia combalido, manquitolava muito da perna esquerda. Perguntei o que tinha sucedido e ele explicou que tinha se aposentado por invalidez. Fora atropelado, maldosamente, pelas costas, por um boi sem coração, durante uma fiscalização de rotina da agência rural, que obrigava os criadores de gado a vacinar os rebanhos contra a raiva humana.
A densa névoa da canabis sob o sol escaldante impregnava as minhas narinas e me embrulhava o estômago. O casal disse que já tinha feito dois nenéns. Pela silhueta voluptuosa, ela parecia nunca ter parido uma azeitona na vida, quem dirá, duas crianças. Mofo explicou que, passadas quatro décadas desde os bancos escolares, voltara a fumar maconha. “Uso recreativo, você sabe.” Eu disse que não sabia de nada; de olho no recreio que parecia ser o quadril risonho da sua jovem companheira, aparentemente uns 30 mais nova do que ele.
Mofo contemporizou que a fase de catar cogumelos alucinógenos no campo, remexendo em bosta de vaca, já tinha passado. O objetivo, hoje em dia, era fumar a erva para abrir as “janelas da percepção da mente”, otimizando o processo criativo. O desgraçado tinha voltado a escrever. Explicou que estava debruçado sobre o projeto de um novo livro, um romance escatológico cujo título provisório era “Entre os monges do mosteiro”. Achei aquilo, sim, uma verdadeira droga e fiquei com a impressão de já ter lido coisa parecida na capa do livro de um antigo charlatão que tinha três olhos e vendia pirâmides.
Não entendi quando ele explicou que preferia fumar a coisa-toda longe das crianças para não dar mau exemplo. Se a experiência era tão boa quanto dizia, nem precisava se esconder da prole. Aquilo soou mais hipócrita do que preenchimento-para-sutiãs. Mofo contratou um chaveiro, fez uma cópia clandestina da fechadura e, sempre que necessário, refugiava-se para fumar no apartamento vizinho, que estava desocupado desde a morte acidental dos seus proprietários, um casal de otários que fora devorado por javalis ateus durante um safári no Zâmbia. Mesmo não acreditando em Deus, os javalis estavam cobertos de razão.
Mofo comentou que se sentia vazio como um filósofo sem causa e já tinha pensado, um monte de vezes, em se atirar da sacada do prédio. “Cinquentões como a gente precisam suportar firme o tranco. São demais os perigos dessa vida”, sem saber ao certo o que dizer, eu recitei aquelas palavras no automático, mais raso do que cuspe no asfalto. Eu salivava de náuseas. A esposa do Mofo comentou que o que eu tinha acabado de falar tinha sido muito fofo da minha parte e que ela também adorava o Vinicius. Fiquei sem entender a quem ela se referia.
“Quer dar uma tragada, gracinha?”, ele ainda chamava a todos, indistintamente, homens ou mulheres, de gracinha. Respondi que não, obrigado. Aliás, foi muita sorte minha ter pego a passeata na reta final. Minha asma não combinava com nenhum tipo de fumaça. Não demorou muito, chegamos à Praça dos Apressados, onde a balbúrdia já tinha se instalado. Fomos recebidos pela polícia à spray de pimenta, acarajés vencidos e balas-de-borracha, enquanto uma banda de reggae, que mais parecia tocar de ouvido, tamanho o desencontro harmônico entre os seus integrantes, sapecava toscos solos de guitarra.
Os microfones foram desligados. O pau cantou. “Foge, meu velho! Salve-se!”, o Mofo berrou, deu um tapão nas minhas costas e saiu correndo, lépido como uma lebre, entre os canteiros malcuidados da prefeitura, puxando a sua gata pelas patas. Ela parecia flutuar como num desenho animado. Seria uma alucinação? Eu, que era cético como um javali, tive que me render ao milagre que acabava de se materializar ali na minha frente. O Mofo, meu antigo colega de escola, um irreverente e claudicante veterinário que quase comera capim pelas raízes ao ter a coluna vertebral desmontada por um vertebrado de meia tonelada, parecia agora mais veloz e saudável do que nunca. Pelo visto, quem pagou o pato foi o boi sem coração que tinha virado churrasquinho.