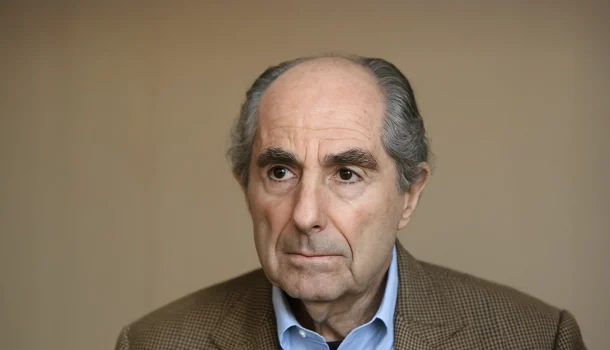Talvez nenhum escritor tenha sido mais feliz em decifrar os tantos segredos de sua Terra como Philip Milton Roth (1933-2018). O autor, voz ativa e lúcida no cenário cultural e artístico — há que se pontuar essa diferença — da América de seu tempo, percebeu com rara agudeza de espírito que alguma coisa não vai bem num país que preocupa-se demais com o que seus cidadãos fazem na cama com outros adultos, ao passo que a ameaça real estende seus tentáculos sobre a maior potência geopolítica do mundo sem ser incomodada. O escândalo Clinton-Lewinsky (sim, foi um escândalo) tirou o sono de republicanos e, claro, democratas, mas é uma diabrura de criança se comparado com o que viria depois, o pouco-caso com questões a exemplo de segurança interna, imigração e economia, que juntaram-se numa cumbuca apertada e acabaram por degringolar no Onze de Setembro. Bem a seu modo, desaboatadamente, Roth explica em “A Marca Humana” esse gosto por ser a palmatória do mundo que acomete os Estados Unidos. Junto com “Pastoral Americana” (1997) e “Casei com um Comunista” (2000), “A Marca Humana” compõe a aclamada Trilogia Americana, na qual o romancista esgrime sobre a onipresente crise de identidade nacional, racismo e a praga do politicamente correto. Em mais de quatro centenas de páginas, a pena de Roth vai muito além do que se poderia supor, numa narrativa tão fluida quanto perturbadora.
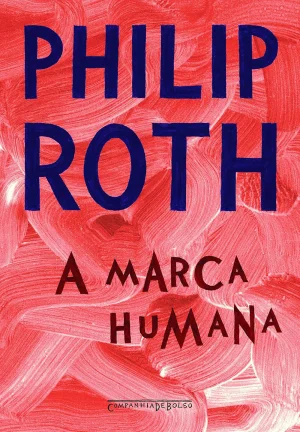
Coleman Silk, ex-reitor da Universidade Atena e agora professor na instituição, estranha o absenteísmo de alguns estudantes. Os dias correm, ele ministra suas aulas de literatura clássica — Silk é um dos maiores conhecedores da “Ilíada”, o poema épico de Homero (928 a.C. – 898 a.C.) —, os tais alunos continuam sumidos, e então ele cai em desgraça. Ele pergunta à classe se conhece os “fantasmas” e para seu azar os ausentes são negros. O termo “spooks” do original refere-se tanto a espectros, almas penadas assombrações, como também pode serum jeito pejorativo de dirigir-se a pessoas de cor, como ainda se usa dizer nos Estados Unidos, e, claro, foi essa a conotação a que quiseram associar sua fala. Tem início uma caça às bruxas, liderada por uma certa Delphine Roux, também docente da Atena, que redunda na aposentadoria compulsória de Silk. Ele sabe que, aos 71 anos, sua vida acadêmica está encerrada e, não muito tempo depois, Iris, a esposa, morre de um derrame cerebral, decerto ocasionado pelo estresse da situação. Os filhos abandonam-no. O infeliz encharca-se em uísque enquanto ouve o jazz dos irmãos George (1898-1937) e Ira Gershwin (1896-1983), e Roth o bombardeia com um tal pessimismo que qualquer um supõe que não tarda para que dê cabo de sua vida. É aí que conhece Faunia Farley, uma faxineira da universidade trinta anos mais nova e semianalfabeta.
É na figura ingênua e amargurada de Faunia que muito de “A Marca Humana” há de ser resolvido. Roth continua a esgaravatar a hipocrisia do americano médio, um verdadeiro tumor a alastrar-se por entre os fios das relações, atingindo inclusive o próprio Coleman Silk. Nathan Zuckerman surge como o alter ego de Roth, farejando as pegadas do velho professor na intenção de descobrir um pouco mais acerca daquele sujeito desditado, e nesse momento delineia-se a grande reviravolta do livro. Uma tragédia se abate sobre Silk e Faunia, patrocinada por Lester, o ex-marido da bela faxineira, um veterano da Guerra do Vietnã (1955-1975) que sofre com ataques de pânico e delírios persecutórios, e as elegantes alfinetadas de Roth vão doendo mais e mais. O encontro de Zuckerman, escritor como Roth, e Ernestine, a irmã de Silk, conduz à grande revelação da trama, a maquiagem racial do protagonista, um mestiço que levou a vida passando-se por judeu, contando com o desinteresse e a ignorância das pessoas acerca dos súditos do Reino de Judá. Também judeu, ainda que não praticante, Roth nunca furtou-se a se levantar contra o antissemitismo, tabu mesmo entre artistas e intelectuais americanos.
Traduzido como “Revelações”, o filme dirigido por Robert Benton em 2003 esforça-se por levar à tela um pouco que seja da polissemia das construções do texto de Roth, mas comete deslizes primários, como dar um verniz de inadequado rebuscamento a Silk, e suavizar em Faunia seu desalento e sua rudeza naturais. Fazendo justiça a sua aura de verdadeira obra-prima, “A Marca Humana” conversa com clássicos da estatura de “O Duplo” (1846), de Fiódor Dostoiévski (1821-1881) e “A Metamorfose” (1915), de Franz Kafka (1883-1924), o que sempre há de infundir no leitor aquele velho desconforto quanto a Roth ter passado batido pelo Nobel. Mas Dostoiévski e Kafka também nunca precisaram de galardões.