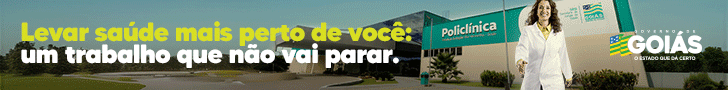Se desgraça pouca é bobagem e se na vida há situações para as quais não há mesmo remédio, o mais inteligente é se conformar e tentar tirar alguma lição da tristeza. Enquanto vamos nos acostumando à ideia da perda, surgem outras oportunidades claro — mas só para quem se permite enxergar além da nuvem e avistar o sol, por mais opaco e distante que pareça. Não é fácil, mas um amor que acaba, e na noite de réveillon, precisa ser superado. Chorar uma noite, um dia, mais que natural, é recomendável, mas amarrar o bode até o ano seguinte, ou dois, ou mais, não tem nada de engraçado. Ou talvez até tenha, nas mãos de quem entende da coisa. Se levar um fora é um assunto polêmico, só o é porque mal conduzido, até porque o cotovelo de todo mundo já doeu muito um dia. Se quem o estiver explanando for Macon Blair, ainda que na pele de um personagem, tenha a certeza de que você vai se esquecer rapidinho daquela ingrata ou ingrato que você amava e que lhe deixou na pior. Antes de hora e meia, a duração de “Mustang Island” (2017), cuidadosamente dirigido por Craig Elrod.
Blair, comediante com que há muito o cinema não topava, conta com outros dois intérpretes de tipos masculinos e uma atriz a fim de desenvolver o plot. O trio, completado por John Merriman e Jason Newman, além de Lee Eddy, deixa muito humorista no chinelo, e não qualquer humorista. A referência aos Três Patetas Moe Howard (1897-1975), Larry Fine (1902-1975) e Shemp Howard (1895-1975) é óbvia, até no que diz respeito ao physique du rôle, mas há momentos francamente luminares em “Mustang Island” em que Blair, Merriman e Newman, nessa ordem, superam os veteranos. No filme de Elrod, o líder do terceto esquece parte da acrimônia do thriller dramático “Já Não Me Sinto em Casa Neste Mundo” (2017), dirigido e roteirizado por ele e com o qual venceu o Festival de Sundance, e se debruça com um pouco mais de leveza sobre Bill. Seu personagem, protagonista do roteiro coescrito pelo diretor e Nathan Smith, é dispensado pela namorada Molly, de Molly Karrasch — a brincadeira de Elrod e Smith de dar a quase todos os personagens os nomes de seus atores poderia soar apenas como falta de imaginação, mas pela despretensão com que a história é trabalhada cai muito bem —, na noite de Ano Novo, pouco antes da virada. Ele então deixa a festa, cheia dos risos falsos de que muitos hão de se envergonhar no dia seguinte, e se lança estrada afora, até conseguir a proeza de, esforçando-se por sufocar um soluço de choro indomável, bater contra um barco (!), abandonado às margens da rodovia. A impressão que fica é que esse romântico, o mais atrapalhado deles, tem o condão de atrair para si o azar de toda uma Via Láctea, repleta das estrelas que um dia também foram corações partidos.
Vencida a pior noite que já viveu, Bill decide que é cedo para jogar a toalha e conclui que precisa contra-atacar com algum plano mirabolante, capaz a um só tempo de impressionar Molly e deixar claro que não pode viver sem ela. O personagem de Blair, um teimoso convicto, resolve ir para a Mustang Island do título, a Ilha do Cavalo Selvagem, lugar inóspito, rústico no Golfo do Texas, com casas de madeira, suspensas por causa das inundações permanentes, onde, fica sabendo, sua agora ex-namorada foi passar o feriado. Leva consigo o irmão John, de Merriman — que lhe empresta sua picape a contragosto —, e Travis, o melhor amigo dos dois.
Com sua simplicidade burilada, Blair consegue dar a “Mustang Island” a dimensão de comédia romântica e dramática — ou dramática e romântica — que Elrod certamente buscava, e a adição de Lee a essa fórmula essencialmente vitoriosa torna o filme imbatível. Lee, a garçonete que Bill conhece numa das poucas lanchonetes da cidade, por quem se vai se interessar (mas só depois que ela diz com todas as letras que não quer nada com John, com quem estava porque o outro irmão parecia não dar mesmo prova nem de que superaria a rejeição de Molly e desistiria dela, nem de que precisava ficar sozinho), o leva a perceber que talvez ainda exista uma chance dele ser feliz no amor. Mas a reviravolta que o diretor escolhe para dizer que o amor — ou o que se espera que isso seja — é um sentimento tão previsível quanto selvagem e separá-los é tão elementar que ninguém ousa atribuir-lhe algum defeito. Muito menos numa narrativa tão fluida e acolhedora quanto esta.
Filmado em preto-e-branco, talvez o único desacerto no primoroso trabalho de Craig Elrod — a técnica da monocromia, lembrada em outras comédias românticas como “Blue Jay” (2016), dirigido por Alexandre Lehmann, e “Malcolm e Marie”, de Sam Levinson, por “evocar a tristeza e a indefinição dos relacionamentos humanos” começa a cansar —, “Mustang Island” tem sua força ancorada mesmo em Macon Blair, à primeira vista tão inexpressivo que assusta ao deixar claro que é um ator de raro gabarito. Indo do mocinho desprotegido, ligeiramente infantilizado (o que não deixa de encantar), ao cafajeste involuntário, que magoa justamente por não se ater demais à complexidade das relações, mesmo as mais fugazes, Blair prepara ao espectador surpresas grandiosas. Sua performance, sutil, superposição necessária à aspereza das sequências iniciais, é uma das qualidades mais louváveis no longa, que talvez seja tão bom porque respeita o tempo do enredo e acaba na hora certa. Saber o momento do fim é uma arte, no cinema e na vida.
Filme: Mustang Island
Direção: Craig Elrod
Ano: 2017
Gênero: Comédia/Drama/Romance
Nota: 9/10