É conhecido que Roberto Schwarz tem o status de renomado intérprete de Machado de Assis. Talvez seja o maior deles. O que pouca gente conhece é o lado dramaturgo e poeta do crítico literário. Nascido na Áustria em 1938, ele é um dos mestres do pensamento social no Brasil, com uma escrita que apenas os grandes autores conseguem alcançar. A peça teatral “Rainha Lira” (2022) acaba de sair em formato de livro e é um dos principais acontecimentos culturais dos últimos tempos.
Trata-se de uma encenação na forma de tragédia e farsa. Como Sartre bem ensinou, a dramaturgia, a poesia ou o romance são caminhos possíveis quando se esgotam as possibilidades do ensaio e do pensamento. Chega a hora em que é preciso dramatizar situações, algo que apenas a ficção é capaz de alcançar. E Schwarz tem, ao mesmo tempo, a mão do pensador rigoroso e do artista. Cada palavra está no lugar planejado — nada sobra ou falta — para mostrar as contradições do país e do mundo.
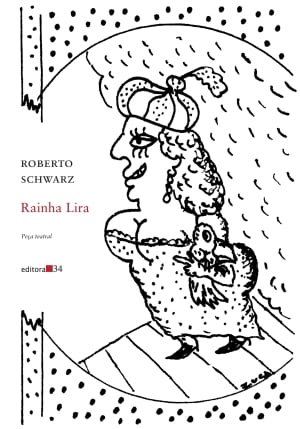
A escrita de Schwarz pode parecer fora de moda, ainda mais para a dramaturgia atual. Em tempos que valorizam os dramalhões de Nelson Rodrigues, ele oferece um estilo que recorre ao teatro épico de Brecht, ao modernismo de Oswald de Andrade e, logicamente, à ironia machadiana. Há o gosto declarado pela paródia, ou seja, a incorporação explícita dos estilos de outros autores. Um jogo de textos para estilizar a realidade — no caso de “Rainha Lira”, o transe nacional a partir dos protestos de rua de 2013.
Em 1969, Schwarz escreveu a peça “A Lata de Lixo da História” com base em uma paródia de “O Alienista”, de Machado de Assis. Segundo ele, foi um encontro do texto machadiano com “O Príncipe”, de Maquiavel, para expor o “pastelão macabro” dos acontecimentos do Brasil pós-1964. Diante do que ocorria na época, o personagem Simão Bacamarte e sua obsessão de prender todos os loucos da cidade ganharam ares contemporâneos e elucidativos para se analisar a situação política.
Com a nova peça, arma-se o teatro político do século 21. A Rainha Lira está encastelada sob pressão de seus opositores em Brazulândia — ou simplesmente Brazul. O impasse está na crise do reino e na disputa por sua sucessão, na qual concorrem as três filhas: Valentina (a guerrilheira), Austéria (a financista) e Maria da Glória (a fazendeira). A conspiração para sua derrubada inclui os aliados dela: Fidelino e Alves (donos do dinheiro). E o povo enche as ruas em manifestações para cortar a cabeça de Lira.
“Eis a rainha Zigue-Zague, também conhecida por Zague-Zigue, que só entra para sair e só sai para entrar. Se ela dá um passo à esquerda, é porque vai para a direita. Se der um passo para trás, sai da frente porque vai avançar. De coração é revolucionária, por experiência é ressabiada, mas não completamente, o que atrapalha tudo. Indecisão é com ela mesma”, diz o Bobo da Corte, ao apresentar a majestade de Brazul ao leitor.
O caráter volúvel da rainha vai contrastar com as certezas do personagem Chefão/Coiso, que aparece mais ao final da peça. Pode ser uma crítica do autor aos social-democratas ou aos defensores do liberalismo que entregaram a “rapadura” para a direita nacional e mundial. De concreto, a volubilidade é a característica maior das classes altas, conforme a leitura que Schwarz fez das “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, em seu livro “Um Mestre na Periferia do Capitalismo: Machado de Assis” (1990).
Povo em cena
O líder das revoltas em Brazul é o jovem Progréssio, cuja mãe (Rita) foi uma comunista destacada no passado. Também há a professora Vera, que comanda os protestos dos estudantes. Schwarz insere uma série enorme de falas anônimas que representam as vozes de quem está na rua. As cenas são claramente uma alegoria do país a partir das jornadas de 2013. Mas um detalhe essencial: o autor faz uma crítica incisiva das ilusões populistas que ora glorificam o “povo”, ora enaltecem as “classes altas” ditas racionais.
Os populares de “Rainha Lira” estão com as esperanças em níveis rebaixados. O desejo máximo de “revolução” é ter bens de consumo (geladeira, carro, filhos na universidade). O Brazul tornou-se uma terra de “sujeitos monetários sem dinheiro”, segundo a fórmula que Schwarz emprestou de Robert Kurz. A sociedade está dissolvida, disforme. Um pobre não se reconhece mais no pobre ao lado. Resta a desintegração que o crítico literário viu nos romances “Estorvo” (Chico Buarque) e “Cidade de Deus” (Paulo Lins).
Em certo trecho, Progréssio resume para a mãe Rita a situação dos pobres: “E papai que não quer contar que foi demitido. Mês que vem, ao mais tardar, seremos proprietários com menos comida no prato, apesar do carro na garagem e do filho universitário. A saída inteligente seria botar a casa no aluguel, enfrentar o preconceito e mudar para a favela, onde é mais econômico. Acho melhor que voltar para a família no interior. Já disse, e repito, que não aceito caco de vidro no muro, nem cachorro bravo no quintal. Os ladrões são desempregados como nós”.
Dada a quantidade de personagens, a peça dificilmente pode ser levada a um palco tradicional. Sempre longas, as falas traçam retratos provocativos de que se passa. Nada é gratuito, tudo é elucidativo. O ensaísta Schwarz coloca criaturas fictícias para analisar a situação. Assim, “Rainha Lira” constrói uma interpretação do que ocorreu nos últimos dez anos. Mais ao final, porém, a trama desemboca no impasse maior: Lira foi deposta e vai parar na favela, e os conservadores e os estudantes acreditam ter obtido uma vitória.
Nesse momento, surge o personagem Chefão. Ele é o homem do povo, aquele que veio de baixo, e tem solução para o imbróglio de Brazul. É quando ele se transforma no Coiso, que propõe a instauração da mais pura violência para administrar o país. Recebe assim o apoio das filhas conservadoras de Lira e dos ex-aliados da rainha deposta. Estes acham que o problema será resolvido com a entrega do poder à turma do Coiso — que, no final das contas, é a representação das milicias e versão urbana dos velhos jagunços.
“Ninguém fala comigo, mas não sou corpo estranho nessa festa. Para ser claro, digamos que esqueceram de me convidar. Algum segurança vai dizer que sou penetra? Agora que somos sócios, vocês vão se acostumar com a minha presença. Minha e do meu pessoal”, diz o Coiso, que apresenta dois companheiros para gerir Brazul dali para frente: “Este é o Juca Tabuada, bom de números. Ele é contador formado e fez dois anos de direito. Vai controlar os pagamentos no dia 15 de cada mês. O outro matou aquela moça dos Direitos Humanos coisa e tal”.
Transe nacional
Mas qual o contraponto ao Coiso e ao bando de novos jagunços? A peça “Rainha Lira” termina com a apresentação da redenção possível: o Rei que está preso e que pode restaurar o quadro anterior (o mesmo que gerou as revoltas de rua). A esperança (falsa?) reside em sua libertação. A solução é na linha do sempre a mesma coisa” de Machado de Assis. Como há parentesco óbvio da peça com o filme “Terra em Transe”, de Glauber Rocha, os leitores e as leitoras de Schwarz estão livres para fazer correspondências entre personagens da história e figuras da vida real.
“Rainha Lira” pode ser lido como um grande romance ou um painel histórico. A escrita é experimental, buscando a superação de fronteiras. É estranha, incômoda, mas a ficção expande a imaginação. Há falas que são poesia pura (o autor fez parte do movimento Marginal nos anos 1970), e outras se aproximam do ensaio. A mistura disso tudo cria uma interpretação desdramatizada — bem em linha com o gosto literário de Marx pelo teatro ao analisar as revoltas parisienses de 1848, no livro “O 18 Brumário de Luís Bonaparte”.
Desde os anos 1960, Schwarz concebeu as análises mais agudas e polêmicas sobre a realidade e a cultura brasileiras em sua relação com o mundo. O país visto pelo prisma cultural. A realidade social e histórica é filtrada pela estética. Há dez anos, por exemplo, um ensaio dele analisando o livro “Verdade Tropical”, de Caetano Veloso, causou um verdadeiro terremoto e abalou certezas. Não é pouca coisa para esse austríaco de origem judaica, que chegou ao Brasil com a família fugindo dos nazistas, foi obrigado a se exilar na França em 1969 e encena agora o transe da sociedade brasileira.






