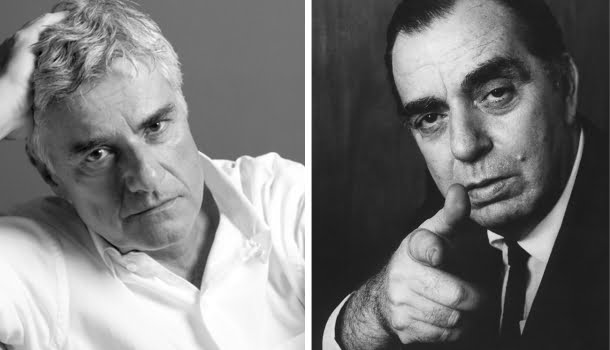Existem as caricaturas, o sensacionalismo, a apelação, a esculhambação e falta de respeito explícitos, e existe o distanciamento científico, a cultura e o gênio dos homens acima de qualquer suspeita e, sobretudo, acima do ridículo. O objeto é o mesmo. Difícil achar um meio-termo. Tentei na ficção porque é o esconderijo perfeito. E mais do que esconderijo, a ficção poderia ter sido um álibi perfeito. Infelizmente não funcionou. Uma vez que experimentei o ridículo, a mistificação, o medo e o terror na própria pele, ou seja, não consegui sequer me enganar: a realidade foi muito mais poderosa, e agora exige retratação.
Então peço aos leitores que tomem as palavras que seguem como uma retratação da realidade. Atentarei apenas aos fatos, e espero que o relato dos mesmos não agrida àqueles que tratam do tema com seriedade — pois quero muito acreditar que essas pessoas existam, apesar da decepção que experimentei, e da vergonha imensa que permanece até hoje. Quero sinceramente acreditar que existam os que acolhem em vez de extorquir, os que consolam em vez de promover o terror psicológico, e se existirem com certeza não terão qualquer motivo para se ofender ou melindrarem.
Num intervalo de 40 dias perdi pai e mãe, e tive meus primeiros títulos publicados em Portugal, aliás, sobrevoava o Atlântico no exato momento em que meu pai era enterrado nos cafundós de Minas Gerais. Então era isso mesmo: guarda-baixa, carência, fragilidade, desespero, final de um ciclo estável e amoroso, e começo de um outro que abria um vazio desgraçado dentro de mim, e prometia me devorar minutos depois que minha mãe baixou à sepultura, quando cruzei os portões do Cemitério São Paulo absurdamente sozinho, ou mais que isso: era a vertigem da solidão que alimentava um vazio que só fazia crescer e ameaçava me engolir, como se um veleiro fantasma me navegasse na direção das encostas de uma ilha, eu ia arrebentar. Nada fazia sentido.
No dia seguinte, nem bem o corpo da vechia havia esfriado, me aparece a baixinha — depois de anos de sumiço — então lhe falei que no dia anterior havia enterrado minha mãe. Ela acendeu o cigarro, sorriu, soltou a fumaça na direção do teto, fez um comentário horroroso “vim pela carniça”, e depois me beijou na boca.
Interpretei como se fosse sinal de vida, algo que vinha para me resgatar da colisão, estava tão fora de mim que nem atinei para a necrofilia. Na sequência, como era de praxe e para reafirmar o modus-operandi, ela desaparece.
Não dava mais para ficar em São Paulo. Fui para o Rio de Janeiro e, na mesma semana, tive a infelicidade de cair no covil de uma mãe-de-santo que não teve o menor constrangimento em me tocar o terror – sem que eu tivesse a mínima chance de reagir: — entregou-me todas as carniças, as pretéritas vislumbradas em detalhes, a presente que era minha perplexidade em estado de paralisia, e a carniça futura, ameaçadora: “ou você tem um filho com essa mulher, ou vai ter uma morte lenta, dolorosa e solitária”.
Nesse momento já era refém da mãe-de-santo. E ela foi bem clara: “a partir de agora o diabo está no comando, vamos agir”.
Nem bem havia digerido as ameaças, e a fdp acrescentou mais nonsense, ou seja, redobrou as ameaças, e trucou: “Hoje mesmo vou encomendar uma criança na Rocinha, a sacrificamos na próxima lua cheia, e tudo se resolve”.
É o ponto onde eu queria chegar. A mulher me fora recomendada por uma amiga queridíssima, uma das pessoas mais doces e inofensivas que conheci na vida. Na situação em que me encontrava, avaliei que somente a magia podia me trazer de volta à realidade ou me levar para um outro mundo onde qualquer outra realidade diferente da minha poderia fazer algum sentido, e aquela feiticeira — sem dúvida — era a encarnação deste outro mundo, o candomblé. Bem, no entorno da aclamada sacerdotisa, dezenas de “filhos e filhas” a serviam como se ela realmente fosse a embaixadora do mal sobre a face da terra: no apartamento de Ipanema, a uma quadra da praia, atendia todo tipo de figurões; desde políticos, desembargadores, empresários, artistas e jogadores de futebol até núncios, apóstolos e bispos coroados. Eu mesmo cruzei com uma famosa atriz que, à época, participava do Programa do Faustão: virada num capeta. Quando a global rosnou para mim e avançou na minha direção feito um animal não entendi nada (hoje entendo). O clima era bem pesado e intimidador, a entrada e a saída dos consulentes eram controladas por militares fardados e meganhas à paisana. Mas na chácara é que o caldeirão fervia.
Na “chácara”, em Barra do Piraí, a mãe de santo comandava as matanças e os sacrifícios: “bispo coroado?… o bispo, aquele??”
“Ele mesmo, o número sete. Ergueu um diabo à imagem e semelhança dele: setenta e sete quilos de ouro maciço. Fica isolado num altar especial. O bispo é um dos benfeitores da chácara, oferecemos assistência social e amparo jurídico às meninas vítimas de violência familiar”.
Além da condição de refém, havia entrado em parafuso com as informações que ela me passava: “também temos um sistema de distribuição de coleta e doação de alimentos que atende a população carente da região”. A mãe-de-santo juntava o bem e o mal no mesmo pacote com uma naturalidade desconcertante: “Uma vez por ano os recebemos com grande reverência e humildade, ele e os outros mestres da obra, todos adoradores do diabo, é a festa do sangue”.
Tinha algumas coisas em mente, além de estar apavorado: de um lado o ridículo, a evidente manipulação, e o show de breguice milionário promovidos pelas igrejas neopentecostais, e a fé honesta das pessoas humildes que — embora exploradas pelos falsos profetas e rematados adoradores do diabo — inegavelmente encontravam um certo refrigério e alento para suas almas. De outro lado, a antropologia, a alegria e a formação do povo brasileiro, os grandes fatumbis, mensageiros e promotores do encontro das civilizações, os pioneiros Verger e Roger Bastide, este último ideólogo da Universidade de São Paulo e orientador de FHC, porém mais do que construtores de pontes — pensava comigo mesmo: — Bastide e Verger inauguraram a linha do tempo/identidade moderna brasileira juntos com Caribé, Jorge Amado, e Darcy Ribeiro, meus ídolos, depois Vinicius & Baden Powell, Betânia, Gil, mãe menininha do Gantois e tantos outros, bem, resumidamente, estamos falando do melhor que se produziu nas artes e na enfeitiçada cultura brasileira do século 20. E, no meio do fogo cruzado, literalmente na encruzilhada, uma intrusa (?) a me pressionar: “E agora? Posso encomendar o inocente?”
Era o que ela me propunha: comprar uma criança na Rocinha, e oferecê-la ao diabo, era isso mesmo: candomblé sem preâmbulos, nada de coloridos e bordados, nada de cravo, nada de canela e zero de sensualidade, transcendência sem vaselina e sem escaramuças antropológicas, amarga, bárbara, na veia. Candomblé na lata, foi o que experimentei. O lixo do sobrenatural encarnado, em branco-e-preto, vis-à-vis, a morte tête-à-tête. Era o fim do Brasil que eu acreditava ser o mais bonito, era a realidade escrota que dinamitava a ponte dos fatumbis, que se sobrepunha ao passado e à Roma Negra idealizada por Darcy Ribeiro, que destruía os encantos e talentos, os que floresceram e os que haviam de florescer, era o final da picada o que ela me propunha: “Esse é o lugar que dá o que você pede”, faz qualquer negócio, e não o julga desde que você entregue sua parte; o bem e o mal, dizia, são apenas categorias criadas por homens aprisionados no espaço-tempo, homens que não tem contato com os deuses da terra, do ar e do fogo, pobres criaturas desprovidas de magia, reféns de esquemas lógicos que desconhecem o anti-horário e as camadas de matéria sobre a matéria que os envolvem; apenas mortais que não participam dos ciclos na natureza e da vida que não lhes pertence: “não temos muito tempo, você precisa me autorizar”.
Homens que não participavam da vida que não lhes pertencia. Ela havia dado um nó nas tripas do meu cérebro. Eu ia entregar os pontos.
Ora, bastava beber o sangue do inocente e dividi-lo com o diabo, depois adorá-lo, festejar o reino da terra na face da terra, e, claro, dar seu coração e o que mais pudesse lembrar que um dia você foi um ser-humano que teve algo sagrado batendo dentro do peito. Todavia, conforme a necessidade, o cagaço e urgência do freguês, a mãe de santo podia substituir simbolicamente “o inocente” por outra oferta, não era o ideal, mas tudo certo; também aceitavam pagamento em espécie: para ela/ele tanto fazia levantar um templo salomônico, tatuar um tridente no ânus ou entregar-lhes um funk & duas mariolas, enfim, cada qual tem seu preço, era só combinar. Mas os efeitos, claro, dependiam dos sacrifícios “com criança ou sem criança?” atribuídos à causa, o freguês que escolhia.
Não bastasse a macabra negociação, ainda tinha um filho prometido no pós-ventre da mulher-carniça que salvaria minha vida, mas para tanto era preciso fazer a troca, o sacrifício. Afinal, Vinicius, que é meu herói e inspiração, também foi fiador de Herodes, qual o problema? Olho por olho, dente por dente. Bem, como eu disse, uma vez que não tinha bala na agulha para levantar um templo salomônico e nem pretendia defender uma tese na USP, e muito menos tatuar um tridente no ânus, optei pela ficção, e substituí a criança por uma boa quantia em espécie mais a promessa — realizada — de um livro que está à venda nas boas casas do ramo, cujo título é “Quanto Custa um Elefante?” (Editora 34).
Qual é o feitiço que separa o nonsense da realidade, onde termina um e começa o outro? Onde termina a caricatura e começam as garatujas? Por que, afinal, o neopentecostalismo não tem a mesma aura e o prestígio acadêmico do candomblé? Ora, os ativos — ou arquétipos de baixa frequência — que ambos cultivam são os mesmos, independentemente da qualidade do produto que oferecem, trata-se da mesmíssima procedência. Talvez a diferença consista no fato de que, no candomblé, a qualidade intelectual e artística dos envolvidos faça reluzir um certo brilho, algo ao mesmo tempo grandioso e interditado, uma espécie de brilho solar que primeiro causa êxtase e cegueira e, depois, legitima simbolicamente até o crime mais escabroso. Acho que é mais ou menos isso.
E se as igrejas neopentecostais investissem mais em semiótica e menos em clareamentos dentais e materialização de camionetes? Será que a partir deste ponto a cultura brasileira voltaria a florescer? Ah, quanta bobagem, quanta ingenuidade!
Sonho de um cara que acreditava na força e na beleza do sincretismo brasileiro, em Caymmi e Caribé, na paixão de Di por Marina Montini, na morte e na morte de Quincas Berro d’água, ah, tudo tragado pelo esgoto do candomblé. Depois da experiência medonha pela qual passei até Sargentelli dançou, nunca mais. O que é crime e o que é cultura?