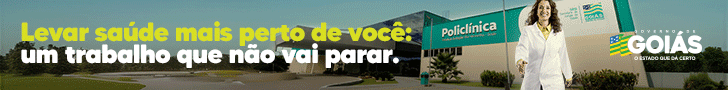Às vezes é necessário ir para muito longe a fim de se sentir em casa. Essa é uma das conclusões a que se chega ao final de “Minari: Em Busca da Felicidade” (2020), dirigido pelo sul-coreano-americano Lee Isaac Chung. Antes um território situado na península de mesmo nome ao nordeste da Ásia, composto por duas nações soberanas ao norte e ao sul, a Coreia sempre viveu sob tensão constante, cenário que se agravou muito a partir de 1950, quando da eclosão de uma sequência de conflitos armados ao longo dos quais os exércitos do Norte invadiram a porção meridional. A Guerra da Coreia só veio a cabo três anos depois, graças a um armistício. Tomando a história oficial por base, a nenhum dos dois foi conferida a vitória, mas ao se analisar o contexto das duas nações no mundo hoje, a hegemonia da Coreia do Sul sobre a irmã do norte é evidente. O país dispõe de um governo democrático, cujo sistema econômico, sempre em visível crescimento, é responsável por garantir à população modelo de vida comparável ao de muitas sociedades europeias e mesmo de algumas cidades dos Estados Unidos.
No que diz respeito à arte, nenhuma manifestação do gênero humano é digna de se classificar com tal denominação num regime autocrático — e hereditário —, como o que o povo da Coreia do Norte é obrigado a se submeter há mais de 70 anos. Malgrado seja reconhecida como um país independente desde 9 de setembro de 1948, o que se assiste na Coreia do Norte é um lamentável espetáculo, trágico e farsesco, que só se sustenta com a conivência e o silêncio de toda a comunidade internacional, a Organização das Nações Unidas (ONU) à frente. A Coreia do Norte continua negando o que todo o mundo vê — ainda que não tome parte —, e se declara simplesmente como um Estado em que vige um sistema político-econômico fundado no socialismo mais retrógrado, inspirado pelas barbáries do stalinismo mais grosseiro, em que o culto à personalidade do mandatário maior do país mais que dar o tom deve ser observado à risca, sob pena, dizem as autoridades, de prisão. Evidentemente, o castigo vai muito, muito além. A inventividade para o mal vai tão longe que foi criado um termo, juche, a fim de definir a propalada autossuficiência norte-coreana, que virou lei e passou a constar do arremedo de constituição, outorgada em 1972. Segundo a juche, os poucos meios capazes de gerar alguma renda pertencem ao Estado, que os capitaliza por meio de um universo de estatais e propriedades rurais expropriadas, insuficientes para produzir todo o alimento de que a população necessita, mas servem à perfeição quanto a extorsões, lavagem de dinheiro e delinquências que tais. Como se nota, no lodo em que chafurda a Coreia do Norte não existe nada de que se possa extrair algum proveito, muito menos cinema.
A Coreia do Sul, por sua vez, a pouco e pouco, do jeito oriental — e certo — de se fazer as coisas, garante seu torrão junto ao espectador, abordando em filmes produzidos com todo o esmero, temas os mais diversos, de dramas familiares a tramas de zumbi e outros monstros que infernizam a vida da humanidade na telona. Em “Minari: Em Busca da Felicidade”, o organismo defeituoso, enfermiço, horrendo de que se quer falar é o próprio homem, cheio de demandas, de vontades, sempre insatisfeito com as condições em que a vida lhe autoriza a se inserir. À medida em que foram se tornando um país maciçamente industrial, os Estados Unidos prosperava a olhos vistos, transformava-se na maior potência global, posto que ocupa ainda hoje — ameaçado de perto pela China — e precisava absorver mão-de-obra exógena, uma vez que sua própria classe trabalhadora se qualificava e assumia cargos melhores, com remunerações mais altas. O lumpemproletariado genuinamente ianque que sobrava, os rednecks (“pescoços vermelhos”, em tradução literal), não eram mais suficientes para suprir a carência por execução de serviços de baixo valor agregado e grande esforço braçal.
Diga-se tudo dos americanos, mas uma qualidade há que se admitir: eles reconhecem quem trabalha. E valorizam, ainda que em menor medida, o trabalho de gente que deixa sua própria terra no intuito de fazer a América grande. É preciso se fazer duas pequenas ressalvas no caso de “Minari”. Para começo, os protagonistas são oriundos de um país igualmente capitalista, a Coreia do Sul, que deu um verdadeiro salto evolutivo na esteira da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e da própria Guerra da Coreia, graças ao investimento sistemático e progressivo em educação. Como o filme evidencia, também existe pobreza no país asiático, já que seus protagonistas vêm de lá. O segundo comentário é sobre a natureza do trabalho que o chefe da família desempenha. Jacob — note-se que o processo de aculturação dos personagens estava já em estágio avançado, dado o uso de nomes adaptados para a cultura ocidental — havia passado pela Califórnia antes de aportar no Arkansas, estado do sudeste americano, abandonando uma vida de operário, leia-se, urbana, para se dedicar ao cultivo de hortaliças mais assimiladas aos usos dos próprios sul-coreanos, os imigrantes, entre elas a Oenanthe javanica, conhecida popularmente como minari ou agrião coreano, uma erva aromática empregada na culinária e com fins medicinais que, em desidratada, oferece também um tempero muito saboroso. Neste ponto, é forçoso apontar o obstáculo, que nunca se transpõe por completo, da integração à nova vida. Jacob e Monica usam nomes comuns na América, seus filhos são americanos, mas eles se sentem mais confortáveis perpetuando uma espécie de tradição, representada pelo plantio da minari.
O trabalho de Lee Isaac Chung, ele mesmo um homem de formação multiétnica, não tem o valor antropológico e nem mesmo o vigor fílmico do antecessor “Parasita” (2019), também sul-coreano, dirigido por Bong Joon-ho e ganhador do Oscar de Melhor Filme, a primeira produção não-americana a conseguir tal proeza, além de faturar os prêmios de Melhor Filme Estrangeiro propriamente, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original. Contudo, para abraçar temas tão espinhosos, “Minari” lança mão de tanta delicadeza, de tanta poesia mesmo, que é impossível não se render. Logo que tomam posse do terreno para onde Jacob despachara sua família, um matagal hostil e sem vida, os personagens vão se apercebendo das muitas dificuldades que terão para tirar daquele elefante branco alguma renda e, de fato, se estabelecer no novo endereço, Monica sobretudo. Aquele pedaço de chão é tudo quanto têm: o casal não dispõe de nenhuma poupança e não pode recorrer à ajuda de amigos, porque eles não existem. Voltar para a Coreia do Sul também não parece uma opção sensata, uma vez que no país natal passariam pelos mesmos apuros, majorados pela pecha do fracasso, legítimo anátema que estigmatiza homens orientais que, em não tendo conseguido empreender fortuna, são tomados por párias — e o índice de suicídios entre indivíduos do sexo masculino de 20 a 40 anos na Coreia do Sul é o mais alto do mundo entre países desenvolvidos, 28,9 por 100.000 habitantes, grande parte diretamente relacionados a questões como culpa, insucesso financeiro e honra. Seu lugar é ali e é ali que ele deve ficar.
A Ásia tem cavado um espaço largo na indústria cinematográfica recente de Hollywood, impulsionado a partir do drama “O Segredo de Brokeback Mountain” (2005), do taiwanês Ang Lee, que conta a história de dois caubóis que se apaixonam. A partir de então, uma pletora de trabalhos comandados por chineses, sul-coreanos e japoneses, nessa ordem, tem feito a festa de cinéfilos, em todos os gêneros. “Nomadland” (2020), dirigido pela chinesa Chloé Zhao, sobre uma mulher de meia-idade, desempregada e sem pouso certo, que roda a América à procura de um lugar em que se sinta em casa, virou o mais novo campeão de audiência e arrebatou junto a crítica. Lee e Zhao tiveram seu talento reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood e levaram para casa seus homenzinhos dourados: os dois foram laureados com o Oscar de Melhor Diretor, sendo que o filme de Chloé Zhao também foi eleito o melhor de 2020.
“Minari” termina da pior forma possível, circunstância provocada justo pela personagem mais cativante da história, a avó que se muda da Coreia do Sul para os Estados Unidos a fim de auxiliar a filha, sobrecarregada, nos afazeres domésticos — e já que falávamos de Oscar, louve-se a performance de Youn Yuh-jung, escolhida do júri como melhor atriz coadjuvante. Apesar da desgraça avassaladora que colhe aquela família, eles não se deixam abater e não se deixam separar. Tudo o que tem a fazer é começar de novo. Mais uma vez.