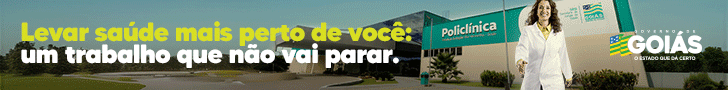Adam Smith (1723-1790), filósofo e economista escocês, viveu entre o começo e o fim dos Setecentos. Época de revoluções lapidares nas artes, na ciência e na economia, o feérico Século das Luzes mostrou ao mundo o gênio de Smith, responsável por elaborar uma das teorias mais completas acerca do liberalismo econômico, doutrina que, por sua vez, serviu de base para a fundamentação do capitalismo moderno. Avesso a maiores interferências do Estado na condução da economia, o liberalismo prega também que os indivíduos — e, por extensão, os consumidores — são livres para escolher que empresas desejam solicitar, e o consumidor opta, por óbvio, por aquelas que lhe proporcionam um produto ou atividade laboral mais bem-acabada, sem comprometer o bolso. Na busca por prestar melhores serviços, as empresas se autorregulam e se aprimoram, uma espécie de darwinismo vertido para o contexto mercantil. A concorrência é imprescindível para a manutenção das próprias corporações, tenham a dimensão que tiverem. No caso das grandes — e, em especial, das muito grandes —, a discussão assume a aura de uma verdadeira guerra de titãs, com cabeças rolando para todos os lados. Com o aperfeiçoamento da tecnologia, as empresas de comunicação mais experimentes, a exemplo da Rede Globo de Televisão, tiveram de se reinventar. O desinteresse crescente do público por assistir tevê — pelo menos da forma como vinha fazendo nos últimos cinquenta anos — acendeu a luz amarela. A Globo criou o Globoplay, plataforma de vídeos, filmes e programas da emissora disponíveis em streaming, mas antes dela já havia a Amazon Prime Video e, antes ainda, a Netflix, no ramo do cinema há 24 anos. A programação da veterana tem sido uma referência quanto a apresentar conteúdo plural, de grande importância artística e primando pela qualidade técnica. A lista da Bula de hoje vai comprovar isso na prática. Aqui, dez filmes na Netflix que, ao menos por hora, estão fazendo as outras duas comerem poeira. “O Cidadão Ilustre” (2016), dos argentinos Gastón Duprat e Mariano Cohn, reúne os três quesitos citados neste texto: uma produção out of Hollywood, de muita, muita relevância para a arte e sem um defeitinho técnico sequer. Além dela, “O Menino que Lia Cartas” (2019), do sul-africano Sibusiso Khuzwayo, da mesma forma, e mais oito, quatro americanos, dois sul-coreanos, um neozelandês e mais um argentino, dispostos do mais novo para o mais antigo. Se você ainda não é assinante da Netflix, vai na nossa: o retorno é garantido.
 Foto: Divulgação / Prime Video
Foto: Divulgação / Prime VideoPelos vestígios que alguém deixa, é possível conhecer um pouco de como viveu, o que passou, que postura assumiu nos diferentes momentos de sua trajetória. “A Escavação”, do diretor Simon Stone, vai fundo nesse argumento a fim de contar a história de uma jovem viúva que passa por mais um embate pessoal depois da morte do marido. Em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, Edith Pretty e o filho Robert continuam levando a vida como podem, apesar das vicissitudes pela perda recente. Pequenos montes de terra na propriedade em que moram, em Suffolk, na Inglaterra, lhe despertam a curiosidade e ela recorre a Basil Brown, arqueólogo amador, a fim de saber o que pode haver ali. Brown de fato descobre algo importante, tanto que a notícia se espalha e até o Museu Britânico demonstra interesse pelo que existe de misterioso no terreno de Edith. Enquanto Brown conduzia as escavações, afloravam também sentimentos, igualmente plenos de relevância. Em meio a tantas reviravoltas, Edith, mãe extremada, retém o quanto pode a devastadora melancolia que a consome devido a uma grave doença, a fim de poupar o filho, mas ao mesmo tempo, teme pelo destino do garoto. A trilha, decerto mais um dos trunfos da produção, acompanha o processo de desgaste emocional a que a viúva se entrega, bem como a ambientação da história, que acertadamente opta por cenas pontuadas pelo cinza dos dias de tempestade e uma condução mais sutil. Se a intenção do filme foi transmitir alguma lição ao espectador, Stone pode se considerar realizado. Em “A Escavação” fica claro que a vida vai muito além da superfície.
 Foto: Divulgação / Prime Video
Foto: Divulgação / Prime VideoTirada do livro “I Heard You Paint Houses” (2003), de Charles Brandt, investigador profissional que se debruçou sobre o crime organizado nos Estados Unidos, a história de “O Irlandês” desvenda o envolvimento de Frank Sheeran, um dos maiores mafiosos americanos entre os anos 1960 e 1970, no sumiço do líder sindical Jimmy Hoffa. O filme esmiúça a vida de crimes de Sheeran desde o começo, quando ele conhece Russel Bufalino, um dos gângsteres mais poderosos da Pensilvânia à época, e se torna um pintor de casas, alusão ao sangue das pessoas que extermina ao respingar nas paredes, expressão que Brandt tomou por base ao batizar o livro. Conforme a trama se desenrola, o espectador acompanha a escalada do irlandês junto à quadrilha, sempre fiel a Bufalino, seu padrinho na vasta carreira de delinquências. Foi honrando a confiança que o chefão depositara nele que Sheeran pôde chegar tão longe, e em nome desse código de honra muito particular, comete as maiores baixezas, como matar Hoffa, outro homem-forte do submundo que também o tomara por protegido. Sheeran não resiste a uma ofensiva mais severa do FBI e vai ao chão, levando os peixes grandes todos consigo. Amarga alguns anos de cadeia e termina num asilo, onde o filme principia e acaba, recurso muito bem usado por Martin Scorsese, um mestre também em se valer da estratégia de comprimir e alongar o tempo a seu gosto, a fim de imprimir mais realismo aos enredos que defende. “O Irlandês” talvez seja a obra-máxima de Scorsese — até que venha a próxima.
 Foto: Divulgação / Prime Video
Foto: Divulgação / Prime Video“O Menino que Lia Cartas” começa lá no alto. O espectador é capaz de observar, por meio das tomadas diretas e secas de Sibusiso Khuzwayo, a beleza de paisagem árida das savanas da África do Sul, encantamento ligeiramente empanado pela tristeza da situação que a insere. Dentro de um carro, um casal e o filho, Siyabonga, de 12 anos, se deslocam da capital Johannesburgo rumo ao vilarejo onde mora sua avó. Tudo no enredo é dito, ou melhor, sugerido por meio de tanta sutileza que as vezes até se torna difícil tirar alguma conclusão quanto ao que pode estar se passando. Mas não há lugar para mal-entendidos, tampouco aborrecimentos, aqui. Logo se sabe que os pais de Siya enfrentam uma crise conjugal, agravada por problemas de dinheiro, e que o melhor para todos é que ele e a mãe se aguentem uns tempos fora da cidade grande. O menino, por óbvio, não está nada satisfeito, mas faz o que pode a fim de se enquadrar à nova realidade, até que a avó, dona de um pequeno armazém que faz as vezes de correio, o incumbe de catalogar e ler para os destinatários, todos analfabetos, as cartas que chegam. A partir de então, Bahle Mashinini brilha. É impossível não se emocionar com a performance do ator-mirim em cena e nenhuma de suas trabalhadas expressões é por acaso. Conforme toma intimidade com o ofício, Siya vai conhecendo um pouco mais a respeito dos habitantes do povoado, e se afeiçoando a eles, até demais. Resta insinuante a paixão platônica que alimenta por Nobuhle, cujo marido, Menzi, como todos os homens jovens, fora para Johannesburgo à procura de melhores condições de vida. Numa das cartas que ele lhe envia, Siya fica sabendo que Menzi se apaixonara por outra mulher, mas omite esse trecho de Nobuhle, e passa a escrever ele mesmo para ela, se passando por Menzi. Mesmo em tão pouco tempo, o único calcanhar-de-aquiles do filme, “O Menino que Lia Cartas” dá uma aula de como se conduzir uma história, apresentando um clímax bastante verossímil, ainda que num tom próximo ao de realismo fantástico. Se a ignorância é uma forma de insanidade, outrossim pode ser virtuosa, beatífica até. Uma ode à inocência, tema tão caro ao cinema e meio no ostracismo, mas que aqui se mostra com a intensidade precisa — o que não se via pelo menos desde “Cinema Paradiso” (1988), de Giuseppe Torrnatore. Sinal dos tempos. Mau sinal.
 Foto: Divulgação / Prime Video
Foto: Divulgação / Prime VideoOsamu sustenta sua família nada convencional praticando pequenos furtos, no que é ajudado por seu filho. Ao fim de mais um dia de delinquências, se deparam com uma garotinha, aparentemente perdida. Eles relutam em acolher a menina, afinal, o dinheiro que conseguem quase não é suficiente, mas a mulher de Osamu resolve ficar com a pequena ao saber das condições em que ela vive. Essa família bandida parece feliz, até que um incidente vai revelar segredos que irão por à prova os laços que os mantém juntos. Ao abordar temas polêmicos como o de um clã inteiro que se entrega à marginalidade sem o menor drama de consciência, o filme já marca um golaço ao não se permitir patrulhar pelo politicamente correto e levantar questões complexas com humor e uma profundidade que nem todo mundo suporta.
 Foto: Divulgação / Prime Video
Foto: Divulgação / Prime VideoJoel Edgerton vem se saindo melhor que a encomenda como diretor. Em “O Presente” (2015) já havia surpreendido as expectativas e apresentado um trabalho coeso, exatamente do que precisava a força da narrativa. Neste seu segundo filme, em que também atua, como no antecessor, Edgerton se vale de um enredo que poderia descambar para um dramalhão sem consequências para contar uma história da maior relevância de uma forma altiva. Garrard Conley é o filho único de uma típica família tradicional americana do Arkansas. Ao ingressar na universidade, tem uma experiência sexual traumática com um colega de quarto. O embate do personagem frente a seus próprios desejos quando dessa sequência é o clímax do filme e a partir dele tudo muda na vida de Garrard. O outro estudante, certamente temendo represálias, se previne e telefona para os pais do protagonista, dizendo que fora seduzido e molestado por ele. Convicto de que a vida perfeita que construíra à custa de tanto sacrifício está prestes a ruir para sempre, seu pai, Marshall, dono de uma concessionária de automóveis e pastor da Igreja Batista, inscreve o garoto num programa para reversão de condutas indesejáveis, o que inclui abuso de álcool e drogas, consumo de pornografia, prática de violência doméstica e homossexualidade. Tudo parece ir bem na medida do possível, até que as coisas começam a sair do controle. Garrard identifica os expedientes de tortura psicológica empregados pelos “terapeutas” e os denuncia à mãe, Nancy, que aos poucos se convence de que a iniciativa do marido não fora uma boa ideia. Tomando por base o livro em que o protagonista relata essa sua vivência, “Boy Erased” é cirúrgico ao esmiuçar o procedimento de verdadeiras seitas fundamentalistas coalhadas de charlatães e picaretas de toda sorte que se aproveitam das fraquezas mais íntimas de alguém para ganhar dinheiro. Cada um sabe muito bem o que fazer de sua sexualidade — e é claro que se pode estar assustadoramente infeliz sendo-se o que se é. Contudo, questões complexas exigem respostas pensadas (e maduras), malgrado a opção por se iludir seja uma constante na vida do ser humano desde o começo dos tempos. A propósito, um dos coordenadores do projeto casou-se. Com outro homem.
 Foto: Divulgação / Prime Video
Foto: Divulgação / Prime VideoEm “O Mundo como Vontade e Representação”, publicado em 1818, o filósofo polonês Arthur Schopenhauer (1788-1860), defendia a ideia da vida sob a forma de uma vontade de vida, isto é, a vida seria uma mera prospecção do homem acerca de seus desejos mais obscuros. O homem não sabe querer, pois ao querer já espalha destruição por todo lado, e, portanto, há que se negar toda vontade, mesmo (ou em especial) as que, aparentemente, possam induzir a supostas boas intenções. Depois de um discurso o seu tanto ácido na cerimônia da entrega do Prêmio Nobel de Literatura, com o qual é agraciado, Daniel Mantovani, um bem-sucedido escritor que saíra de Salas, na Argentina, onde nascera e vivera até os 20 anos e fora viver em Barcelona, na Espanha, começa a sentir os efeitos autodestrutivos de sua sinceridade indomável. Os compromissos mais importantes são cancelados, sobra um ou outro simpósio ou palestra menos insignificante, e uma série de homenagens que o prefeito de Salas, justamente de Salas, houve por bem lhe dedicar. Daniel não está à beira da falência ou passando algum apuro de dinheiro, não se trata disso: o que o move é um misto de vaidade — porque, como ele mesmo reconhece, um escritor é feito de pena, papel e vaidade —; orgulho por, depois de haver desdenhado do Nobel, sua cidadezinha ter se lembrado dele; e, quem sabe, alguma condescendência. Por mais que tenha vivido os últimos 40 anos dizendo a si mesmo que seu passado o incomodava, de maneira consciente ou não embarca para a Argentina, sequioso por reencontrar esse passado. E o passado de fato permanece lá, mas diferente, como ele próprio. Como se Salas tivesse dedicado quatro décadas a fim de arquitetar uma vingança contra o filho ilustre, mas soberbo, uma sucessão de eventos começa a se abater sobre Daniel, primeiro apenas vexatórios. O constrangimento logo cede lugar a situações que exigem dele posições mais duras, como artista e como indivíduo. O escritor é impingido a tomar parte em diversas polêmicas, ainda que involuntariamente em algumas circunstâncias, e sua permanência na cidade natal se torna insustentável. O sermão (mais um) com que ataca as “autoridades” salenses, inclusive um autoproclamado artista plástico, presidente de uma associação de classe, que manipula o resultado de um certame de pintura que recusara seu quadro a fim de ser um dos vencedores, é, já faltando pouco mais de vinte minutos para o encerramento, o ápice do enredo. Sua forma de compreender a política, a arte, a cultura — palavra que lhe provoca asco —, são lições de vida para qualquer um, a despeito da época em que se esteja, num roteiro que não demanda nem o mínimo retoque. No surpreendente final, a pergunta que resta nas cabeças e nas bocas é: que diabos ele foi fazer lá? Mas a conclusão é óbvia e vem de imediato. Valeu a pena.
 Foto: Divulgação / Prime Video
Foto: Divulgação / Prime Video“Um Contratempo” segue o padrão dos filmes de suspense policial espanhóis produzidos nos últimos anos: uma história com protagonistas especialmente bonitos, um anticlímax atrás do outro, locações soturnas e a dose certa de violência — neste caso, dosada até demais, o que não chega a ser algo que deponha contra o trabalho do diretor Oriol Paulo, um discípulo aplicado dos mestres Alfred Hitchcock (1899-1980) e Brian de Palma. A premissa é simples, quase simplória: um sujeito diz ser acusado por um crime que não cometeu e contrata a melhor advogada do mercado. Ela faz questão de saber toda a história, com todos os detalhes. Ao passo que ele se explica, ela o contesta — afinal, antes ela que a promotoria, ou o júri, ou, o pior, o próprio juiz. Tudo tem de sair de forma a fazê-lo parecer mesmo inocente e, assim, se livrar da cadeia. O caso é que, quanto mais ele fala, mais se enrola (até porque a situação toda é mesmo um grande enrosco), mais o crime se distancia de um desfecho satisfatório para sua defesa e mais controversa se torna a advogada, sem que o espectador saiba ao certo quem desempenha que papel ali.
 Foto: Divulgação / Prime Video
Foto: Divulgação / Prime VideoTão original quanto vibrante, essa produção sul-coreana mostra que zumbis estão longe da extinção nas telonas. Dirigido por Yeon Sang-ho, “Invasão Zumbi” apresenta um homem divorciado e com uma compulsão por trabalho que é convencido pela filha, que mora com ele, a levá-la para passar uma temporada com a mãe. Eles tomam um trem para Busan, mas a viagem, que deveria ser tranquila, acaba apresentando mais percalços do que imaginavam. Repentinamente, se dá um surto de zumbis na Coreia. E uma dessas criaturas vai parar no trem, o que gera comoção e tumulto, até que o caos se instala de vez e seja preciso lutar para continuar vivo. O ritmo frenético em que os acontecimentos se sucedem na trama corresponde à ideia que se pode ter de uma invasão de seres sedentos por subjugar e devorar pessoas.
 Foto: Divulgação / Prime Video
Foto: Divulgação / Prime VideoA intenção de se voltar à trilogia “Mad Max” já vinha desde o fim das filmagens da história original, nos anos 1980. O diretor George Miller e o astro Mel Gibson já acertavam os ponteiros quanto à produção da quarta parte da sequência, mas dificuldades de ordem burocrática atrasaram o projeto e Gibson foi cuidar da vida. Tom Hardy assumiu o papel do protagonista, a despeito de toda a desconfiança — e da torcida contra — e o resto é história: o desempenho memorável de Mel Gibson chegou a se constituir uma sombra sobre o novo líder do elenco, mas o novato se saiu melhor que ele mesmo esperava. O público aprovou e “Mad Max: Estrada da Fúria” é considerado um dos melhores da franquia. Aqui, Max, capturado, vira uma espécie de hospedeiro, fornecendo sangue para soldados batidos na guerra. Immortan Joe, chefe da comunidade local, subjuga a população por reservar em seu poder a maior parte da água de que dispõem. Max acaba servindo de bucha de canhão na sanha de Immortan Joe por manter seu domínio de escravos com mãos de ferro. Furiosa, uma das cativas que servia de ama-de-leite aos filhos da revolução, escapa e é aí que a história pega fogo. De uma fragilidade apenas aparente, Furiosa dá um colorido todo especial à trama ao se aliar a Max — e a química entre Charlize Theron e Tom Hardy é, decerto, uma das grandes responsáveis pela grandeza do filme, que, embora tenha levado 30 anos para sair do papel, veio à luz no momento preciso, pelas mãos do homem exato. George Miller parece ter guardado toda a sua verve para “Mad Max: Estrada da Fúria”, prova de que um filme, para ser bom, muitas vezes só precisa de um diretor talentoso. E talento George Miller tem de sobra.
 Foto: Divulgação / Prime Video
Foto: Divulgação / Prime VideoEdward Bloom está à morte e precisa se entender a tempo com o filho. O jornalista Will se sente enganado por não saber nada sobre a verdadeira vida do pai, um compulsivo contador de histórias fantasiosas que diz protagonizar. Tim Burton tem aqui toda a liberdade para fazer o que faz como nenhum outro diretor: inventar. “Peixe Grande…” é um filme bonito e simples, graças à genialidade de Burton. A história remexe o baú de ossos do velho Bloom, muito mais abarrotado de memórias do que julga o filho. O longa tem algumas das sequências mais emocionantes da história do cinema, como quando o protagonista, já confuso devido ao último embate com a indesejada das gentes, pergunta ao filho como ele iria morrer. Ou ao apresentar, depois de Bloom já morto, as cenas em que se despede dos inúmeros — e exóticos — tipos que passaram por sua vida e se torna de fato quem sempre fora.