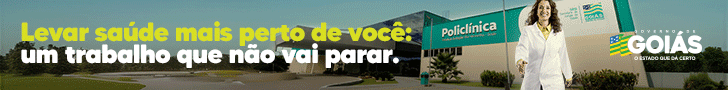“Tudo que se pode tirar da peste é memória e conhecimento.” A frase, cunhada há mais de 70 anos pelo escritor francês Albert Camus (1913-1960), deveria nos dizer alguma coisa nesses tempos de pandemia. Camus, autor de “A Peste”, já resenhado pela Bula, foi profético em seus relatos sobre a evolução da peste negra, que desembarcou na França e se alastrou por toda a Europa em meados dos anos 1940, logo na sequência da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), junto com os ratos que habitavam os navios. A humanidade e, em particular, o Brasil, deveriam ter tirado alguma lição do livro, a fim de não repetir, de maneira patética e indesculpável, o desastre do passado.
Antes da peste de que tratou Camus em 1947, outra praga se disseminou, desta vez por todo o mundo — inclusive o Brasil. Uma infecção por vírus, como a covid-19, é o tema central do livro “A Bailarina da Morte: A Gripe Espanhola no Brasil”, das historiadoras brasileiras Lilia Moritz Schwarcz e Heloísa Murgel Starling, publicado em 2020 pela Companhia das Letras. Essa nova forma de contágio, propagada por meio de uma mutação genética do influenza, o vírus da gripe, foi a responsável por espalhar desespero, pânico e produzir montanhas de cadáveres.

A pandemia do que se convencionou denominar de gripe espanhola — por ter sido a Espanha o primeiro país a alertar sobre o perigo da doença — se estendeu de 1918 a 1920, concentrando seu período mais crítico entre os meses de setembro de 1918 e janeiro de 1919. Nesse intervalo, matou em média 35 milhões de pessoas no mundo — fala-se em até 50 milhões, mas as estatísticas da época eram muito imprecisas. A debilidade dos dados, contudo, não arrefece o caráter brutal da enfermidade, que superou o número de vítimas da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). No Brasil, dos 29 milhões de habitantes à época — pouco menos de 14% do contingente de hoje —, pelo menos 35 mil morreram da doença. Até agora, a pandemia do coronavírus abreviou quase meio milhão de vidas, o dobro do estrago provocado pela gripe espanhola, em números relativos.
Mesmo assim, é espantoso constatar como os erros se repetem, apesar de separados por mais de um século. Cem anos depois, observa-se a mesma postura equivocada de parte da população e das autoridades, que fingem que a pandemia não existe, atribuem à imprensa a responsabilidade pelas mortes, promovem o uso de remédios cuja eficácia nunca foi comprovada e a aplicação de medidas tidas por milagrosas.
Nesse ambiente extremamente acolhedor, a bailarina da morte — que recebeu esse nome devido à sua agilidade em deslizar para dentro das células do hospedeiro —, apresentava um espetáculo dantesco, fazendo as vítimas, quando já tomadas, sangrarem por todos os orifícios, daí as pessoas recorrerem a qualquer procedimento que lhes garantisse algum conforto. Homeopatia; chás de todos os tipos; Grippina; Quinado Constantino, Mentholatum, Creolisol e Pílulas Sudoríficas de Luiz Carlos, além do sal de quinino — matéria-prima da famigerada cloroquina, usada no combate à malária —, se encontravam entre as diversas opções equivocadas à disposição em algumas farmácias. O sal de quinino era desde então contraindicado por ocasionar disritmia cardíaca grave, mas, assim mesmo, atraiu o interesse de muita gente. Tornaram-se frequentes as histórias de pessoas que tomavam quinino, desmaiavam em plena rua, eram levadas pelos carroceiros da Saúde Pública, e reza a lenda, sepultadas ainda vivas. A cachaça, o alho e o limão também foram usados em escala industrial, o que inflacionou consideravelmente o preço dessas mercadorias.
Em 1918, também se observou a prática do isolamento social, que foi, aos poucos, caindo em desuso, primeiro, como agora, no comércio. Teatros e templos religiosos foram os últimos a retomar suas atividades. Os campeonatos de futebol no Rio de Janeiro praticamente seguiram sem abalos. As praias e ruas também voltaram a ser frequentadas pelos cariocas num prazo muito curto. Já em São Paulo, os feriados foram alongados, o que evidencia o paralelo com 2021.
O argumento de que a gripe espanhola era “democrática” e não poupava ninguém também circulou, tanto há 100 quanto hoje, e, em ambas as circunstâncias, provou-se falso. Em 1918, quem acabou mais penalizado foram os negros no Rio de Janeiro e os imigrantes em São Paulo, bem como os índios no Norte e na região central do país. Muitas comunidades indígenas simplesmente acabaram, o que talvez tenha sido o pontapé inicial para se pensar em políticas públicas que fomentassem o atendimento médico massivo voltado às minorias, o que, por óbvio, levou décadas. Desde 1891, se estudava uma rede oficial capaz de suprir a demanda por consultas e leitos nos hospitais — o embrião do SUS—, desacreditada por políticos demagogos e mal-intencionados, como os presidentes de Estado (governadores) da Bahia, Muniz de Aragão, e de Pernambuco, Dantas Barreto, auxiliados por setores aguerridamente reacionários da sociedade, que viam na iniciativa uma ameaça à influência que ostentavam em suas respectivas áreas de atuação política — os currais eleitorais.
O Brasil pandêmico de 2021 apresenta uma semelhança perigosa com o da gripe espanhola, agravada por se verificar ações planejadamente inócuas, desta vez não de governadores, mas do próprio mandatário maior do país, que mais que negar a severidade da questão, minimiza a mortandade, que se aproxima a galope do meio milhão. A história, generosa, não se recusa a ensinar, mas há os que acham que não precisam aprender nada. Resta, então, a farsa. E a vergonha.