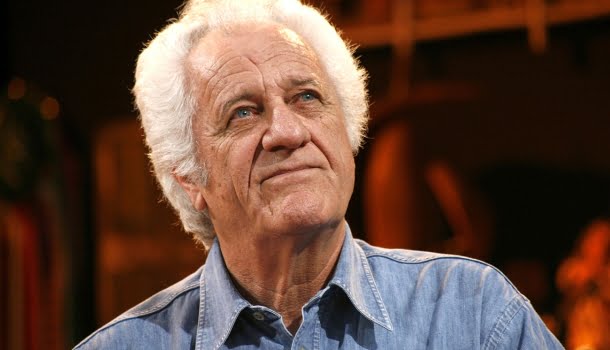Há poemas que nos acompanham por bastante tempo, transformando-se num tipo de tesouro íntimo sem sabermos bem o porquê. Trago comigo, entre tantos outros, este:
Quando eu estiver mais triste
mas triste de não ter jeito,
quando atormentados morcegos
— um no cérebro outro no peito —
me apunhalarem de asas
e me cobrirem de cinza,
vem ensaiando de leve
leve linguagem de flores.
Traze-me a cor arroxeada
daquela montanha — lembra?
que cantaste num poema.
Traze-me um pouco de mar
ensaiando-se em acalanto
na líquida ternura
que tanto já me embalou.
Meu velho poeta, canta
um canto que me adormeça
nem que seja de mentira.
Olga Savary é a autora desses versos, uma clara homenagem a Manuel Bandeira. Eu a conhecia por um poema aqui e outro acolá — geralmente gostava do que lia — e pelas entrevistas que dava, sempre com algum tom de intimidade, daquele tipo gostoso, “conto tudo mesmo”, o que é sinal distintivo de pessoas inteligentes, ainda que muitos vazios fossem deixados para o leitor preencher. Sabem aquelas pessoas que apreciamos e a quem damos menos atenção do que deveríamos? Assim eu a percebia, ai de mim. Culpa minha, claro, que tenho um queijo suíço, com mais buracos do que queijo, passando aqui na cachola por algo como uma formação mais coerente. Sabia também que ela era tradutora; li ainda que fora namorada ou esposa do cartunista Jaguar e que fizera parte da turma do “Pasquim”. Muito do Neruda e do Vargas Llosa que lemos em português vem do seu labor de tradução — e a isso devemos dar graças diariamente, a esse trabalho de formiguinha que tentava nos desasnar a cada novo livro que nos apresentava. E ela ainda nos deu uma tradução de “Paradiso”, aquele calhamaço de José Lezama Lima, um dos grandes livros do século passado; por causa dessa tradução, fui visitar o túmulo de Lezama no Cemitério Colón, em Havana, aproveitando ainda para mandar um alô a Alejo Carpentier e cantar “Dos Gardenias” em frente à campa de Ibrahim Ferrer. Amigos me ajudaram a pagar, mais tarde, a fiança…
Era isso, então. Savary ficaria me rondando; de minha parte, eu a colocaria numa coluna “autora a ser mais conhecida”. Mas eis que chega a roda-viva e carrega o destino pra lá. Recebida a roda-vida, resolvi, há algum tempo, conhecer o Norte a fundo, cidades, currutelas, matos, rios, igarapés e o que mais houvesse. Calhou de eu ter um amigo já experimentado naqueles labirintos verdes. Equipei-me com repelente, quinino, charutos, tônicos escoceses e toda a literatura que pudesse existir sobre a região, de relatos de viagem a ficção, de poesia a memórias e biografias — e eis que apurei que Olga Savary havia nascido em Belém, mais conhecida, para os íntimos, como Santa Maria de Belém do Grão-Pará, cidade de gente calorosa e que lá habita, pesca e besta esta vida besta que nos cabe desde 1616. Assim, se o Norte me é caro, Belém tem especial lugar nesta minha afeição, e isso por vários motivos: a incrível história dos Cabanos e da própria cidade; arroz com tucupi e pinga com jambu; uma tarde à deriva numa lancha sem gasolina, feliz por estar perdido naquele mundaréu de águas (perder-me é uma das minhas obsessões); o flutuante de furo — ao Google, meus amigos — mais excepcional que jamais conheci, com o caranguejo no ponto antecedendo o tabaco cauterizador de feridas antigas; as conversas com amigos, a horas mortas, num pátio de hotel que já fora convento, local e momento propícios para que alianças de vida toda se forjassem.
E a nossa Savary? Bem, ela já não era mais uma autora na coluna de débitos: havia se tornado a “Olga Savary, paraense”. Comprei-lhe os livros, verifiquei de quem seria a tradução de cada autor latino-americano que tenho aqui em casa, pesquisei-lhe a vida. Sobretudo, ah, sobretudo caiu-me às mãos “Poesia do Grão-Pará”, com seleção e organização sua. Depois eu perdi esse livro de vista, com certeza ele tendo ido visitar chaves e óculos também desaparecidos num portal para outras dimensões que, não duvidem, existe aqui em casa. Contudo, na semana passada, arrumando estantes — estou arrumando estantes há uns trinta anos —, eu o reencontrei. Li-o todo, então, porque o danado pode ter adquirido a nacionalidade da outra dimensão e vai que resolva atravessar novamente o tal portal.
Li-o e, dois dias depois, Olga morreu, aos 86 anos, de COVID. Estranhos são os caminhos do Senhor.