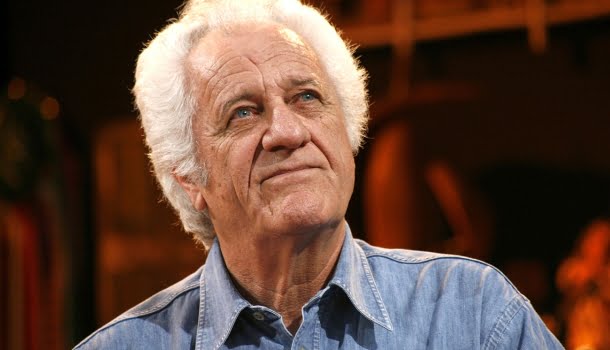O que há em portas e janelas que nos fascina tanto? Ethan (John Wayne), filmado por John Ford — “Rastros de Ódio” é, sem dúvida, filme obrigatório — no momento em que atravessa o umbral da porta de um rancho para o vazio do deserto, vazio que também será o da sua vida (repentinamente sem razão depois dos longos anos de busca pela sobrinha raptada por índios), é uma das cenas icônicas do cinema (e também é pôster obrigatório em casa de cinéfilo). Há também, claro, a “Janela Indiscreta” de Hitchcock: Jimmy Stewart, preso numa cadeira de rodas, gasta as duas horas do filme vigiando pela janela do seu apartamento o cotidiano de um possível assassino. E Nelson Rodrigues, o grande Nelson, dizia obsessivamente ser um menino que via o amor pelo buraco da fechadura (ver o mundo pelo buraco da fechadura, fiscalizando-o do alto das minhas certezas e ficando apenas na periferia dos acontecimentos — eis uma das minhas especialidades).
Ora, a simbologia imediata de portas e janelas parece assim ser de fácil percepção. Elas, por assim dizer, separam o conhecido do desconhecido e são, portanto, locais de transição. Por isso, creio, portões muitas vezes precisam de vigias — São Pedro no Paraíso, Cérbero no submundo grego, Exu nos terreiros de candomblé, Ganesha (removedor de obstáculos) nos templos hindus. Já as janelas, em algumas culturas, são abertas na hora da morte para que a alma alcance a liberdade e, talvez, a imortalidade. Por portas e janelas, assim, se vai de um estado a outro, de uma condição a outra, como se psicopompos fossem.
Houve na minha vida umas tantas portas e janelas chamativas. As portas da nossa casa no Setor Sul, a “da frente” e a “dos fundos”, como nós as chamávamos: uma, a “da frente”, era território livre e levava à alegria das brincadeiras de rua; a outra, a “dos fundos”, demandava permissão dos pais para ser atravessada, dando em vielas mais obscuras do bairro (quase uma espécie de caminhos de Swann e Guermantes provincianos, eu diria: um caminho lícito, livre, até desejado, e outro ilícito e pecaminoso). Mais tarde, vieram as janelas de colégios e da faculdade, por onde eu fugia de tediosas lições que só consegui apreender, tempos depois, longe da faculdade, ou, dito de outro modo, no território que suas janelas prometiam (certa vez, um professor de Direito, pegando-me em flagrante ato de divagação com os olhos na rua, perguntou-me se aquilo que eu via pela janela era mais interessante do que a sua aula; pedante — fui pedante na adolescência —, respondi que sim, diabos, era o mundo contra os códigos, e o mundo sempre há de vencer. Parece que inauguraram uma estátua minha na faculdade por causa dessa resposta…).
Escrevo tudo isto para dizer que as agruras cotidianas me levaram para longe dos horizontes das janelas. Sempre nos levam, é certo. Recuperei-os, porém, com Andrew Wyeth, pintor (ainda se diz “pintor”?) que, vejam só, o Snoopy do excepcional Charles Schulz adora. Wyeth é o “artista da janela” por excelência (Snoopy, aliás, certa vez teve sua casinha consumida por fogo e perdeu um Van Gogh no incêndio; mais tarde, inspecionando a nova casa, seus amigos descobrem que ele adquirira um Andrew Wyeth e o comparam favoravelmente ao Van Gogh queimado). A obra mais famosa de Wyeth, claro, é “Christina’s World”, que todos já viram e é presença obrigatória no rol das grandes imagens do século passado; contudo, boa parte das suas pinturas compõe-se de janelas. Eis uma obsessão que compreendo. Pois olho longamente essas janelas de Wyeth e me volta a ânsia do encontro com o desconhecido. Elas são, digamos, lânguidas (adjetivo estranho para objetos, bem sei, mas, ainda assim, ele aqui me parece exato). Não são jamais como as janelas de Vermeer, que trazem toda aquela luz radiante para dentro de aposentos onde a vida ocorre. Em Wyeth, as janelas sugerem — apenas sugerem — que a vida está do lado de fora. É como no deserto: estive há certo tempo no Marrocos, onde mirei por longos minutos o Saara e senti uma urgência qualquer de me perder naquelas areias (ou reconheci alguma velha chama de fuga), de me largar sob “o céu que nos protege”, urgência que foi quase indomável. Sair correndo e não voltar; saltar e não olhar para trás — o deserto e Wyeth trazem-nos vontades quase palpáveis de tão prementes.
Sim, sabemos que janelas e portas são o canto de sereia de deprimidos, suicidas e insatisfeitos com a caminhada, sempre aflitiva, no “jardim dos caminhos que se bifurcam” (todos nós?). Mas esse chamado se faz por oposição, ai de nós: se o que há além delas é uma possível liberdade, dentro existem as paredes que simbolizam as normas que, afinal, devem reger qualquer vida social (e talvez além — quem saberá? — haja apenas o nada: “Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate” é o dístico de entrada do portão do Inferno de Dante e também de muitos cemitérios). E é dentro que quase sempre permanecemos. Contudo, eu até diria que existem janelas e portas para todos nós, aguardando o nosso lado outsider porventura adormecido; ainda que falte coragem para a travessia, elas estão onde devem estar para quando a valentia surgir e reconhecermos o momento propício do salto. Reconhecerei a oportunidade? Não sei, não sei, mas às vezes creio que vive dentro de mim, goiano de quatro costados, não “uma lavadeira do Rio Vermelho”, mas sim um Ethan pronto para atravessar, desengonçado, a portada de algum rancho qualquer rumo a — a quê?
Sim, há portas e janelas à espera; por ora, porém, eu apenas as miro, tendo Wyeth como líder desta curiosa mistagogia na estranha fé dos poderes curativos do desconhecido. Mas: “Passarinho que se debruça — o voo já está pronto”?
Pintura de Andrew Wyeth