Segundo Immanuel Kant (1724-1804), a razão não é capaz de compreender todas as variadíssimas esferas da vida humana, o que quer dizer que o homem é a um só tempo seu próprio senhor e carrasco e, esticando-se um pouco a longa corda do raciocínio filosófico, chega a emular Deus não em uma, mas em diversas circunstâncias durante sua vida, plena de momentos insanos cuja relevância só ele mesmo pode medir. Os sonhos são as únicas coisas capazes de tornar a vida mais suportável e menos infame. Que grande revolução haveria de se dar nos povos do mundo inteiro se cada um tivesse sonhos grandiosos o bastante para serem perseguidos sem folga, até que, afinal, saíssem do baço plano das ideias e passassem à vida como ela é, o que, evidentemente, só seria possível se fôssemos todos dignos desses sonhos. Quase sempre é necessário que larguemos tudo, abandonemos a vida que levávamos, sintamo-nos livres para rever determinados pontos de nossa trajetória a fim de que acessemos os meandros mais obscuros de nosso espírito.
O gênero humano está inexoravelmente condenado a perseguir essa quimera, uma vez que o mundo é, como na caverna de Platão (428 a.C — 348 a.C), apenas um simulacro das projeções muito íntimas de cada um, de conceitos eivados de nossas idiossincrasias mais intangíveis, aquelas que mantêm-nos mais e mais encafuados em nossos sonhos e delírios. O filósofo da Grécia Antiga — cujo verdadeiro nome era Arístocles, e que ganhou o apelido graças aos ombros largos — soube como poucos usar da estilística para apresentar suas ideias, seguido por Nietzsche, Kierkegaard e Camus, que fizeram de sua obra uma liga vigorosa de ensaio, romance e apotegmas. Da mesma forma, escritores como Fiódor Dostoiévski (1821-1881), Clarice Lispector (1920-1977) e Philip Roth (1933-2018) exploraram temas filosóficos com profundidade, fazendo da literatura um espaço de investigação existencial. A literatura pode dar vida à abstração filosófica, materializando experiências racionais e emotivas, vividas ou imaginadas. Filosofia e literatura nutrem uma à outra e enriquecem-se mutuamente, ficando esta mais reflexiva e crítica e a primeira, mais terna e palpável.
Na lista abaixo, constam sete exemplos de como a objetividade da literatura alcança o necessário devaneio da filosofia. A leitura de “O Homem sem Qualidades” (1932), de Robert Musil (1880-1942), é o primeiro movimento de uma caminhada longa pela paisagem caótica de um espírito em perene desajuste, vivendo num mundo em que clareza é o requisito básico para se desfrutar de uma vida plena. E da mesma maneira que é impossível banhar-se duas vezes nas águas de um mesmo rio, ninguém lê duas vezes o mesmo livro: uma impressão sob medida para definir “Perto do Coração Selvagem” (1943), de Clarice Lispector (1920-1977), a esfinge que há de continuar devorando leitores pelos séculos dos séculos, amém. Os títulos seguem elencados do mais recente para o publicado há mais tempo.
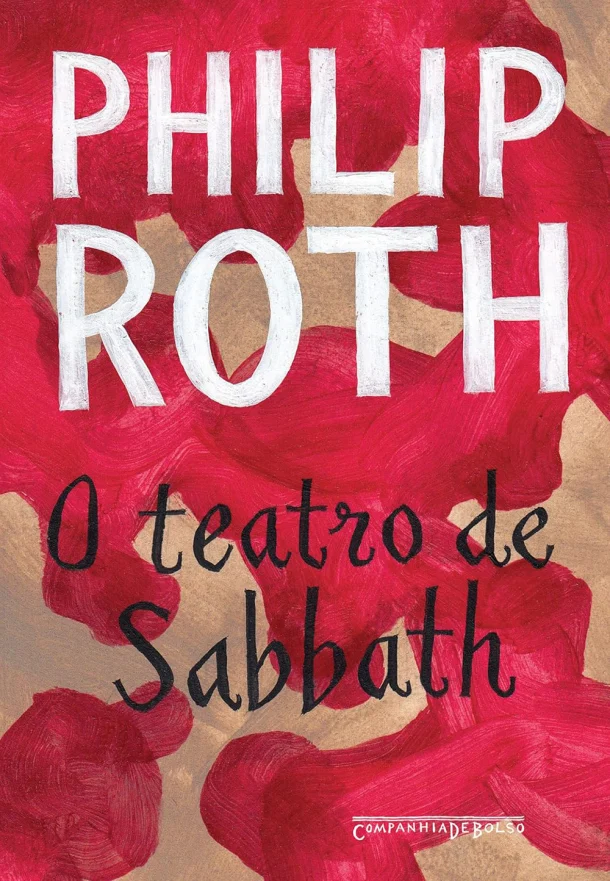
Um dos mais talentosos romancistas que o século 20 produziu, o americano Philip Roth nunca teve medo das boas polêmicas. Em “O Teatro de Sabbath”, Roth confere a Mickey Sabbath autoridade para representar a visão de mundo do escritor. Sabbath, um titereiro caído em desgraça num mundo sem lugar para a arte e tanto para a poesia, contamina o leitor com sua sujeira, sua descrença de tudo, seu esplim, seus pequenos delitos. Resta-nos acompanhá-lo por seus descaminhos de progressivo horror à retidão hipócrita, sexo bestial e autodestruição. Paira sobre esse sobrevivente da vida que não teve um mistério que Roth trabalha como só ele mesmo poderia, enquadrado em elementos tão corpóreos quanto alcoolismo, artrite e câncer.
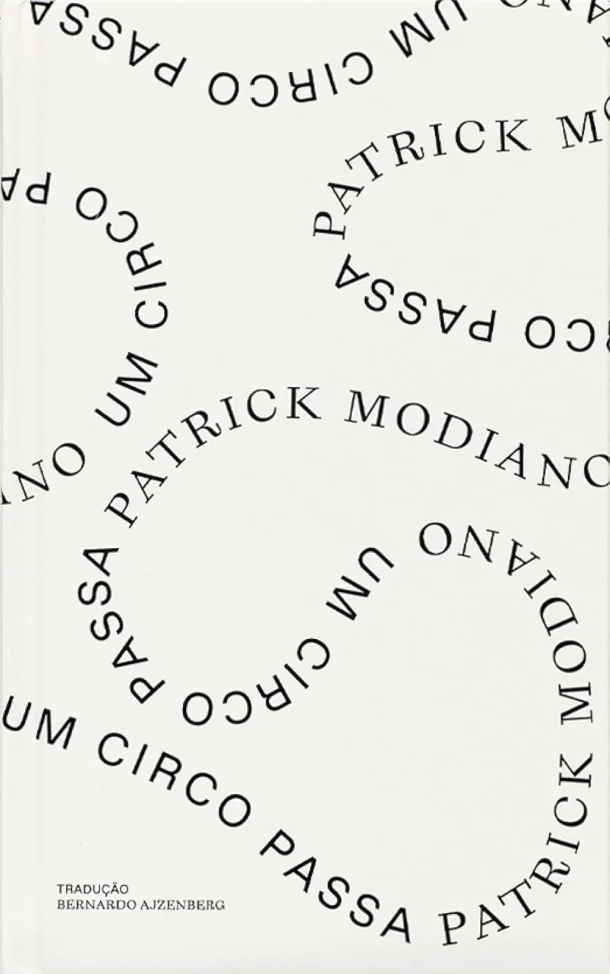
Ganhador do Nobel, em 2014, o francês Patrick Modiano até surpreende com um conto de mistério com claro pendor para o suspense mais refinado. Traduzido pelo escritor Bernardo Ajzenberg, a quem também coube o posfácio, “Um Circo Passa” é publicado em língua portuguesa pela primeira vez desde o lançamento, três décadas atrás, e conta a vida de Jean, um garoto de dezoito anos sem meio de subsistência definido que pode ser encontrado num apartamento à beira do Sena, sem os pais, que deixaram a França no que parece ser uma demonstração do mais desabrido instinto de sobrevivência. Em plena marcha, a barbárie da ocupação de Paris pelas tropas de Hitler não demoraria a espalhar pânico, destruição e morte, gancho de que Modiano se vale para falar da negligência emocional dos pais de que ele próprio fora vítima, adicionando ao que relata uma fictícia e sedutora Gisèle, que agrava-lhe a sensação de alheamento do mundo e de si mesmo.
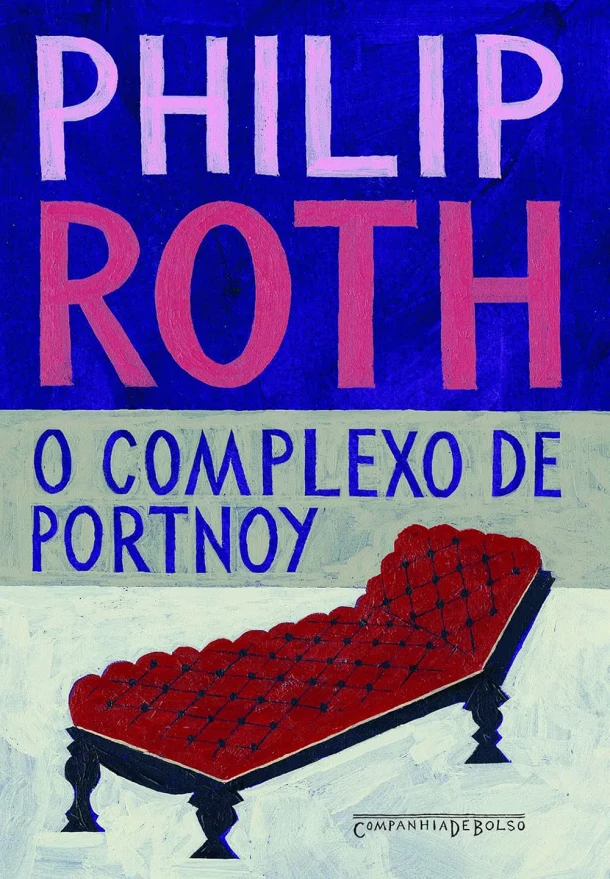
Valendo-se de um talento único para contar histórias com elegância e riqueza de minudências, Philip Roth encarna o judeu Alexander Portnoy, ninfomaníaco inveterado às voltas com reprimendas de seu super ego, fruto de uma infância opressiva. Nenhum outro literato seria capaz de juntar num mesmo volume opróbrios latentes há três décadas e a urgência de autoafirmação de um homem fraco, suscetível a toda sorte de interferências nefastas, da família — quase sufocada pela imagem onipresente da mãe —, da religião e da sociedade falocêntrica que nos vigia desde sempre, implacável com machos que ousam descontinuar esse modelo.
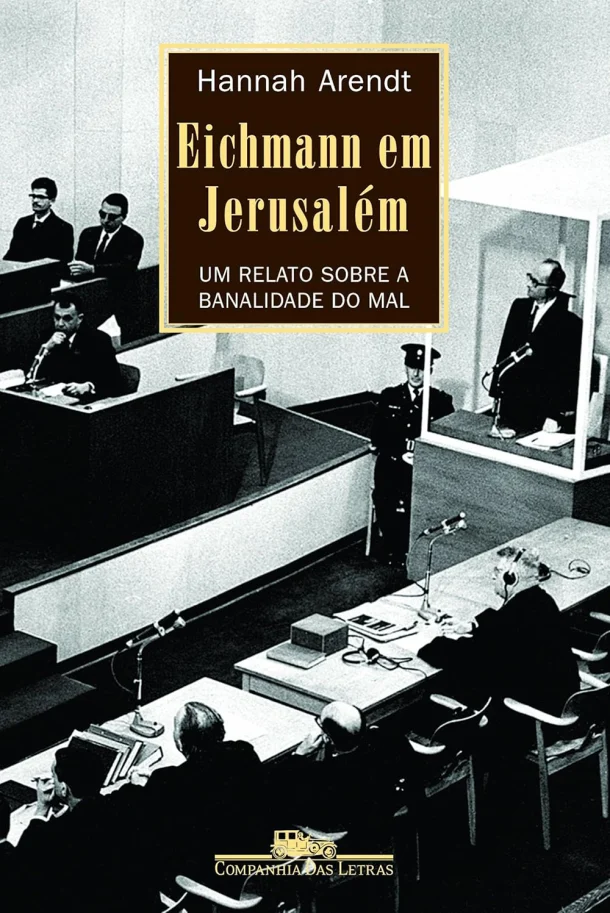
Para Hannah Arendt (1906-1975), a capacidade de um indivíduo dito normal se sujeitar a ordens tresloucadas de um lunático e, assim, contribuir para um dos cenários mais monstruosos da História tinha a natureza de um verdadeiro enigma que, em algum grau, a fascinava. Arendt levou tudo o que apurara às páginas de um de seus livros, todos clássicos: “Eichmann em Jerusalém” foi publicado dois anos depois do veredito que condenou o médico à forca em 1961. Nele, a filósofa apresenta exatamente o que movia Eichmann, a banalidade do mal, conceito que ganhou o mundo, ainda que repetido da boca para fora, sem que se saiba ao certo a que se está tentando aludir. O braço-direito de Hitler era um funcionário exemplar, que apenas cumpria ordens na intenção de conferir a seu ofício a excelência que o caracterizava — e, por natural, para permanecer ele mesmo vivo. Ao se dar conta de que a aventura do totalitarismo germânico fazia água, Eichmann, num lance realmente cinematográfico, consegue fugir e se socorre de um outro nome para recomeçar do zero na Argentina. O médico vai levando a vida sem maiores sobressaltos, tampouco sem padecer de eventuais crises de consciência — e aí é que está o fulcro da questão —, até que sua figura arredia é notada por uma equipe de pesquisadores judeus.
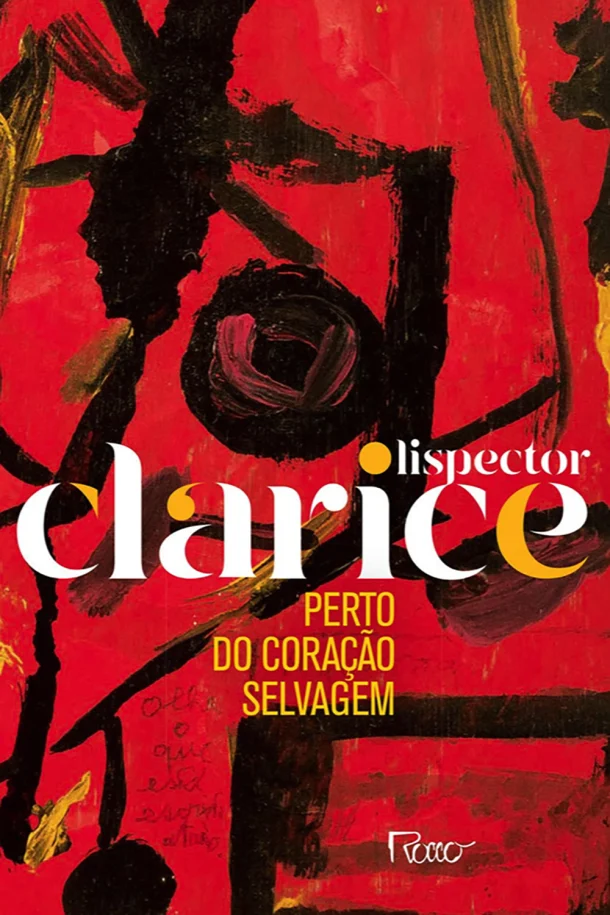
Clarice Lispector (1920-1977) foi um espírito dos mais invulgarmente caudalosos no corpo de uma mulher comum. As caminhadas da escritora pela orla do Leme de um Rio de Janeiro já sepulto nesse imenso cadáver que não para de procriar chamado Brasil tiveram sua grande medida de responsabilidade nas iluminações tenebrosas com que Clarice, essa alma essencialmente sombria (mas que gostava de sol), terminava de arrasar com suscetibilidades hipócritas da gente sabida de seu tempo. Publicado em dezembro de 1943, dezesseis anos antes da ida de Clarice para a Zona Sul carioca — para onde fora levada quando decidira se separar do marido —, “Perto do Coração Selvagem”, o romance inaugural da prolífica carreira de Clarice, escrutina as primeiras descobertas de Joana, muitas, claro, ligadas à paixão e ao sentimento amoroso mais elaborado, e à medida que o livro se agiganta e Joana torna-se mulher, o leitor percebe quão ingênua, quiçá tola, era a protagonista.
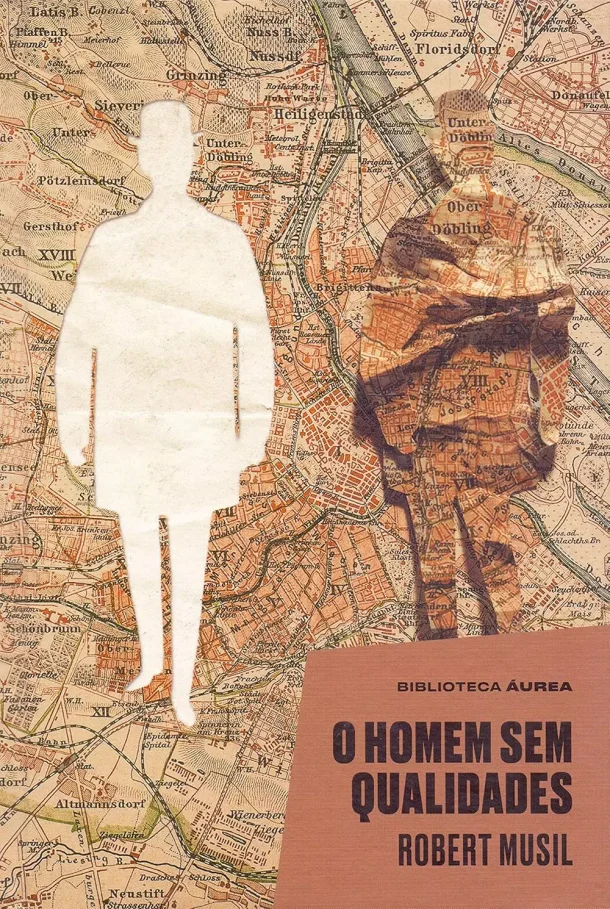
O que dizer de um livro que começa a ser escrito em 1910, tem a primeira parte publicada em 1930, a segunda somente dois anos depois e resta inacabado, por causa da morte repentina do autor? Se você vencer o preconceito e esquecer os comentários maldosos — e ligeiros — sobre ele, vai dizer muita coisa. “O Homem sem Qualidades” talvez seja o romance mais hermético, mais sui generis, mais filosófico e mais poético jamais publicado, e sobram ironias finas neste curto período. É um livro cheio de intenções, de pretensões, mas, ao mesmo tempo, não quer dizer nada — tomando-se o não querer dizer no sentido de deixar ao leitor compreendê-lo da forma como melhor lhe aprouver. Ulrich, 32 anos, o protagonista desse Bildungsroman, desse romance ensaístico, ou romance de construção — enquadrar o livro numa categoria só rendeu um caminhão de teses de mestrado e doutorado, muitas delas confusas. Ulrich era um homem que não conseguia se ajustar na sociedade em que vivia. Tentou a carreira militar: desistiu; imaginou que a engenharia lhe poderia trazer alento para uma vida sem sentido e também teve de abdicar desse propósito, por ser a engenharia teórica demais; por fim, é vencido pela matemática, com a qual também não se realiza, por ser este um campo demasiado duro e completamente avesso a subjetividades. Ulrich é um homem sem qualidades num mundo de qualidades sem homens para vivê-las, ou seja, ele estaria no lugar certo, mas é honrado demais para reconhecer-se inútil num mundo em que objetividade é o fundamento maior para se desfrutar de uma vida plena.
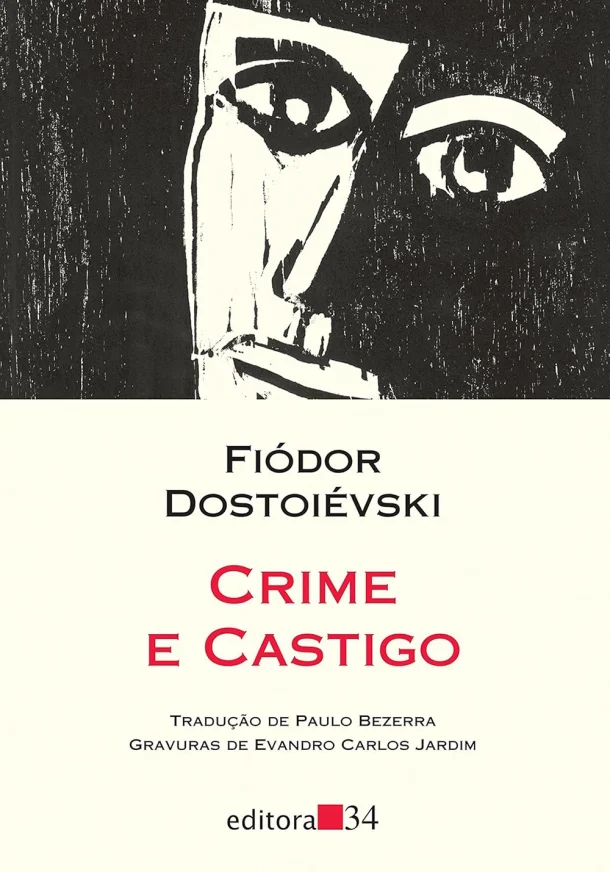
No mais conhecido dos romances de Dostoiévski, Rodion Românovitch Raskólnikov, um estudante sem posses e descoroçoado, perambula pelas ruas de São Petersburgo, esforçando-se por fugir da infernal tentação de se entregar à insânia e derramar sangue para provar sua superioridade ante uma velha agiota e sua irmã. Todos têm direito a um momento de loucura, ele considera, mal de que nem vultos da História como César ou Napoleão escaparam. Só mesmo Dostoiévski poderia, a partir de diálogos cortantes em sua aspereza e cenas brutais, chegar à elucubrações filosóficas sofisticadíssimas acerca da opressão silenciosa a rodear os homens invisíveis da Terra, encarnada por tiranos que passam por inocentes senhoras ocupadas em acumular o vil metal quando ganhariam mais cuidando da salvação de sua alma.








