A vida do homem é perpassada por tragédias desde o princípio dos tempos, e a especulação de como certos episódios poder-se-iam ter dado, mais que delirante, chega a ser apenas pueril em algum momento. Trancamo-nos no mais fundo de nós mesmos, fechando os olhos à realidade, que quase sempre insuportável, inspira-nos justamente esse gosto pela fantasia, um lugar mágico, impenetrável, onde mora a certeza de que nenhum pedaço da feiura da vida nos há de afligir. Passa-se muito tempo até que nos persuadamos da necessidade de se aceitar a vida como ela é, para que vençamos o cansaço, o desalento, o enfaro de tudo e consigamos fazer da revolta, a última borra do tacho, um capital realmente valioso.
Efemérides políticas e sociais não raro são tomadas à luz de genuínos enigmas: nada do que vai ali tem o menor significado, a não ser por seu aspecto grandiloquente de festa, edulcorado pela presença de fanfarras, de discursos persuasivos em tom pomposo, de homens em uniformes respeitáveis. Mas mesmo as melhores festas não duram para sempre. O Iluminismo poupou a humanidade de dissabores muito mais funestos do que aqueles com os quais nos confrontamos ainda hoje, e os ideais de pensadores como Voltaire (1694-1778) e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) só pôde florescer, com mais sucesso ou menos, graças a quem tornou habitável um terreno repleto de perigos.
Considerado um dos pais da filosofia, o grego Aristóteles (384-322 a.C.) dedicou a vida a fim de provar que de tudo, rigorosamente tudo na vida, se tira uma lição de que nunca vai se poder prescindir no intuito de se dar à própria vida a natureza de beleza e harmonia que a existência humana deve ter. Aristóteles, como um dos mais importantes patronos do saber filosófico, logo compreendeu que a filosofia mesma tem uma ascendência, que o entendimento acerca dos inumeráveis mistérios da vida não caem do azul, simplesmente. Chegou à conclusão de que sobre toda ciência, acima de todo o conhecimento do homem, paira um conjunto de domínios a respeito de todas as áreas do raciocínio: a metafísica, isto é, a substância incorpórea que transcende a carne.
A metafísica toma a ciência como um organismo inteiro, sem diferenças entre saberes particular e universal. Houve muitos antes dele e muitos outros que, corajosamente, defenderam seu legado. Um dos expoentes mais vultosos do Iluminismo, o alemão Immanuel Kant (1724-1804) é uma das figuras que melhor representam Aristóteles e o que o Estagirita fez pelo pensamento ordenado. Segundo Kant, a razão não é capaz de compreender todas as variegadíssimas esferas da vida humana, o que significa que o homem é a um só tempo seu senhor e seu carrasco e, esticando-se um pouco a longa corda do raciocínio filosófico, chega a emular Deus não em uma, mas em diversas circunstâncias durante sua vida, plena de momentos insanos cuja relevância só ele mesmo pode medir.
Na lista abaixo, constam sete exemplos de como a literatura consegue alcançar o idealismo transcendental kantiano, valendo-se das construções marcadas por lirismo e análise metódica do indivíduo e da sociedade contidas no romance. A leitura de “O Homem sem Qualidades” (1932), de Robert Musil (1880-1942), é o primeiro movimento de uma caminhada longa pela paisagem caótica de um espírito em perene desajuste, vivendo num mundo em que objetividade é o requisito básico para se desfrutar de uma vida plena. E da mesma maneira que é impossível banhar-se duas vezes nas águas de um mesmo rio, ninguém lê duas vezes o mesmo livro: uma impressão sob medida para definir “Perto do Coração Selvagem” (1943), de Clarice Lispector (1920-1977), a esfinge que há de continuar devorando leitores pelos séculos dos séculos, amém. Os títulos seguem elencados por ordem alfabética.
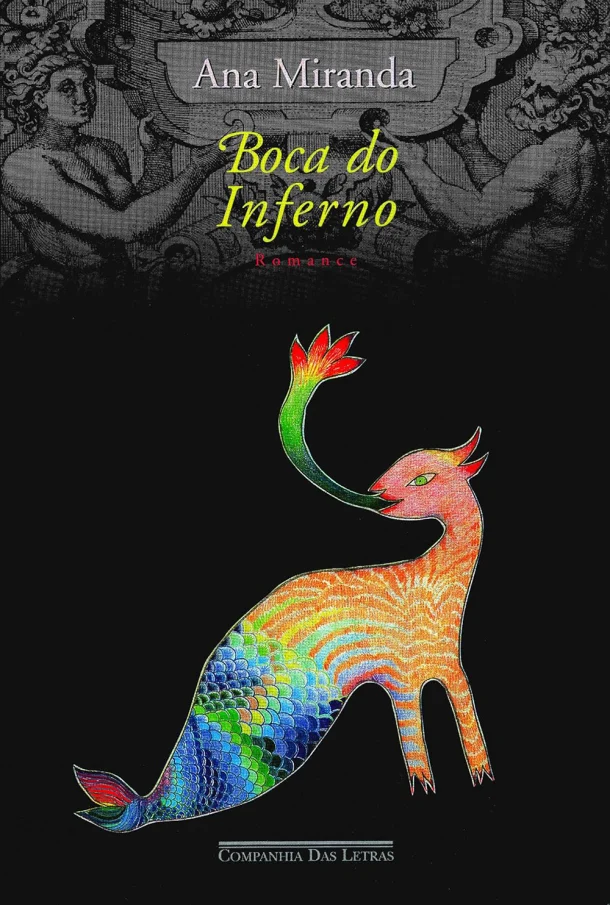
A cearense Ana Miranda, autora experimentada no árido cenário da literatura brasileira — e, em especial, do Nordeste —, tem o condão de reinventar em Boca do Inferno, lançado em 1989, a Bahia do século 17, mais precisamente de 1683. O romance se esmera por assinalar a corrupção presente em amplo sentido na sociedade baiana de então, nos costumes, nas artes e, claro, na política. É uma característica pujante na obra o emprego de vocábulos e termos de baixo calão, no justo intuito de espinafrar os poderosos e quem deles se locupleta, de tal ou qual maneira, bem à moda do poeta satírico Gregório de Matos (1636-1696), o Boca do Inferno, um dos personagens centrais do livro.
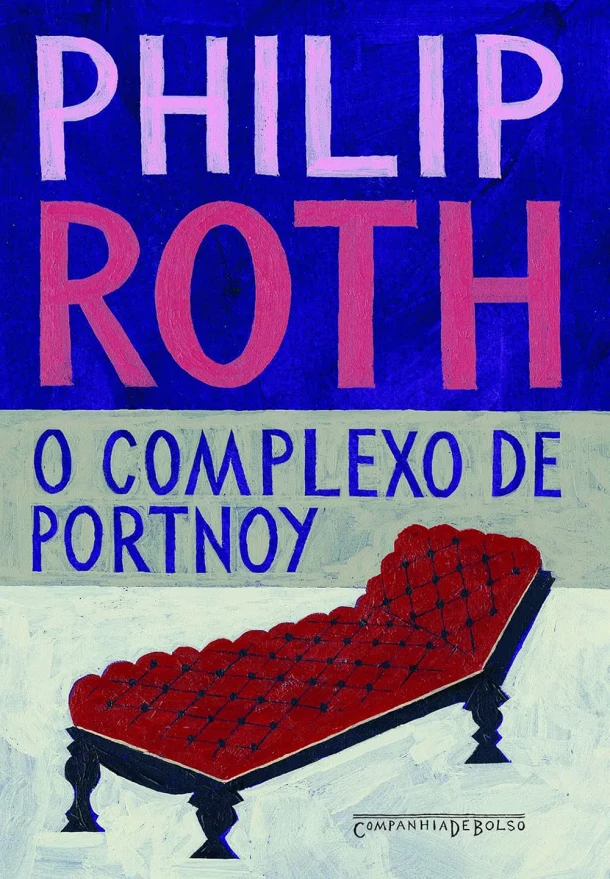
Valendo-se de um talento único para contar histórias com elegância e riqueza de minudências, Philip Roth encarna o judeu Alexander Portnoy, ninfomaníaco inveterado às voltas com reprimendas de seu super ego, fruto de uma infância opressiva. Nenhum outro literato seria capaz de juntar num mesmo volume opróbrios latentes há três décadas e a urgência de autoafirmação de um homem fraco, suscetível a toda sorte de interferências nefastas, da família — quase sufocada pela imagem onipresente da mãe —, da religião e da sociedade falocêntrica que nos vigia desde sempre, implacável com machos que ousam descontinuar esse modelo.

Numa ficção científica de fundo feminista, a escritora e psicanalista belga Jacqueline Harpman (1929-2012) dá preciosas lições sobre a sociedade contemporânea ao se desdobrar sobre a história de quarenta mulheres, aprisionadas num calabouço sob o olhar atento de vigilantes que nunca dizem uma palavra. Repentinamente, uma sirene é acionada, os guardas fogem e a cela se abrem. Entre as cativas, está uma menina cujo nome não se conhece, que parece nunca ter visto a luz do mundo. É justamente ela quem lidera o grupo para fora da prisão, chegando a um lugar hostil e do qual nunca tinham ouvido falar. Tendo apenas umas às outras, essas quarenta almas misteriosas e infelizes terão de inventar outra vida para si, encarando os perigos de ser livre de verdade.

Juliano Garcia Pessanha, filósofo de formação, herdeiro da teoria crítica da Escola de Frankfurt, contempla o advento da terceira década do terceiro milênio atônito com o predomínio do discurso fatalista, que nao propõe nada, só aponta erros, queima pontes, acentua diferenças e segrega cada vez mais, insensível às múltiplas realidades sociais. Avesso a pressupostos que se refiram à necessidade de fuga do mundo, Pessanha defende que os problemas encontram-se na realidade, e é na realidade que devem ser solucionados. De acordo com o autor, um bom número de estudos críticos que tomaram corpo ao longo do século 20, visando a criar uma arte que propusesse ambientes paralelos ao real, são mero delírio. Daí a importância da filosofia, da estética e da teoria crítica para se transformar o que pode ser mudado.
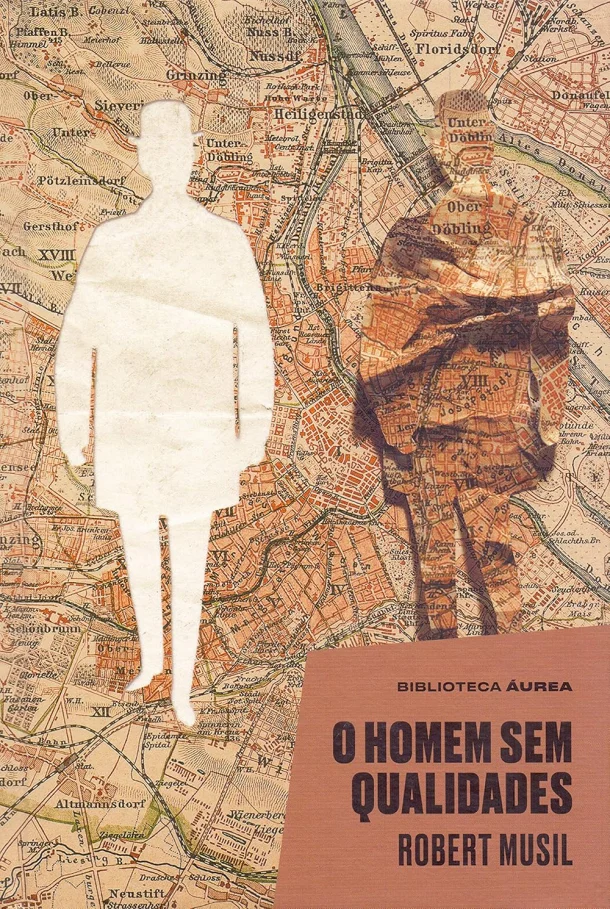
O que dizer de um livro que começa a ser escrito em 1910, tem a primeira parte publicada em 1930, a segunda somente dois anos depois e resta inacabado, por causa da morte repentina do autor? Se você vencer o preconceito e esquecer os comentários maldosos — e ligeiros — sobre ele, vai dizer muita coisa. “O Homem sem Qualidades” talvez seja o romance mais hermético, mais sui generis, mais filosófico e mais poético jamais publicado, e sobram ironias finas neste curto período. É um livro cheio de intenções, de pretensões, mas, ao mesmo tempo, não quer dizer nada — tomando-se o não querer dizer no sentido de deixar ao leitor compreendê-lo da forma como melhor lhe aprouver. Ulrich, 32 anos, o protagonista desse Bildungsroman, desse romance ensaístico, ou romance de construção — enquadrar o livro numa categoria só rendeu um caminhão de teses de mestrado e doutorado, muitas delas confusas. Ulrich era um homem que não conseguia se ajustar na sociedade em que vivia. Tentou a carreira militar: desistiu; imaginou que a engenharia lhe poderia trazer alento para uma vida sem sentido e também teve de abdicar desse propósito, por ser a engenharia teórica demais; por fim, é vencido pela matemática, com a qual também não se realiza, por ser este um campo demasiado duro e completamente avesso a subjetividades. Ulrich é um homem sem qualidades num mundo de qualidades sem homens para vivê-las, ou seja, ele estaria no lugar certo, mas é honrado demais para reconhecer-se inútil num mundo em que objetividade é o fundamento maior para se desfrutar de uma vida plena.

A decisão de Coetzee por aludir a Jesus nos títulos de três de seus livros confunde, mas acaba levando a uma explicação plausível. “A Morte de Jesus”, último volume da trilogia sobre um profeta nada convencional, serve de válvula de escape para que o sul-africano Coetzee denuncie frustrações e confesse esperanças no que pode vir a ser uma outra civilização, opiniões furiosas e análises plenas de método com que o leitor identifica-se a despeito de preferências ideológicas, formação ancorada nesse ou naquele ponto de vista e, por óbvio, religião. O Nobel de Literatura em 2003, abre um enorme panorama, multicolorido e cinzento, sobre o destino da humanidade, perdida desde sempre nas ilusões de redenção com que não se cansa de sonhar, reunindo essas sensações diáfanas, abstratas, num todo coeso e humano, demasiado humano, conduzido por David, um menino atormentado pelo desejo insano que o atira à tragédia irremediável.

Clarice Lispector (1920-1977) foi um espírito dos mais invulgarmente caudalosos no corpo de uma mulher comum. As caminhadas da escritora pela orla do Leme de um Rio de Janeiro já sepulto nesse imenso cadáver que não para de procriar chamado Brasil tiveram sua grande medida de responsabilidade nas iluminações tenebrosas com que Clarice, essa alma essencialmente sombria (mas que gostava de sol), terminava de arrasar com suscetibilidades hipócritas da gente sabida de seu tempo. Publicado em dezembro de 1943, dezesseis anos antes da ida de Clarice para a Zona Sul carioca — para onde fora levada quando decidira se separar do marido —, “Perto do Coração Selvagem”, o romance inaugural da prolífica carreira de Clarice, escrutina as primeiras descobertas de Joana, muitas, claro, ligadas à paixão e ao sentimento amoroso mais elaborado, e à medida que o livro se agiganta e Joana torna-se mulher, o leitor percebe quão ingênua, quiçá tola, era a protagonista.








