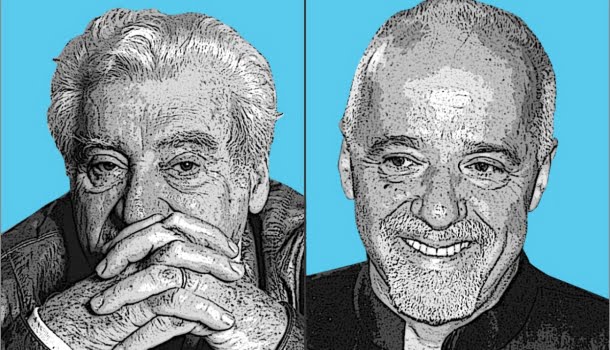Apesar das traduções exitosas, costuma-se dizer que a repercussão da literatura brasileira no exterior permanece tímida. É coisa que uma política eficiente de divulgação resolveria? Ou em maior grau depende, também, de agenciamento e interesse jornalístico e editorial? Tudo isso, provavelmente. Mas, satisfeitas as condições externas, estaríamos aptos a satisfazer também as condições internas, isto é: a ficção brasileira é realmente um produto artístico de qualidades intrínsecas? Até que ponto? Essas constituem talvez a questão mais relevante, sem a qual a primeira, referente ao mercado, não frutificará.
O fato de ao menos Jorge Amado ter conquistado um amplo auditório lá fora não altera a condição ancilar da ficção brasileira. É consenso entre pares e críticos que o país tem escritores muito mais importantes, no entanto o mais difundido, até o surgimento de Paulo Coelho, era o novelista da Bahia. O gênero, nesse caso, talvez importe: porque a novela parece ser a forma adequada das peripécias, em lugar da complexidade dos caracteres, mais condizente com a forma romanesca típica. Se isso interessa ao público, interessa também ao mercado, e explicaria parte do sucesso do criador de “Gabriela, Cravo e Canela” lá fora. Alfredo Bosi definiu a arte do escritor baiano como “populismo literário”, em cujos meandros Massaud Moisés apreendeu mais defeitos que virtudes: hipertrofia, esquematismo e panfletarismo folhetinesco, desdobrando-se numa pena fescenina. Será que é o que de melhor temos a oferecer ao público daqui e do exterior? Ou, por outra: será que o público estrangeiro espera de nós apenas o exótico e o pitoresco?

Gabriel García Márquez: Prêmio Nobel de Literatura de 1982 | Jose Lara / Wikimedia Commons
Não temos condições de dar uma resposta tão grave neste curto ensaio, cuja finalidade é levantar algumas hipóteses sobre aquela tímida repercussão. Seria necessário investigar ao menos quais são os autores traduzidos no seu conjunto, para quais e quantos idiomas; por quais editoras e, finalmente, qual a recepção crítica de tais obras, para se conhecer a verdade a respeito deste assunto. De antemão, é injustificável incluir Paulo Coelho, escritor pretensamente fantástico, no rol da literatura brasileira; a não ser pelo fato de que o seu nome contribui para fortalecer um equívoco sobre a importância desta literatura no exterior. Como Jorge Amado, Paulo Coelho é um eficiente contador de histórias, não porém um esteta, e é plausível que o melhor de nossa ficção — arte autêntica — continua sendo marginal, em um contexto mais amplo. Sem falar dos poetas e dos pós-modernos, indiscutivelmente temos bons ficcionistas, alguns até gigantes: Machado de Assis e Guimarães Rosa excedem todos os outros, comparando-se aos melhores do mundo. Mas há ainda Graciliano Ramos, José Lins do Rego (que Otto Maris Carpeaux comparou a Ivan Gontcharóv), Clarice Lispector. É o bastante para nos redimir? Parece que não. Por que razão isso acontece?
Pode-se levantar muitas hipóteses, duas particularmente conhecidas: a primeira sustenta que a desimportante língua portuguesa constitui uma enorme barreira promocional; a segunda, que não temos uma tradição milenar como a dos europeus (o que equivale a dizer que somos uma nação jovem: isso nos impediria de ser “maduros e experientes” o bastante). A verdade é que tais hipóteses não resistem ao escrutínio dos fatos: a satisfatória difusão mundial de Jorge Amado e Paulo Coelho desmentem de chofre a primeira hipótese, sem contar que os mestres citados foram também traduzidos para as principais línguas. Ainda assim, os Estados Unidos rivalizam com russos e europeus em matéria de ficção de nomeada, enquanto permanecemos obscuros, ao que parece. Faltou-nos tradição? Estranho argumento, visto que os Estados Unidos são quase um século mais novos que o Brasil. Jamestown, primeiro assentamento inglês em território norte-americano, é de 1607: surgiu setenta e seis anos depois de São Vicente, primeira vila construída em território brasileiro. Em José de Anchieta já tínhamos um talento literário de algum interesse antes que a excepcional aventura norte-americana começasse. Já no que se refere à língua, o russo não é mais disseminado pelo mundo que a portuguesa: ambas estão, atualmente, na casa dos 250 milhões de falantes, mundo afora, sendo que essa proporção nunca favoreceu os eslavos. No entanto, é consenso que as ficções russa e norte-americana estão no epicentro da chamada “literatura universal”, desde meados do século 19. Quando Nathaniel Hawthorne e Herman Melville escreveram, os Estados Unidos eram apenas uma promessa, em um mundo amplamente dominado pelo império britânico. Mais ou menos na mesma época, diferente não era a situação da Rússia de Dostoiévski e Tolstói.

Assim, mesmo a ideia de que o poder de um país é determinante para o sucesso internacional de sua cultura é insuficiente para explicar o sucesso ou não de uma literatura. Há fortes argumentos a favor dessa ideia. Mas a Argentina, por exemplo, nunca chegou a ser uma potência mundial; a mesma Argentina que produziu o escritor talvez mais influente da segunda metade do século 20, Jorge Luis Borges. Borges alcançou uma eminência próxima à de ninguém menos do que Franz Kafka, e sua nação produziu Julio Cortázar de “O Jogo da Amarelinha”. E enquanto nos vangloriamos de Jorge Amado e Paulo Coelho, o Peru e a Colômbia produziram, respectivamente, Mario Vargas Llosa e Gabriel García Márquez, talentos estéticos incomparavelmente superiores. São escritores completos e complexos, cada um deles com um Nobel de literatura, embora nascidos em países ainda mais periféricos do que o Brasil. Cuba, por sua vez, produziu Alejo Carpentier, talvez o primeiro realista fantástico do mundo, possível pioneiro do gênero que definiria a produção latino-americana de língua espanhola no contexto internacional. Com isso fica demonstrado, por tabela, quão insustentável é aquela segunda hipótese — a da ausência de uma tradição milenar — visto que a América Latina e o Brasil surgiram do mesmo movimento histórico: as grandes navegações, entre os séculos 15 e 16.
Fora do Brasil, nossa literatura tem apenas um nome francamente reconhecido entre os grandes da literatura universal. Traduções recentes de Machado de Assis para o inglês, e sua feliz recepção por Harold Bloom, em “Gênio”, contribuíram para consolidar esse status. Mesmo assim, é discutível se Machado tem no exterior a aceitação de um Rubem Dario, poeta embora e não ficcionista. Fica a pergunta: que tradição literária tem a Nicarágua de Dario, ou a Guatemala de Miguel Ángel Asturias, outro prêmio Nobel de literatura? Esses dois países ficaram independentes em 1821 (nós, em 1822), e são política e economicamente muito menos relevantes do que o Brasil — cujo tamanho equivale ao dos Estados Unidos, mas cuja mentalidade agroexportadora (ainda hoje!) é claro indício de atraso, onde o que mais conta é o conhecimento, o domínio tecnológico e a agregação de valor. Ora, nem essa mentalidade econômica parece fornecer uma boa hipótese explicativa para o sucesso ou fracasso internacional de uma literatura: quando a Rússia deixou de se feudal, em 1917, os maiores escritores russos já estavam mortos e espiritualmente enraizados em toda a cultura literária europeia. A literatura russa já era uma das principais do mundo civilizado, embora o país fosse um dos mais atrasados do mundo, à época. Este fato sugere, por sua vez, que o pioneirismo norte-americano a partir do ano-chave de 1890, em várias frentes — tecnológico, político, econômico, tão bem explanado por Malcolm Bradbury, em “O Romance Americano Moderno”, e por Henry Steele Commager, em “O Espírito Norte-Americano” —, não é uma variável determinante para o sucesso internacional de uma literatura. Pois de nada disso dependeu a literatura russa para ser uma das mais poderosas e de alcance universal.

Outra hipótese frágil é a que se refere à nossa falta de originalidade: seríamos cópias, e cópias inferiores, da grande literatura estrangeira, principalmente a europeia. Teríamos importado seus métodos, criados pelos diversos movimentos estético, desde o romantismo, quando Joaquim Manuel de Macedo publica “A Moreninha” (1844), o primeiro romance brasileiro digno de apreciação crítica. Ora, examinando-se os conceitos de “originalidade” e de “europeu”, conclui-se, primeiro, que não existe originalidade possível, a não ser na abordagem daqueles movimentos e teorias do Velho Mundo. Neste aspecto, sem dúvida “Macunaíma”, de Mário de Andrade, foi uma maneira original de se operar com a psicanálise, a despeito de suas qualidades romanescas intrínsecas. E não se criou nos Estados Unidos, por exemplo, um novo ismo em literatura, onde o naturalismo e Émile Zola têm uma tradição poderosa. Segundo, se chega à conclusão de que fomos tão influenciados pela ficção do Velho Mundo quanto o foi a literatura norte-americana, conforme o testemunho de Malcolm Bradbury.
Embora ocioso é necessário reafirmar que a Europa é parte legitima tanto da cultura norte-americana quanto da brasileira, posto que nossa ligação transatlântica é genética: ou derivamos de portugueses, de espanhóis ou de ingleses, sobretudo. É um fato histórico incontornável. No entanto, tal e qual “Macunaíma”, “Grande Sertão: Veredas” não poderia ter sido escrito na Rússia, nos Estados Unidos ou na Europa, apesar de reconhecermos suas arrasadoras influências alienígenas. Guimarães soube pegar aqueles métodos importados e amalgamá-los a uma realidade social específica, produzindo ficção brasileira de primeiro nível — da mesma forma que William Faulkner produziu literatura norte-americana de primeiro nível, sob os influxos do mesmo James Joyce, traduzidos em “O Som e a Fúria”. Só a desinformação ou a má fé pode nos condenar com base na hipótese de uma presumível “falta de originalidade”.

Todas essas contradições explicativas evidenciam que o comparativismo não rende boa ciência: o Brasil se parece muito com os Estados Unidos em muitos aspectos, e também se parece com a Rússia, em outros. No entanto, Estados Unidos e Rússia convergiram numa literatura imensamente grande, enquanto o Brasil é apenas um produtor secundário de ficção, menos importante que o Peru. O historicismo — segundo o qual cada processo social é único, portanto incomparável — parece oferecer um caminho mais promissor para se entender o fenômeno de nossa marginalidade ficcional. A isso se junta um método puramente pragmático: o teste da leitura, pura e simples. Alguns poucos e conhecidos autores brasileiros resistem a este teste; mas, no geral, falta à ficção brasileira, diria, a profundidade e a complexidade notáveis nos melhores escritores estrangeiros. O número de autores nacionais com essa capacidade é menor, embora eles existam.
Nossa imaturidade histórica não é bom argumento porque a dos Estados Unidos, como se disse, também é uma realidade. Diferente deles, no entanto, nossa imaturidade é de caráter: espírito brincalhão e pouco afeito à filosofia, parece não termos vocação para a seriedade sob nenhuma forma, senão como adorno: Sérgio Buarque de Holanda é apenas um dos cientistas sociais que o sugeriram, tanto quanto Machado de Assis em contos como “Teoria do Medalhão”. Em termos de tipo ideal weberiano, a única coisa que levamos a sério parece ser a festa: essa é a nossa tragédia, com reflexos deletérios em nosso poder de criação. Amiúde, a especulação metafísica — fortíssima entre os principais pesos-pesados da literatura imaginativa — fadiga-nos enormemente. Contudo, “Anna Kariênina”, de Tolstói, “Ficções”, de Borges, ou “Meridiano de Sangue”, de Cormac MacCarthy são empreendimentos impossíveis sem fartas doses de metafísica. E também de erudição e talento retórico.
O teste da leitura é seguro, e tais faltas se refletem de maneira palpável em nossa prosa, vocacionada mais para de superfície que para a profundidade, segundo a percepção que temos. De forma que em nosso ethos social parece residir a explicação menos incoerente para o insucesso da ficção brasileira num terreno onde o que mais conta é, justamente, o abismo, tropo cuja significação é por demais autoexplicativa. Não há “melhores” escritores onde há apenas bons enredos: a boa história pode até divertir (Jorge Amado, Paulo Coelho…), mas o espírito do leitor exigente anseia por sabedoria autêntica, ouro que só se extrai de uma jazida: a idiossincrasia, seja do personagem ou do narrador. É o que acontece quando ouvimos Liévin, em “Anna Kariênina” (alter ego de Tolstói falando conosco), ou quando ouvimos Marcel em “Em Busca do Tempo Perdido”, de Proust, casos excepcionais mas bastante exemplares.
Também, aqui, falamos em termos hipotéticos, que diversas leituras permitiram inferir. Parece não haver dúvida de que é o abismo que produz a compreensão mais adequada da natureza, as melhores imagens e as representações mais convincentes do fenômeno humano. Felizmente ou infelizmente, a grande arte não faz concessões, e desafiar o abismo acima de nossa proverbial timidez, pode ser o caminho da redenção. Como prova Machado de Assis, a força se impõe por si mesma.