Um respeitado medievalista brasileiro, Hilário Franco Júnior, repara em um de seus trabalhos, “Idade Média: O Nascimento do Ocidente”, que esse período, ao contrário do que é vulgarmente afirmado, legou algumas contribuições fundamentais à civilização moderna. Entre elas destaca o Estado nacional, as sementes do parlamentarismo, o contratualismo e o trabalho assalariado, que teria aparecido entre os séculos 12 e 13, no curso da Idade Média Central. No campo da cultura, não foi menos destacada sua contribuição, desmentindo a ideia de uma época criativamente estéril, consagrada apenas a um misticismo entorpecente.
Está certo que a Igreja não só monopolizou como, em parte, atravancou o progresso do conhecimento, em particular o especulativo, mas nem tudo foi perdido nos longos mil anos deste reinado religioso. Em que pese suas maiores realizações, a Idade Média continua, rigorosamente falando, uma época insuperada. Basta dizer que não concebemos as profundezas do homem moderno sem o amparo de Dante Alighieri, o maior dos poetas, ladeado, parece, por Shakespeare. Tampouco é possível pensar a política, ainda hoje, sem nos servirmos das análises de outro florentino genial, Nicolau Maquiavel. Maquiavel nasceu em 1469 e escreveu sua obra mais importante, “O Príncipe”, por volta de 1513, quando já falamos de período moderno, cujo “mito de origem” remonta à reconquista de Granada pelos cristãos, em 1492, ou, quando muito, à descoberta da América, em 1500. Menos simplista é concordar que se trata de um demorado período de transição, onde as águas do tempo se misturaram até o fluxo pender para um dos lados, esmaecendo de vez os resíduos do outro. Como ensina a historiografia francesa dos Annales.
Quem, nos últimos 500 anos, definiu melhor a política do que Maquiavel, homem que viveu na passagem entre estes dois mundos, o medieval e o moderno? E fê-lo com tamanho acerto, por um detalhe — o método.
O segredo de Maquiavel é o homem. Lemos seu manual de guerra, “O Príncipe”, descobrindo página por página que o pensador investigou primeiro o homem, a sua natureza íntima, chegando daí às suas luminosas conclusões políticas. Em outras palavras, Maquiavel não partiu de uma abstração conceitual que chamamos de “política”, a exemplo do que fez, peguemos ao acaso, Marx, quando Marx partiu da “economia” para chegar a um sistema explicativo das relações humanas, a propósito altamente coerente e modelar. Paralelo elucidativo, é possível conceber o homem moderno a partir da leitura econômica de “O Capital”, sendo inversamente possível, também, chegar a uma compreensão da política a partir da leitura humana de “O Príncipe”. É improvável que o método não tenha sido escolhido conscientemente por seu autor, já que está lá, impondo-se à sensibilidade do leitor. É um caminho bastante original, se o compararmos ao processo investigativo de outros politólogos e cientistas sociais, conforme exemplificamos com Marx. Amiúde, a investigação científica social parte de outras categorias e abstrações, seja a economia, a cultura, as leis, o Estado etc., etc. A categoria de Maquiavel é o homem.
Em alguns momentos, lemos seu livro com a satisfação de quem lê uma tragédia como “Macbeth”, embora uma coisa seja arte e a outra, evidentemente, não. O expediente atroz com que Agátocles Siciliano e Oliverotto da Fermo recorreram para ascender ao poder são traduções reais das famosas carnificinas do dramaturgo inglês, da mesma forma com que o veneno que inadvertidamente matara César Bórgia e seu pai, o perverso Alexandre VI, sucessor de Pedro, recorda os meios com que os vilões shakespearianos eliminam seus antípodas. Com efeito, não há nenhum exagero quando o mestre inglês encerra suas grandes peças eliminando todos os protagonistas, embora não tenhamos notícias de que tenha lido Maquiavel. Eis a política real, aquela de que trata Maquiavel: nada é mais humano do que a guerra, e infelizmente não há nenhuma ironia nisso.
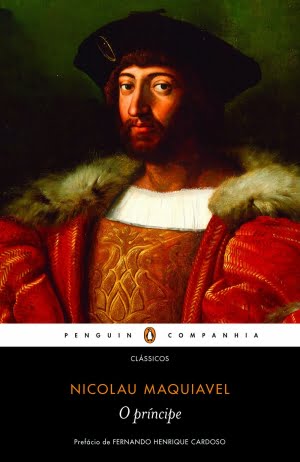
Mas “O Príncipe” evidentemente não é arte, ainda que possamos auscultar esses incontroláveis impulsos subjetivos que caracterizam seus personagens, analisados pela objetividade às vezes ambivalente de um pensador. Diga-se aliás que o mesmo não quis ornar com retórica — ferramenta indispensável dos artistas neoclássicos —, seu belo manual. Não faz muito diferença, pois o resultado corresponde a isto: à semelhança do que acontece num romance, assistimos nesse livro ao escrutínio moral de várias personas, refletidas em suas disposições psíquicas e de caráter; são, todavia, personas reais, personas históricas. Maquiavel, ao contrário de um Boccaccio, não inventou suas criaturas (salvo a referência a figuras mitológicas como Moisés, Rômulo, Teseu e Davi, relacionadas por razões presumivelmente didáticas). Não é arte, como dissemos, mas o móvel que inspira Francesco Sforza ou Cipião, este ou Braccio da Montone e, é claro, o povo, é a paixão. Prova disso é o uso abundante que Maquiavel faz de termos substantivos como gratidão, injúria, inveja, amizade, desgosto, escrúpulo, medo, vingança e tantos mais que tão bem conhecemos de nossas relações pessoais.
Uma das causas da “ruína e desonra” da Itália de seu tempo — e que também ameaçou a França de Luís XVI, rei à época — era o recurso às milícias mercenárias e às forças auxiliares de outros príncipes. No caso, a consequência desastrosa foi a fragmentação do país em vários Estados. Ora, e qual terá sido o ponto fraco desses exércitos de empréstimo? A instabilidade, a ambição, a indisciplina, a infidelidade, a deslealdade — tanto dos chefes quanto dos seus soldados. Teria sido esta, também, a causa da desgraça romana durante o período de anarquia militar que conduziu o maior império do Ocidente à ruína, até 476 d.C. Naturalmente, já não bastariam as virtudes reunidas de um capitão exemplar como Severo para impedir a bancarrota de seu mundo. Dizem que a grandeza de um indivíduo é proporcional ao estado ruim de coisas que encontra e reverte, e Maquiavel quis reverter a situação italiana tornando-se o preceptor de Lourenço de Médici. A raiz de sua grandeza é a desgraça da Itália.
Aquele caudal de sentimentos opostos é parte do movimento dialético. É a dialética que, em última instância, determina a sorte do condestável ou governante, e que constitui a linha condutora de “O Príncipe”. Refiro-me à relação entre o mérito ou virtude — por si só uma qualidade do espírito—, e a sorte ou fortuna, que independe da vontade individual, mas apenas de forças externas e imprevisíveis. São os favores alheios, a boa vontade de terceiros, a saúde e outras coisas do gênero. Na política há, então, fundamentalmente, dois tipos em ação: o virtuoso, “um homem dotado de grandes talentos e predicados”, e o afortunado, que não é lá grande coisa por si mesmo, exceto pelas circunstâncias que possam brindá-lo. Conhecemos inúmeros afortunados, quase todos crápulas e fanfarrões, e raríssimos virtuosos — únicos que, ao conquistar o poder, podem e talvez mereçam ser glorificados. Políticos há que se valem, ainda, ou do “crime” ou do “apoio dos concidadãos” — venturosa astúcia —, embora não seja mais possível escapar à influência, ainda que pequena, de um dos dois fatores polares, inelutáveis como uma lei.
Próximo dos ficcionistas‚ sem, confundir-se com eles — o pensador florentino avalia os indivíduos em termos de virtudes ou de atrocidades, razão pela qual um dos objetos de sua obra é “a forma de ser e de proceder”, “os feitos e a vida” desses mesmos indivíduos exemplares. São dignas de atenção construções desse tipo: “natureza dos vencidos”; “se observarmos as suas particulares ações e condutas”; “excelência das virtudes pessoais”; “desdenha os maus sentimentos”; “examinando seus feitos e trajetórias”, entre outras. Justifica, em tais termos, a dedicatória a Lourenço de Médici, na qual realça como qualidade maior de seu manual a humanidade que lhe é intrínseca: “Sua humanidade é para mim uma garantia de que Ela [a Magnificência de Lourenço] a receberá com simpatia…”, fazendo analogia de seu trabalho ao de um paisagista que descreve o seu objeto. É um pintor.
Como tal, Maquiavel parece ser herdeiro de uma tradição que se firma a partir do Quatrocento, e que vem a ser o naturalismo, uma concepção secular e racional do homem e da vida, tributária, segundo Arnold Hauser, da classe média ascendente. É significativo que Florença, a cidade do pensador, seja o centro irradiador desta tendência. O realismo de Maquiavel está em saber que o homem é homem, mas também animal. Ele não descobriu o mau-caratismo, o homem antiético, mas para sempre ensina como se precaver contra sua permanente ameaça, ainda quando, para que assim suceda, seja necessário fazer-se temido. Em suas relações, de acordo com ele, cada um deve ser seu próprio Aníbal, haja vista que, nesse mundo, é mais fácil ver rompido os vínculos da estima que o dos interesses pessoais: “os homens não tardam a esquecer a morte de um pai quanto a perda de um patrimônio”. Às vezes, como aqui, o gênio se reconhece pelas obviedades que diz. Não sabemos se Shakespeare leu Maquiavel, mas esse último ensinamento bem poderia ter inspirado a malvadeza familiar do vilão Edmundo.
A concepção maquiavélica de política permanece imbatível — basta conferir os noticiários para confirmá-lo —, embora seja originalmente uma concepção renascentista. Daí a centralidade do homem e de sua natureza íntima. Daí a sensação provocada pelo “O Príncipe”, em que pese, imagino, o interesse pelo retrato individual de homens de carne, osso e espírito, observados sem nenhuma ilusão, à maneira do que fizeram talentos posteriores como Stendhal e Lampedusa, embora com outras finalidades. A diferença fundamental, que exclui dele justamente qualquer possibilidade de ficção, é sua crua objetividade, sua referencialidade ineludível, sua triste e horrorosa realidade. A violência rotineira dos papas medievais não é ilusória como a dos vilões Iago e Lady Macbeth. Não é arte o que contém “O Príncipe”, portanto, mas, para além de nossas suspeitas, seu autor julgava que pelo menos o Estado era de fato uma realização artística: “Maquiavel, seguindo a tendência de sua era, dizia que o Estado era a maior de todas as criações artísticas. A maior de todas as artes era aquela que construía uma ordem política. É verdade que ele encarava a construção do Estado em termos muito renascentistas. Era uma atividade na ordem de Brunelleschi, o construtor do Duomo de Florença”. Na sua opinião, “os materiais usados na grande obra de arte que era o Estado eram os seres humanos”.
O pendor fascista de algumas “democracias”, em nossos dias, faz pensar que o capítulo mais discutível de “O Príncipe” tenha se tornado o “Do principado civil”. Não parece que, em situações normais, o povo seja tão indispensável conforme Maquiavel imaginou, aí e adiante. Se o é, ainda, ao invés da consideração verdadeira pelo vulgo, muitos “príncipes” e governos atuais valem-se na realidade da propaganda para estabilizar seus impulsos, enquanto na obscuridade praticam outras coisas. Não se pode negar que os meios de comunicação evoluíram muito, de modo que a tarefa de iludir tornou-se muito mais fácil do que num passado tão remoto quanto a Renascença.
Ao lado de Sun Tzu, “A Arte da Guerra”, e de Carl von Clausewitz, “Da Guerra”, “O Príncipe” é um dos mais brilhantes manuais do gênero, na história. A humanidade tem seu lado perverso, e é sobre alguns desses aspectos que instiga à reflexão este valioso manual da vida prática, fonte preciosíssima realpolitik — aquela que sempre alveja nossas mais nobres e doces ilusões. A propósito: vicejem elas à direita (Maquiavel seria um ideólogo burguês) ou à esquerda. Ou sabe o leitor de alguma diferença metodológica, na prática?






