As grandes ficções permitem as mais variadas leituras. Quanto melhor o romance, maior o número de formas de interpretação dele. O livro “Grande Sertão: Veredas” (1956), de Guimarães Rosa, é uma dessas obras que se enriquecem pela multiplicidade de pontos de vista, indo das questões estéticas às históricas, passando por esoterismo e tradições populares. Nos últimos anos, cresceram as abordagens sobre o que a escrita rosiana diz a respeito das coisas do mundo e da “matéria brasileira”.
Em “Lutas e Auroras: Os Avessos do Grande Sertão: Veredas” (2018), Luiz Roncari lançou o desafio de expandir ainda mais a interpretação do romance. Segundo ele, as leituras já realizadas trataram mais do movimento “de fora para dentro”, ou seja, da matéria do homem e meio rural que foi internalizada no texto rosiano. Diz o crítico que chegou o momento de avaliar o sentido do “dentro para fora” para ver o que a ficção de Guimarães Rosa ilumina no entendimento da realidade do mundo e do país.
As descobertas de Roncari mostram o “Grande Sertão” como uma chave interpretativa do Brasil, particularmente no espaço geográfico do interior. Sua leitura aponta, por exemplo, para um lado luminoso do romance de Guimarães e para um outro da escuridão. Na figura do personagem Zé Bebelo, aparece o sujeito que se infiltra nos bandos de jagunços para acabar com a guerra do sertão. O sentido é um certo processo civilizatório, ao lado de seu professor Riobaldo (o narrador em luto do livro).
O ponto alto do civilismo seria o julgamento do Bebelo pelos chefes dos jagunços, como Joca Ramiro, na Fazenda Sempre-Verde. Ao invés da punição sumária, Riobaldo propõe a “justiça restaurativa”: libertação de Zé Bebelo e banimento dele da jagunçagem. Assim todo o sertão saberia da humilhação sofrida por esse personagem. Ficar vivo e longe das lutas seria o pior castigo — e não a execução com a morte. O perdão (tema extremamente contemporâneo) surge no meio da ferocidade daqueles sertanejos.
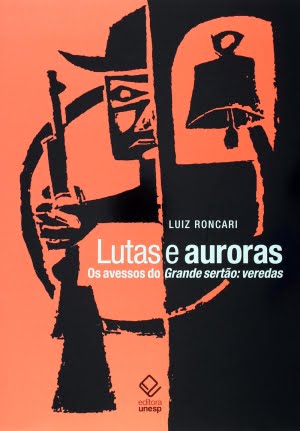
“O julgamento era o marco da fundação de uma nova ordem institucional, que iria conviver com a do sertão, a da violência que dominava o seu mundo, onde vigoravam as relações agressivas e militares, a lei do mais forte, mais próxima da natureza, a da esperteza e da traição. Era tudo muito brasileiro. A aceitação do tribunal por Joca Ramiro afirma um dos traços da sua singularidade diante dos demais chefes jagunços. Ele era uma figura real, que sabia combinar em suas mãos as três alturas do poder: a força militar, a astúcia da política e a maior de todas, o senso de justiça, as mesmas de Zeus/Júpiter”, afirma Roncari.
A inflexão no romance ocorre páginas após o julgamento de Bebelo. Não haveria mais uma ordem racional e uma lei nova do sertão. Isso porque os jagunços de Riobaldo ficam encurralados na Fazenda dos Tucanos, e o bando inimigo, chefiado por Hermógenes, se posiciona à distância e alveja a casa da fazenda com tiros. Ao final, há um extermínio dos cavalos na fazenda. Guimarães Rosa faz a impressionante narrativa das trevas. O leitor que ficou boquiaberto com a civilidade do julgamento de Zé Bebelo se depara com o horror mais brutal.
A parte final de “Grande Sertão: Veredas” é a figuração do obscuro e do fantasmagórico. A morte de Joca Ramiro, o encontro do bando de Riobaldo com os catrumanos (os mais miseráveis que se possa imaginar no sertão), o pacto com o diabo para alcançar o poder da vingança e a batalha final na localidade do Paredão (que custa a vida de Diadorim, a neblina nos olhos e na cabeça do narrador). A vida nesse enclave (norte de Minas Gerais, sudoeste da Bahia, leste de Goiás) seria a concretização de um inferno, sem possibilidade de atingir padrões civilizados do mundo moderno.
Conclui Roncari: “A partir da morte de Joca Ramiro à traição, o tema do livro passa a ser o da busca da vingança e não mais o da justiça, o que faz o seu sentido se reverter do moderno para o que havia de mais arcaico, inclusive na literatura: a morte à traição e a busca da vingança. Nada mais tradicional. Toda essa segunda parte do livro, que eu chamei de ‘face negra’, por ser de lutas, perdas e mortes, se concentra nos episódios com vistas a isso: a busca da vingança de Joca Ramiro, morto à traição. Era esta a regra maior do sertão, que retornava de novo como norma, e na qual nem os traidores dormiam mais sossegados”.
Espírito bandeirante
O tempo do “Grande Sertão: Veredas” é o da República Velha, na virada do século 19 para 20. O Brasil havia se livrado de um Império de quinta categoria que vivia agarrado ao regime da escravidão e tinha um líder perdido no tempo e no espaço (D. Pedro II). O país era um amontoado de fazendas espelhadas pelo interior e com uma capital federal, o Rio de janeiro, que sonhava com Paris. Machado de Assis dissecou o que era o “nada” da corte imperial, o local de novos parasitas e uma sociedade que não caminhava para lugar algum. Por sua vez, Guimarães Rosa mirou o nosso “coração das trevas”.

Luiz Roncari diz que o desafio das novas leituras do “Grande Sertão” é desvendar o “espírito bandeirante” nos chefes dos bandos, nos jagunços e na gente miserável que habitava o coração do Brasil. Trata-se de um espírito que desbravou selvagemente o interior. Novos historiadores como Jorge Caldeira, porém, vêm disseminando a imagem desses desbravadores como “empreendedores” do sertão — ao invés da representação de exploradores que tomaram conta de uma região por meio de escravização de indígenas, desmatamento da vegetação e manutenção da pobreza.
Com justiça, a figura do bandeirante virou alvo de controvérsias nos últimos anos — para além de estátuas de péssimo gosto, como a de Borba Gato na cidade de São Paulo, queimadas por manifestantes. Biógrafo de Clarice Lispector, o escritor Benjamin Moser se mostrou horrorizado ao ver os monumentos desses heróis paulistas em forma de estátuas e nomes de ruas e estradas. Para dar sentido ao seu choque, ele escreveu o ensaio “A Pornografia dos Bandeirantes”.
“Quanto mais eu os observava, mais seus monumentos suscitavam questões a respeito de como se faz história. Espalhados pela cidade, os bandeirantes pareciam atores amadores, sua voz dizendo uma coisa, seus gestos e seu olhar, outra. Mas, como os sonhos ou as mentiras, mensagens confusas também são mensagens. E verdades contadas inadvertidamente costumam ser mais reveladoras, e até mais verdadeiras, que outros tipos de verdade”, assinalou Moser.
A obra dos bandeirantes, com suas estátuas, é um legítimo monumento à barbárie, sob o manto de um monumento da civilização — para usarmos a clássica análise de Walter Benjamin. Na verdade, o auge da ação deles (o século 17) sintetiza o desastre da colônia brasileira. Os melhores retratos dos bandeirantes e suas expedições apareceram nos livros de Luiz Felipe de Alencastro (“Trato dos Viventes”) e de John Manuel Monteiro (“Negros da Terra — Índios e Bandeirantes nas Origens de São Paulo”).
Segundo Alencastro, a cidade de São Paulo surgiu como “feira de trato”. Os indígenas capturados no interior do Brasil eram ali comercializados. A bandeira de Raposo Tavares (nome de rodovia até hoje) escravizou entre 40 mil e 60 mil índios em 1628. Como se vê, o Brasil estava em plena fase de acumulação primitiva quando homens tinham a missão de escravizar indígenas. Em qualquer época da humanidade, a escravidão de “viventes” é injustificável, mesmo que seja legalizada por leis arcaicas.
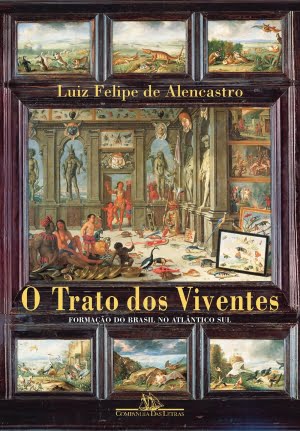
Ressalte-se que a glorificação dos bandeirantes foi um trabalho encomendado pelas elites paulistas, como bem lembra Alencastro: “O republicano [português] Jaime Cortesão, exilado no Brasil, glorificou os bandeirantes, transformando-os nos primeiros combatentes da luta anti-espanhola que desembocou na restauração da independência portuguesa em 1640. Essa interpretação, que subalternizava a caça de cativos indígenas — objetivo principal e assumido dos bandeirantes —, caiu como uma luva no imaginário paulista. Em fase de baixa autoestima por causa do revés da Revolução de 1932, a elite paulista aplaudiu a heroicização dos bandeirantes, predadores de índios transvestidos em defensores da liberdade dos povos”.
Segundo Alencastro, os bandeirantes faziam parte de um sistema que negociava o couro (usado para embalar fumo) produzido no interior. A produção de tabaco demandava escravos trazidos da África. As receitas desse comércio eram usadas para aquisição de prata do Peru e da Bolívia. No final do ciclo, a prata servia de moeda para os negócios dos portugueses na Ásia. Antes de heróis com direito a monumentos, os bandeirantes eram uma mera peça no jogo da economia global da época: limpavam o caminho para o comércio de couro, matavam/capturavam indígenas e nunca produziram um palmo sequer de desenvolvimento (na acepção que se queira dar à palavra).
Sistema jagunço
Seguindo o ponto de vista de Roncari, os bandeirantes podem ser os antepassados dos personagens de Guimarães Rosa. É ali que se encontra um espírito nada capitalista ou civilizador que atravessa os séculos. Em seu clássico “As Formas do Falso”, Walnice Galvão aprofundou o olhar para a fisionomia dos protagonistas do “Grande Sertão”: “Os jagunços são vistos como rebanho e só os chefes merecem imagens individuais. Assim, falando dos ajustes dos bandos, [Riobaldo] diz que têm ‘semelho, mal comparando, com o governo de bando de bichos — caititu, boi, boiada, exemplo’”.

Os jagunços são uma “plebe rural”, sujeitos que vêm de “baixo”, de acordo mais uma vez com a leitura de Walnice: “Seu grande contingente, sua desocupação e disponibilidade foram preocupações constantes para os administradores da colônia e, posteriormente, para os dirigentes do Império e da República, fonte que era de truculência e desordem, risco para a ordem pública”. Ou seja, esses pobres-diabos estavam largados num espaço geográfico de um país, antes de qualquer traço de modernidade.
No livro “grandesertão.br”, o crítico Willi Bolle avançou alguns pontos e sugeriu que o “sistema jagunço” pode ser o embrião para a violência que formou a sociedade brasileira: “Ao fundamentar seu retrato do Brasil numa encenação do sistema jagunço — instituição no limiar entre a lei e a ilegalidade, onde a transgressão é a regra e a guerra é permanente — Guimarães Rosa representa o funcionamento das estruturas de poder no país. Visionariamente, ele retrata uma sociedade que está se criminalizando em ampla escala e em que virtualmente todos são cooptados”.
Jagunços e grandes chefes administravam um espaço rural na base da criminalização (pilhagem, assassinatos). E toda essa figuração da violência está colocada no “Grande Sertão: Veredas”, com suas duas metades contadas pelo narrador que fala sem parar. Uma parte positiva é o horizonte civilizador do sertão: o julgamento de Zé Bebelo. A outra é o crepúsculo da razão, a partir de morte de Joca Ramiro, tendo possivelmente suas origens no “espírito bandeirante” que foi a maneira encontrada pelos portugueses para entrar no vasto interior do país. Assim produziu-se o “coração das trevas” brasileiro.







