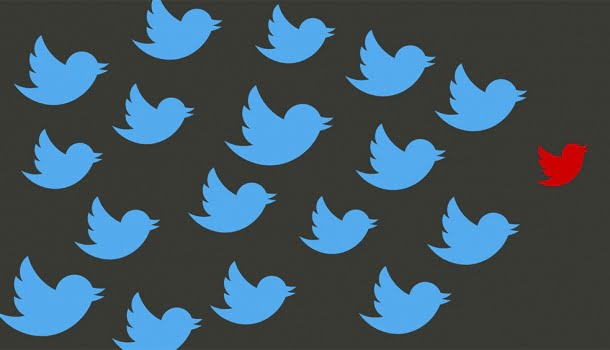O respeito é bom, conserva os dentes e eu gosto! Se o leitor nunca ouviu este bordão de bazófia e advertência, talvez porque seja de uma geração mais nova em que o respeito foi substituído por outra coisa chamada comportamento “politicamente correto”. O respeito era uma coisa vetusta, arcaica (como também o são essas palavras e este modo de dizer) da sociedade patriarcal, em que crianças “naturalmente” respeitavam os pais, tios e avós, em que os moços respeitavam os velhos, em que a professora não era tia e o aluno respeitava, tanto porque era mais velha como porque havia uma diferença hierárquica a manter um distanciamento reverencial. O respeito não vinha por determinação legal. Era algo ecológico, nascido dos costumes, vindo de dentro da sociedade, de baixo para cima, feito umidade. Mas o respeito não era “politicamente correto”. Você podia contar piadas.
Os meninos mais velhos podiam dar cascudos nos mais novos. Os que levavam cascudos hoje eram os que davam cascudos amanhã, sem traumas, como num rito de passagem, no suceder das gerações. Sem constituir bullying. Como os macaquinhos (cuidado com esta palavra) mais fortes que judiam (essa pode ser é ofensiva aos judeus) dos mais fracos, num rito de aquisição de habilidades essenciais e fortalecimento muscular. Dentro de uma sociedade complexa e metida a besta, como ficou a nossa, a cultura do respeito ficou traumogênica e já não dava conta do recado. Não era mais eficiente para azeitar as relações sociais. Quem garante são os psicopedagogos, psiquiatras, psicólogos e psiblablablás em geral.
Essa ideia nos chegou não pela marcha lenta dos costumes, mas pelo torque bruto da lei, pela imposição da democracia representativa. Nem é preciso divagar sobre seus exageros. Basta sabermos que hoje contar uma piada pode ser mais arriscado do que cometer um assassinato. O assassino pode aguardar o julgamento em liberdade. Já o piadista politicamente incorreto aguarda o julgamento na gaiola, sem direitos a fiança (caso a autoridade entenda que crime não seja de injúria, mas de preconceito). Essa mesma linha de pensamento gerou a noção de que não se deve ensinar ao aluno a língua culta, sob pena de se estar cometendo preconceito linguístico. O sujeito vai para a escola, mas não pode sofrer nenhum tipo de “repressão pedagógica”. Vai para a escola só para comer a merenda.
Essa mesma linha de pensamento defende que o craqueiro só pode ser internado para tratamento se ele quiser, quando a ciência já provou que a primeira coisa que a droga provoca no usuário é a suspensão de sua capacidade volitiva. Gerou também o garantismo legal em que uma das ideias básicas é a noção do crime conglobante. Ou seja, o delinquente não comete um crime sozinho. Quem comete o crime é a sociedade através do delinquente. Logo o delinquente não pode ser penalizado por um crime que não é seu, mas da sociedade. É a barbárie em termos pós-históricos.
Mas qual é a matriz ideológica desse tal de comportamento “politicamente correto”? De onde veio essa coisa tremenda? Temos que adentrar o veio da ideia em algum ponto. Fazer o nosso in medias res. Essa noção chegou até nós pelos americanos. Pelo mesmo grupo que desaguou no movimento Tea Party (movimento social e político populista, conservador, de ultradireita) que adota a tortura aos prisioneiros de guerra como meio legítimo para a consecução de provas. Por incrível que pareça, não há nada mais parecido com a ultraesquerda do que a ultradireita. O espectro ideológico é esférico e, no deslocamento máximo das posições, a direita e a esquerda se tocam e trocam figurinhas por osmose. Quando não se tornam exatamente iguais, tornam-se no mínimo muito parecidas.
Foi nessa troca por osmose que a ultradireita americana bebeu na ultraesquerda soviética os conceitos do “politicamente correto” e traçou os alicerces de uma política moral de exportação, com pretensões imperialistas. Numa mistura de quiliasmo (noção apocalíptica de que depois do Anticristo os inocentados do juízo final usufruirão mil anos de prazeres sobre a Terra) e realismo alucinado, o nipo-americano Francis Fukuyama (1952) escreveu “O Fim da História e o Último Homem” inspirado principalmente em “Guerra, Progresso e o Fim da História” do russo Vladimir Soloviev (1853-1900), que juntamente com seus discípulos, foi um dos inspiradores da utopia Bolchevique.
Os mil anos de sossego gozoso (sem conflitos sociais, ou seja, o fim da História) de Fukuyama seriam possibilitados pelo Capitalismo Global, comendo o meio ambiente pelas beiradas. Esse entendimento permeia a sociedade americana: o livre mercado como ideia única em parceria com uma confissão de fé escatológica. Como efeito colateral dessa alucinação teofilosófica cambiante esquerda/direita é que nasceu o “politicamente correto” com seus vieses de esquisitices.
Cabe ressaltar que o velho respeito da sociedade patriarcal é certamente um produto vencido, sem qualquer aplicação nos dias de hoje. Mas o seu sucedâneo, o tal do “politicamente correto” não seria ainda pior? E nós, pobres colonizados, povo de cultura débil e sem raiz, entusiasmado pela condição de tubo digestivo do capital que a globalização nos impõe, vamos seguindo religiosamente os mandamentos dogmáticos dessa nova religião, sem ao menos questionar se é isso mesmo o que queremos para nós.
Como diria o bêbado Lilico, personagem de um antigo humorístico de televisão: — É bonito isso?!