Durante a ocupação alemã, entre 1940 e 1944, intelectuais, políticos, artistas e escritores da França tiveram comportamento lamentável. Em Vichy, sob o comando do marechal Petain e de Pierre Laval, os governantes entregaram judeus aos nazistas de Adolf Hitler, mesmo sabendo que seriam assassinados nos campos de extermínio (a história está bem documentada no livro “O Holocausto — Uma Nova História”, de Laurence Rees, 574 páginas, tradução de Luis Reyes Gil). Certa feita, os assassinos da SS não haviam exigido, mas os dirigentes do país de Flaubert e Proust decidiram entregar até as crianças judias. Escritores, como Louis-Ferdinand Céline (1894-1961), Robert Brasillach e Lucien Rebatet eram antissemitas e escreveram barbaridades. A maioria escapou da pena de morte e alguns ficaram presos por alguns meses. Pierre Drieu La Rochelle preferiu se suicidar para evitar o julgamento. Brasillach foi executado. Céline escapou. Possivelmente, graças ao seu imenso talento, decidiram deixá-lo vivo. Embora notável como prosador, era execrável como ser humano.
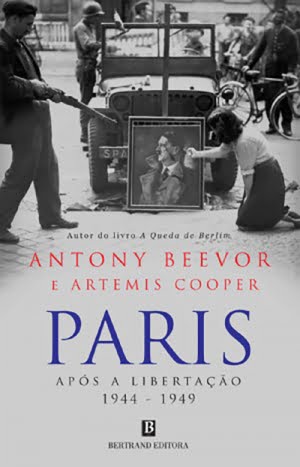
No início da depuração, havia um sentimento poderoso de que os colaboracionistas deveriam ser executados, pegar prisão perpétua ou penas longas. Passado o primeiro momento, a maioria escapou. O escritor e crítico François Mauriac notou que, ao contrário dos empresários (exceto, talvez, Louis Renault, cuja fábrica trabalhou com eficiência para os nazistas da Alemanha), os escritores estavam sendo avaliados com “demasiado rigor”. Albert Camus divergiu de Mauriac, num primeiro momento. Depois, passou a discordar da caça às bruxas — que estava se tornando um ajuste de contas político. O poeta Louis Aragon, mesmo sabendo que André Gide nada tinha a ver com colaboracionismo, decidiu atacá-lo. Motivo: ao contrário do filósofo Jean-Paul Sartre, que quase transformou Stálin num santo ímpio, Gide esteve na União Soviética e criticou o totalitarismo comunista.
O colaboracionismo dos escritores é examinado em vários livros. Três citados neste texto: “Paris Após a Libertação — 1944-1949” (Bertrand, 517 páginas, tradução de José Espadeiro Martins), de Antony Beevor e Artemis Cooper, “Paris: A Festa Continuou — A Vida Cultural Durante a Ocupação Nazista, 1940-4” (Companhia das Letras, 446 páginas, tradução de Celso Nogueira e Rejane Rubino), de Alan Riding, e “La Depuración — 1943-1953” (Tusquets Editores, 547páginas, tradução de Mauro Armiño), de Herbert Lottman (há o clássico “Histoire de la Collaboration”, de Dominique Venner, Éditions Pygmalion, 767 páginas). Limito-me a tratar do caso de alguns escritores, quiçá os mais emblemáticos.
Georges Simenon, o suspeito
O belga Georges Simenon (1903-1989), autor de excelente literatura policial que havia se radicado na França, era colaboracionista? A rigor, não. Mas começo com ele porque seu caso é pouco conhecido e não há registro em todos os livros sobre a questão (Dominique Venner o menciona duas vezes, mas não enfatiza a palavra colaboracionismo). Beevor e Cooper assinalam que o criador do inspetor Maigret “receava ser preso porque dois ou três dos seus livros foram adaptados ao cinema pela companhia cinematográfica alemã Continental. Em janeiro de 1945, foi colocado em prisão domiciliária, mas acabou por ser libertado sem que chegasse a ser-lhe movida qualquer acusação”. Na França ocupada pelos alemães, entre 1940 e 1944, registra Riding, o autor publicou dez romances policiais.
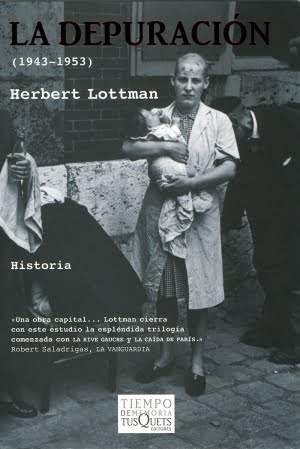
“O processo contra Georges Simenon se arrastou por seis anos. Ele não fazia parte do mundo literário parisiense, preferia morar em Vendée. Contudo, como nove obras suas [Beevor e Cooper mencionam de duas a três] foram adaptadas para o cinema durante a ocupação, quatro delas pela Continental Films, estúdio pertencente à Alemanha, em 1950 ele foi proibido de publicar novos romances por cinco anos. Como a sentença foi retroativa, não apresentou resultados práticos. Mas, apesar disso, ele ficou tão preocupado que partiu para o Canadá e os Estados Unidos depois da guerra e não retornou à Europa até 1955”, relata Riding.
Lottman não menciona o nome de Georges Simenon, mas, na página 426, há uma referência a um “célebre autor de romances policiais”. Possivelmente, se trata do belga. “A polícia descobriu cartas que esse autor havia enviado, durante a ocupação, à companhia cinematográfica Continental. Numa delas, reclamava o direito a dirigir seu veículo, sem restrição alguma.” Ele ressalta que “qualquer gaullista” circulava “livremente”. O prosador informou que “trabalhava para periódicos colaboracionistas, como ‘Paris Soir’, ‘Les Nouveaux Temps’ e ‘Le Petit Parisien’”. Ele foi “condenado” a não publicar livros por dois anos. De acordo com Lottman, o veto a Simenon era mais rigoroso — cinco anos.
Céline, o crápula genial
Céline é um gênio literário e, como homem, crápula — um dos mais virulentos antissemitas da França. Durante a ocupação, defendia o assassinato dos judeus (declarava que os alemães deveriam ter exterminado mais judeus, informa Lottman) e atacava-os com sua típica e enfática violência verbal (curiosamente, antes de visitar a União Soviética, o escritor se dizia um homem de esquerda, segundo Riding). Ele se considerava o “inimigo número um dos judeus”. Os textos antissemitas “Bagatelles pour un massacre” (“Bagatelas Por um Massacre”), “Les Beaux Draps” (“Os Belos Trapos”) e “L’Ecole de Cadavres” (“Escola de Cadáveres”) venderam milhares de cópias. Com a ascensão da Resistência e a fuga dos alemães, o autor do extraordinário romance “Viagem ao Fim da Noite” (um libelo contra a guerra, de 1932) escapou para a Alemanha e, em seguida, para a Dinamarca.
Acusado de colaboração, à revelia, Céline ironizou, sugerindo que, pelo que falaram dele, “pouco faltou para vender os planos da Linha Maginot”. De Copenhague, escreveu: “Nunca pus os pés na embaixada alemã [leia outra versão adiante]. Nunca me encontrei com Otto Abetz [embaixador alemão na França] antes da guerra. Abetz sempre me detestou. Encontrei-me com Abetz durante a guerra duas ou três vezes por semana, por alguns minutos. Sempre considerei as atividades políticas de Abetz grotescas e desastrosas e sempre o considerei uma criatura terrivelmente vaidosa, um palhaço cataclísmico” (versão colhida por Beevor e Cooper).
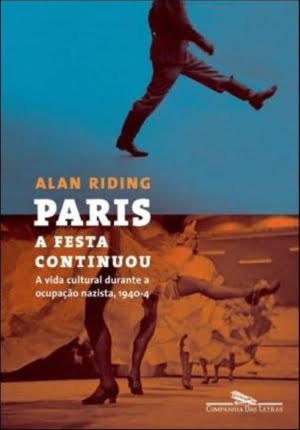
Riding ressalva que “Céline jamais aceitou dinheiro dos nazistas. Também se recusou a vender artigos para jornais, preferindo expor seus pontos de vista em cartas inflamadas. Adorava dar conselhos gratuitos aos alemães”. Depois de conversar com o francês, o escritor alemão Ernst Jünger escreveu em seu diário: “Ele disse que estava muito surpreso, pois nós, como soldados, não atirávamos, não enforcávamos e não exterminávamos os judeus — atônito por saber que alguém, de posse de uma baioneta, não fizesse uso ilimitado dela”. Os alemães consideravam “exemplar” o antissemitismo do autor de “Norte”. “Quando Céline alegou ter sofrido ameaças dos gaullistas, os alemães lhe concederam porte de arma. Quando ele criticava os nazistas, eles se calavam, mesmo aborrecidos. (…) Em um famoso jantar na embaixada alemã, em fevereiro de 1944, Céline teria chocado Abetz, bem como Drieu La Rochelle e outros hóspedes, dizendo que os alemães estavam condenados à derrota, e que Hitler fora substituído por um judeu. Abetz ordenou às pressas que os empregados deixassem o salão, enquanto os hóspedes acusam Céline de ser contra os alemães. Ele negou”, anota Riding.
Em 1950, Céline, julgado à revelia, “foi sentenciado a uma pena que, cinco anos antes, teria sido considerada inacreditavelmente suave — um ano de prisão e uma pesada multa”, escrevem Beevor e Cooper. Lottman acrescenta que o Estado “confiscou a metade de seus bens” e o autor de “Morte a Crédito” foi “julgado não por conivência com o inimigo [os nazistas], e sim pelo delito menos grave de ‘atos de natureza que prejudicavam a defesa nacional’”. Sempre palavroso, o autor qualificou seu julgamento como um “caso Dreyfus ao revés”.
O escritor chegou a ser preso na Dinamarca, onde, libertado, optou por permanecer como exilado. Ao advogado Jacques Isorni escreveu que, se voltasse para Paris, seria “assassinado”, como Robert Denoël, seu editor, e Brasillach. Assim como Mauriac, sustentou que os “colaboracionistas econômicos”, os empresários, estavam sendo tratados com luvas de pelica (o que era um fato, mas Louis Renault foi preso).
Anistiado, em 1951, Céline decidiu voltar para a França, sem deixar de fazer uma ameaça: aquele que fizesse alusão ao seu caso seria processado. Com o passar do tempo, embora não tenha sido “perdoado” — é impossível fazê-lo —, Céline, o escritor, passou a ser mais ressaltado do que o panfletário histérico, perigoso e nazifascista.
O antropólogo belga Claude Lévi-Strauss disse, em 1990: “Proust e Céline: aí está toda minha inesgotável felicidade de leitor”. Um pouco antes, em 1984, o escritor americano Philip Roth afirmou: “Na França, meu Proust é Céline! Mesmo se seu antissemitismo o torna um ser abjeto, intolerável, trata-se de um grande escritor — para lê-lo, porém, devo deixar em suspenso minha consciência judaica. Céline é um grande libertador: sinto-me chamado por sua voz”.
Em 1976, o escritor americano John Updike anotou: “Trinta anos antes de ‘Catch 22’ [de Joseph Heller], ele falou da vida militar como pura loucura, e da covardia como único motor. Muito tempo antes de ‘Um Estranho no Ninho’, ele enxergou nos doentes mentais uma espécie de sociedade superior”. No Brasil, é bem traduzido por Rosa Freire d’Aguiar. O brasileiro Dau Bastos é autor de um livro seminal sobre o autor: “Céline e a Ruína do Velho Mundo” (Eduerj, 265 páginas).
Suicídio de Pierre Drieu La Rochelle
Pierre Drieu La Rochelle (1893-1945) é um escritor de qualidade, mas o fato de ter apoiado o nazismo e seu antissemitismo o colocam num pelotão de retaguarda da literatura francesa. Foi namorado de Victoria Ocampo, a mecenas cultural da Argentina, e escreveu um romance (uma novela, na verdade) sobre a figura de um coronel latino-americano, “O Homem a Cavalo” (Tchê, 157 páginas, tradução de Paulo Hecker Filho). É um precursor de romances de, entre outros, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa e Alejo Carpentier. Talvez seja mais conhecido devido ao filme “Trinta Anos Esta Noite” (“Le Feu Follet”), de Louis Malle, baseado no romance “Fogo Fátuo” (Brasiliense, 148 páginas, tradução de Geraldo Galvão Ferraz).
Enrique López Viejo, na biografia “Pierre Drieu La Rochelle — El Aciago Sedutor” (Melusina, 334 páginas), nota que, quando jovem — morreu aos 52 anos —, aparentemente era antissemita. Teve namoradas judias — casou-se com uma delas, Colette Jeramec (a primeira mulher do escritor, Olesia Sienkiewicz, foi amante de Lacan), e conseguiu impedir que fosse deportada para um campo de concentração. Entre seus amigos havia muitos judeus. Qualquer judeu que pedisse sua ajuda a teria, garante López Viejo.
Entretanto, com a ocupação da França pelos nazistas, Drieu La Rochelle se apresentou como um antissemita radical. Quando o embaixador alemão Abetz disse que não aceitaria Jean Paulhan como editor da “Nouvelle Revue Française” e impôs o nome de Drieu La Rochelle como substituto, o editor Gaston Gallimard “concordou — sem muita hesitação”. Lottman amplia: Sartre disse “que André Malraux, André Gide e Martin du Gard haviam aconselhado Gaston Gallimard a aceitar Drieu La Rochelle como diretor da NRF”.
Paulhan chegou a ser preso e só foi libertado por interferência de Drieu La Rochelle. “Meu caro Drieu, estou certo de que foi graças a você, e apenas a você, que essa noite pude retornar tranquilamente à Rue des Arènes. Sou-lhe muito grato por isso”, escreveu Paulhan. André Malraux, aliado de Charles de Gaulle, e Paulhan nunca romperam relações com Drieu La Rochelle, a quem respeitavam como escritor e amigo. Certa vez, segundo o nazista Gerhard Heller, o escritor teria dito: “Garanta que nenhum mal aconteça a Malraux, Paulhan, Gaston Gallimard e [Louis] Aragon [poeta comunista], quaisquer que sejam as acusações apresentadas contra eles”. Em 1945, o ferrenho stalinista Aragon defendeu Drieu La Rochelle.
Como se comportaram outros escritores franceses? “Salvo raras exceções, os escritores franceses estavam ansiosos para continuar a publicar, ainda que isso significasse ter que se submeter à censura”, sublinha Riding. “A maioria dos escritores foi em frente, continuando a publicar seus livros e suas peças teatrais. Os moderados, além de alguns escritores mais tarde identificados com a resistência, escreviam para os jornais e para as revistas de Paris e também da zona não ocupada.”
Em 1941, quando a Alemanha invadiu a União Soviética, criando uma batalha em duas grandes frentes, Drieu La Rochelle mostrou-se profético: “Portanto, Hitler não possui somente o gênio, mas também a estupidez de Napoleão”. Diga-se: o francês figurava entre os grandes admiradores do ditador nazista.
Mesmo com o nazismo em queda, em julho de 1944, Drieu assinou “a intransigente declaração das direitas, em que se pedia um novo governo e pesadas penalizações, inclusive a pena de morte, para todos os que encorajassem a guerra civil ou comprometessem ‘a posição europeia na França’”, apontam Beevor e Cooper.
Com os amigos alemães fora da França, e percebendo que, depois de Robert Brasillach, seria a próxima caça, Drieu La Rochelle optou pelo suicídio. O relato de Enrique López Viejo: “Em 15 de março [de 1945] coloca a boca num tubo de gás. Previamente havia tomado três cápsulas de Gardenal, uma quantidade mortífera de fenobarbital. Morre rapidamente”. Deixa uma nota sugerindo que não tentem salvá-lo: “Deixe-me dormir desta vez”. O escritor já havia tentado se matar antes.
Aldous Huxley escreveu sobre o amigo Drieu La Rochelle, depois de sua morte: “A moral de toda esta lastimosa história é que a maior parte dos intelectuais deste tempo reconhecem apenas duas alternativas na sua situação, e optam por uma ou por outra, com resultados sempre desagradáveis, mesmo se acontece ficarem do lado vitorioso”.
Jean Giono e ajuste de contas
Autor de “O Homem Que Plantava Árvores” (Editora 34, tradução de Cecília Ciscato e Samuel Titan Jr., 64 páginas), Jean Giono nasceu em 1895 e morreu, aos 75 anos, em 1970. O “ermitão campesino” supostamente apoiou o nazismo e, por isso, deveria ser condenado. Seu nome figurou na lista dos colaboracionistas. Sua “maior falta”, explica Lottman, foi ter escrito na “La Nouvelle Revue Francaise” sob o comando de Drieu La Rochelle, o nazista entusiasmado. “Interrogado pela polícia em sua casa, em Manosque [na Provença], apresentaram ao escritor um texto assinado com seu nome numa revista alemã.” O escritor disse que quem o publicou o havia retirado, “sem sua autorização”, de uma de suas obras.
“O Comitê de Depuração de Escritores”, menciona Lottman, “reconheceu que seus artigos na ‘NRL’ não tinham caráter político algum”.
Acusado de recrutar trabalhadores para a Alemanha, Jean Giono respondeu que, pelo contrário, “havia alojado, em seu sítio, rebeldes que teriam formado o primeiro grupo armado de resistentes de Basses-Alpes. Também havia dado asilo, durante três anos, a um membro do Partido Comunista Alemão, Charles Fiedler, procurado pela Gestapo, e havia escondido um número tão grande de judeus que uma folha colaboracionista, intitulada “Le Fransiste’, lhe havia batizado de ‘o cônsul judeu de Manosque’”.
O escritor acabou por se livrar da pecha de colaboracionista. Mas ficou cinco meses na cadeia e foi proibido de “publicar por dois anos”. Segundo Riding, “amigos de Giono disseram que seu erro, na verdade, foi ter rompido com Aragon e com o Partido Comunista antes da Guerra”. É bem provável que estejam certos.
Riding põe lenha na fogueira ao escrever que, “em 1937, Jean Giono chegou a declarar que, em caso de uma nova guerra entre a França e a Alemanha, preferia ser um alemão vivo a ser um francês morto”. O jornalista o arrola entre os “pacifistas clamorosos”.
Charles Maurras e Robert Brasillach
Charles Maurras, de 76 anos, mesmo antialemão, era pró regime de Vichy, que apoiava o governo de Hitler. Beevor e Cooper dizem que “o demagogo ultrarreacionário da Action Francaise, ocultou-se sob uma falsa identidade em Lyon”.
Maurras foi acusado de “desmoralizar a França”. Riding postula que “seu crime real foi criar o movimento fascista que tanto mal causou ao país. A promotoria pediu a condenação à morte, mas por conta da idade e do caso Brasillach, Maurras acabou recebendo a pena de prisão perpétua”. O idoso intelectual gritou, do banco dos réus: “É a vingança de Dreyfus!” No início do século, havia acusado, como tantos outros, o capitão judeu de “traição”, o que era falso.
Assim como Céline, o romancista, poeta, jornalista e polemista Robert Brasillach (1909-1945) era “fascista exaltado” e editor de “Je Suis Partout”, uma publicação virulenta. O homem corajoso sob o domínio alemão se tornou uma lebre assustada sob o domínio dos Aliados. Depois de se esconder por quase um mês, num sótão, decidiu se entregar à polícia. Na prisão, escreveu: “Paris é uma bela cidade, quando nos preparamos para a deixar”.
Beevor e Cooper dizem que Brasillach foi julgado, não por sua literatura, “mas devido ao seu jornalismo de denúncias”. Riding acrescenta: “As posições antissemitas de Brasillach não foram usadas contra ele; seu crime foi apoiar os alemães e denunciar judeus e resistentes”. Seu advogado, Jacques Isorni, argumentou que “um erro de julgamento político não constituía traição. Se Brasillach tinha apoiado os alemães, era a sua maneira de desejar uma França mais forte”. Na verdade, a França havia se tornado uma nação escrava da Alemanha, com o apoio de políticos, empresários, jornalistas e escritores, como Brasillach.
O processo contra Brasillach levou em consideração seus artigos publicados no “Je Suis Portout”. O que Isorni chamava de “erros trágicos” eram, na realidade, opiniões consolidadas de um homem de sólida cultura. Eram resultados de suas convicções, portanto não eram “erreurs tragiques”. “Tinha apoiado a invasão alemã da zona não ocupada, em novembro de 1942, considerando que ela ia reunir a França. Tinha pedido a morte de políticos como Georges Mandel, ministro do Interior de Reynaud em 1940, que foi assassinado pelos miliciens pouco antes da libertação de Paris. Embora não tenha denunciado ninguém diretamente, tinha denunciado muita gente na imprensa. Tal como Drieu La Rochelle, Brasillach tinha assinado, no Verão de 1944, o pedido de execução sumária de todos os membros da Resistência”, historiam Beevor e Cooper.
“Mas talvez a sua declaração mais notável tenha sido: ‘Temos de nos livrar dos judeus como um todo e não ficar com as crianças’. Brasillach afirmava que, embora fosse antissemita, nunca tinha defendido a violência coletiva contra os judeus. Provavelmente, quando escreveu estas palavras, não tinha conhecimento dos campos de extermínio; mesmo que estivesse a pensar em reinstalações na Europa do Leste, não deixavam ser horríveis”, escrevem Beevor e Cooper. Riding enfatiza: “À medida que a ocupação avançava, o jornal [“Je Suis Portout”] abraçou todas as causas nazistas e, numa atitude infame, usou suas páginas para denunciar individualmente os comunistas e para identificar os judeus de renome escondidos na zona não ocupada”. Apontado como “judeu e maçom” pela publicação de Brasillach, Harry Baur, gigante do teatro e do cinema francês, caiu em desgraça e morreu em 1943, talvez assassinado. Cai por terra a informação de que o escritor “não” denunciou “ninguém diretamente”.
Apesar da prosápia de Brasillach, o júri demorou apenas 20 minutos para condená-lo à morte. Ao conhecer a sentença, o escritor disse: “C’est um honneur” (“é uma honra”). “Simone de Beauvoir assistiu ao processo de Brasillach e ficou impressionada por sua dignidade ante os acusadores”, conta Riding.
Para tentar salvá-lo, Mauriac articulou um abaixo-assinado pelo qual se pedia perdão para Brasillach. Muitos, como Mauriac, Paul Claudel, Paul Valéry, Colette e Jean Cocteau (que também tinha medo da fúria dos “resistentes”), assinaram e muitos o rejeitaram. Como vários outros, Camus relutou em assiná-lo (mas assinou) por receio de que parecesse que apoiava o que o escritor havia feito e dito. “Camus insistia”, frisa Riding, “que um expurgo genuíno se fazia necessário para que a França renascesse” (mais tarde, o autor de “O Estrangeiro” recuou: “Não resta a menor dúvida a respeito do expurgo do pós-guerra, que não só fracassou na França, como está completamente desacreditado”. Riding diz que, em 1948, “ele admitiu que Mauriac tinha razão desde o começo”). Numa carta, Mauriac disse: “Seria uma perda para as letras francesas se essa mente brilhante se extinguisse para sempre”.
De Gaulle recebeu o decentíssimo Mauriac, em 3 de fevereiro de 1945, mas se recusou a conceder perdão a Brasillach, que foi executado três dias depois. Ele tinha 35 anos. “Nenhum outro escritor foi executado depois de Brasillach”, sublinha Riding.
Criou-se o mito de que a maioria dos franceses foi “resistente”. Não é bem assim. A Resistência foi um movimento da minoria e que, ao contrário do que se propagou mais tarde, não teria expulsado os alemães de França sem o apoio decisivo dos Aliados — notadamente dos britânicos e americanos. Na verdade, os franceses estavam mais, no geral, para “integrados” do que para “apocalípticos”. O livro de Riding mostra isto: Paris continuou sendo uma festa — ainda que sob o comando dos nazistas de Hitler.
Alguns escritores e editores apontados como colaboracionistas pela Comissão de Depuração
Alphonse de Châteaubriant
André Thérive
Armand Petit-jean
Charles Maurras
Colette (porque escreveu um artigo destinado a um diário colaboracionista, registra Herbert Lottman. Na verdade, não era colaboracionista)
Gaston Gallimard (negociou a sobrevivência de sua editora, mas, a rigor, não era colaboracionista)
George Simenon (o texto acima explica sua posição)
Henri Béraud (foi condenado à morte, mas, a pedido de François Mauriac, De Gaulle comutou a pena. O editor era antissemita, direitista, mas não havia defendido os alemães)
Henry de Montherlant
Jacques Benoist-Méchin
Jacques Chardonne
Jean Cocteau (Não chega a ser colaboracionista, mas chegou a ser apontado como tal)
Jean Giono (o texto acima expõe o debate sobre o autor)
Louis-Ferdinand Céline
Lucien Rebatet
Marcel Jouhandeau
Paul Morand
Pierre Drieu La Rochelle
Robert Brasillach
Robert Denoël
Sacha Guitry





