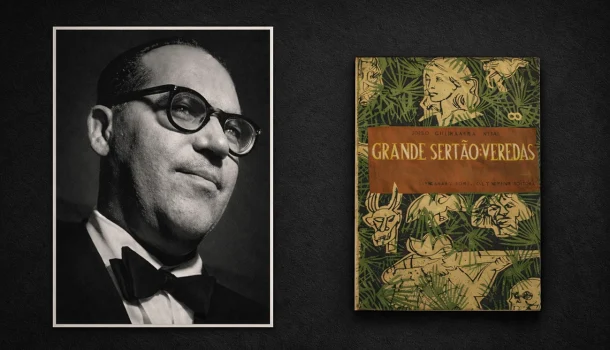Na noite de 18 de maio de 1922, em Paris, dois homens que haviam redefinido a forma como pensamos o tempo e a memória estiveram frente a frente. Ou quase. A mesa era comprida, os corpos eram frágeis, os rostos mal se viam através da fumaça. James Joyce tinha 40 anos, usava um paletó surrado, fumava demais, mal enxergava. Marcel Proust estava à beira da morte, enrolado em um casaco de peles, alérgico à luz, à vida, às festas. O jantar aconteceu no Hôtel Majestic, após a estreia do balé “Le Renard”, e reuniu nomes como Stravinsky, Serguei Diaguilev, Pablo Picasso e Erik Satie. Um banquete da modernidade, acidentalmente histórico. E foi só isso. Dois nomes incontornáveis, uma noite qualquer, e uma ausência no centro da conversa.
O encontro é documentado, ainda que mal documentado. Richard Ellmann, o mais autorizado biógrafo de Joyce, reconstruiu os detalhes com base em relatos cruzados, mas não há transcrição, nem testemunhos diretos completos. Em sua biografia, “James Joyce” (1959), traduzida para o português por Lya Luft e publicada pela Editora Globo em 1989, Ellmann narra o episódio com cautela, apoiando-se sobretudo nas memórias de Antoine Bibesco e Valery Larbaud, amigos próximos dos dois escritores, e admite que boa parte do que se sabe vem de ecos, não de fontes primárias. Não há cartas, não há registros contemporâneos sólidos. O que sobrevive é o que foi contado depois, por outros, e já filtrado por espanto, desconforto ou reverência tardia. Mesmo assim, o encontro permanece: um momento quase mítico cuja ausência de substância é, por si, uma forma de presença.
O resto é reconstrução hesitante. A certa altura, um dos dois, talvez Joyce, perguntou ao outro se estava se tratando de alguma enfermidade. O outro respondeu, com desdém. Falaram sobre médicos. Sobre digestão. Sobre dor. Proust mencionou suas restrições alimentares. Joyce, num gesto de contrapeso, comentou sua fotofobia. E ficou nisso.

A ausência de entusiasmo não é surpresa. O próprio Proust, segundo relatos de Antoine Bibesco, tinha horror à informalidade. Chegou tarde, como sempre, e não fez esforço para parecer curioso. Joyce, do outro lado da mesa, já estava com o copo na mão, meio cego, meio entediado. Dois homens em desalinho, não por desleixo, mas por um tipo de defesa. O constrangimento era estrutural. Não havia código possível entre eles.
Há quem diga que Joyce cochichou depois: “Je n’aime pas cet homme.” Ou talvez tenha dito em inglês mesmo: “I don’t like that man.” Nada é certo. A única certeza é o anticlímax.
Antoine Bibesco, segundo reconstruções posteriores, teria sugerido que o momento foi menos um encontro do que uma aproximação fracassada. Um gesto social vazio, onde nada se encostava de verdade. Dois homens exaustos, sem curiosidade. Nenhuma reverência entre eles. Talvez desinteresse. Talvez algo mais incômodo: reconhecimento. O reconhecimento de que ambos já haviam passado do tempo de se admirar mutuamente.
É possível que tivessem lido um ao outro. Mas não importa. Não ali. Joyce dizia que Proust era “demasiado francês”. Proust, segundo consta, nunca chegou ao fim de “Ulysses”. E, no fundo, por que chegaria? A linguagem de um era ritmo sinfônico, do outro, escavação de sintaxe. Os dois escreviam sobre o tempo, sim, mas como quem descreve lados opostos de um abismo.
Proust estava morrendo, literalmente. Quatro volumes de “Em Busca do Tempo Perdido” haviam sido publicados entre 1913 e 1921, e o quinto, “Sodoma e Gomorra”, estava em processo de publicação seriada. Os três volumes finais seriam editados após sua morte, que ocorreria em novembro daquele mesmo ano. Joyce, por sua vez, acabara de lançar “Ulysses” em fevereiro de 1922, pela pequena e corajosa Shakespeare and Company, dirigida por Sylvia Beach. Dois homens que haviam reescrito os limites da prosa moderna estavam ali, ignorando-se como quem se recusa a olhar no espelho.
É fácil tentar interpretar o silêncio. Fazer dele uma alegoria da distância entre estilos, temperamentos, escolas. Joyce, com sua torrente de linguagem e caos controlado. Proust, com sua espiral de minúcia sensorial, de memória que sangra em ondas. Mas talvez fosse só cansaço. Talvez fosse insônia, indigestão, ou uma leve repulsa à impostura dos jantares formais.
E havia o peso da encenação. O que se espera que dois gênios façam quando dividem uma sala? Citem Dante? Combinem um manifesto? No fim, talvez estivessem apenas defendendo o direito de não corresponder à caricatura que o tempo já desenhava deles.
O próprio Joyce parecia não ter muito apreço por encontros. Desprezava cerimônias, evitava socializações literárias, não lia muito o que os outros escreviam. Proust, por outro lado, habitava salões, mas à sua maneira: fantasmático, tardio, envolto em perfumes, alergias e respostas evasivas. A verdade é que nunca houve desejo real de conversa entre os dois. O que houve foi uma coincidência. A expectativa veio depois, imposta pela história da literatura, que gosta de duelos imaginários.
Ellmann conta que o jantar inteiro durou pouco mais de duas horas. Joyce chegou antes, saiu depois. Proust apareceu tarde, ficou pouco. Não pediu vinho. Discutiu com o chofer na saída. Joyce, ao contrário, teria exagerado no álcool, como de costume. Estava maltrapilho, dizem alguns, mas não porque fosse negligente. Era quase um manifesto. Vestia a decadência como quem veste autoridade.
E os outros? Picasso, Satie, Stravinsky. Todos presentes, todos absorvidos por outra esfera da noite. Como se soubessem que algo naquela mesa não funcionaria. Não se trata de frustração. Trata-se de ruído. Havia ruído demais ali. E nada que se dissesse seria ouvido com o tom necessário.
A Paris de 1922 era um mapa de vanguardas em colisão. O que nascia ali não era coesão: era tensão. Cada autor escrevia contra os outros, mesmo sem saber. Mesmo sem ler. Proust reconstruía a memória como arquitetura infinita; Joyce diluía a memória como fluxo inconsciente. Suas obras não conversavam. Seus corpos, naquela noite, também não. Um jantava com fantasmas. O outro, com espectros de linguagem.

O que se esperava? Uma troca de ideias? Uma comparação de estruturas narrativas? Joyce perguntando a Proust se ele escrevia de trás pra frente? Proust sugerindo a Joyce que usasse menos palavras anglo-saxãs? Não. Não havia nada a ser dito ali. Não daquela forma. Não naquela noite.
O episódio virou anedota por não ter rendido nada. E talvez por isso mesmo diga tanto. Diz sobre a impossibilidade da comunhão entre figuras que já disseram tudo com suas obras. Diz sobre o gesto cansado do corpo diante da solenidade da própria lenda. Diz sobre como os grandes encontros raramente acontecem no tempo certo.
Na manhã seguinte, nenhum jornal noticiou. Nenhuma fotografia foi feita. Apenas os nomes sobreviveram. Um comentário atribuído a Larbaud, nunca registrado formalmente, apenas mencionado em relatos indiretos. Um registro parcial de Bibesco. Décadas depois, biógrafos cavariam esse momento como arqueólogos procurando ruína em terreno árido.
O jantar do Majestic não gerou aliança, nem amizade, nem confronto. Foi só um jantar. Ou menos que isso. Foi uma sala cheia demais, onde dois homens se evitaram com cuidado. Foi uma noite em que a modernidade literária se sentou à mesa, mas não brindou.
E talvez, só talvez, esse seja o único final possível para dois escritores que viveram o tempo como problema e a linguagem como abismo. Que cada um tenha preferido o próprio silêncio ao esforço de tradução mútua pode ser mais sincero que qualquer conversa. Ou talvez eles apenas estivessem com dor de cabeça.