É emblemático como certos livros nos tocam antes mesmo de terminá-los, mesmo que, ao final, não saibamos exatamente por que fomos tocados. “Toda Luz que Não Podemos Ver”, do norte-americano Anthony Doerr, é um desses casos. Não exatamente pela história, que poderia soar familiar: uma menina cega em Paris ocupada pelos nazistas, um menino alemão brilhante alistado à força pela Juventude Hitlerista, mas por algo mais sutil — uma forma de olhar para o horror sem deixar que ele obscureça completamente a ternura.
A guerra, como sabemos, costuma esmagar tudo o que é pequeno. Mas Doerr parece decidido a fazer o contrário. Ele aproxima a lente para revelar justamente o que costuma escapar: um gesto entre irmãos, o tilintar de uma concha guardada no bolso, a textura de uma maquete feita às cegas. Escreve como quem tenta salvar alguma coisa do fogo iminente.
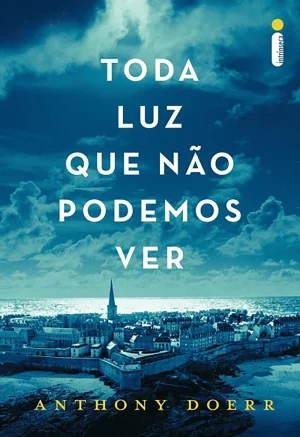
A estrutura fragmentada do romance, em capítulos curtos que saltam no tempo, confunde no início, mas logo revela seu propósito. Não há linearidade possível diante de um mundo em constante colapso. O tempo, ali, assim como para o leitor, é um nervo exposto que salta, retrai, retorna, como se buscasse recuperar algo que se perdeu de forma irremediável. E, paradoxalmente, é essa desordem que aproxima os personagens dos leitores. Marie-Laure, com sua cegueira sem vitimismo, e Werner, com sua inteligência encurralada pelo destino que parece já ter vindo traçado, são retratados sem o heroísmo forçado dos romances contemporâneos — e, talvez por isso, com uma dignidade tocante.
Há uma espécie de paciência no modo como Anthony Doerr constrói cada cena. Um cuidado quase teimoso com os detalhes — sons, cheiros, texturas — que substituem a visão, mas que também funcionam como contraponto à brutalidade do mundo exterior. É como se o autor insistisse que, mesmo cercados pela morte, os sentidos ainda merecem atenção, e que o horror não tem o direito de calar a beleza.
Em alguns momentos, esse lirismo embutido aponta para uma “beleza fabricada” no estilo de Doerr. Mas é difícil negar a eficácia com que ele cria a atmosfera do romance — certas passagens parecem querer saltar das páginas, como se os personagens e lugares criassem vida. A Saint-Malo sitiada, com suas ondas batendo nos escombros e rádios transmitindo mensagens clandestinas, parece feita de memória, vento e poeira. Uma cidade onde o tempo hesita. E onde, mesmo entre ruínas, há vozes que resistem a ser caladas.
Doerr não é o tipo de autor cínico. Ele acredita em conexões, mesmo as mais improváveis e implausíveis. E isso pode soar um tanto altivo e idealista — especialmente quando os destinos de Marie-Laure e Werner finalmente se cruzam. Mas há uma honestidade nesse encontro que desarma o leitor. Não há promessa de redenção, apenas um lampejo de compreensão entre dois seres que, em outras circunstâncias, jamais se encontrariam. Talvez por isso importe tanto, mais do que qualquer redenção.
Não há vilões unidimensionais na narrativa. Mesmo o sargento Von Rumpel, com sua obsessão pela pedra mágica que serve de fio oculto à trama, não é exatamente monstruoso — apenas corroído por uma ambição que o ultrapassa. Doerr parece menos interessado em julgar do que em observar. Não inocenta. Mas tenta compreender.
O misterioso diamante Mar de Chamas é um dos elementos mais discutíveis do livro. Sua presença beira o alegórico em certos trechos, como se a realidade já não fosse suficiente para carregar a carga emocional da história. Ainda assim, o autor evita o erro de fazer dela uma muleta narrativa. A pedra atravessa o enredo como um eco: está ali, sempre presente, mas nunca no centro. Talvez seja só isso mesmo — um eco. Como tantos objetos que herdamos do passado sem saber exatamente o que significam.
Ao fim da leitura, permanece uma impressão difícil de nomear. Não exatamente tristeza. Nem a esperança ingênua. É algo mais próximo da resistência, da persistência. A ideia de que, mesmo em meio ao pior, algumas coisas continuam a ser possíveis: gentileza, escuta, curiosidade. Um rádio escondido que transmite palavras no escuro. Um mapa em relevo que guia uma menina por uma cidade devastada. Um fio invisível entre duas vidas separadas por um continente.
Anthony Doerr escreveu “Toda Luz que Não Podemos Ver” ao longo de dez anos. E talvez seja essa demora que permita ao livro algo raro nos tempos atuais: uma escuta paciente do que se esconde por trás do barulho. Ele não tenta dar respostas. Mas parece interessado em nos lembrar que, mesmo quando tudo grita, há silêncios que merecem ser escutados.







