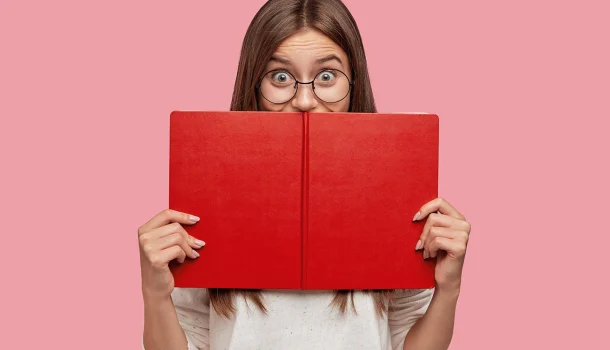Admita-se ou não, a vaidade está presente em quase todos os campos da arte, mas na literatura ela toma proporções especialmente delicadas. Escritores projetam nas páginas de seus livros não só seu domínio do idioma, da condução da narrativa, seu traquejo em elaborar circunvoluções retóricas, mas também boa parte de seu ego, sua visão de mundo e a urgência por reconhecimento. Em muitos casos, a ufania de si mesmo é combustível para a criatividade; em outros, um perigo, um estratagema diabólico do inconsciente para colocar a perder a obra. Não há uma espécie de nível seguro: a egolatria tanto pode conferir valor literário a um texto como dar cabo da mínima chance de o autor alcançar o coração do público. Antes de qualquer outra coisa, é necessário definir o que vem a ser um escritor vaidoso. Em poucas palavras, essa categoria é feita de mulheres e homens que exigem, ainda que num golpe sub-reptício, ser venerados, nem tanto pelo que escrevem, mas pela persona que criam para a imprensa, para os programas de televisão e festas literárias. São figuras folclóricas sempre suscetíveis a uma ofensa inexistente; a bate-bocas tolos, mas vistosos, que as redes sociais logo tratam de potencializar; a viradas de mesa delirantes, que não mudam nada em sua vida, por mais que eles afirmem o contrário.
Outro tema relevante é a estilização demasiada. Muitos escritores, ansiosos por parecerem inovadores ou profundos, acabam sacrificando a clareza e, por vezes, até a essência de um texto. O preciosismo torna-se um fim em si mesmo, e não um meio de expressão. Isso resulta em histórias que impressionam superficialmente, mas que carecem de autenticidade. Nota-se tal fenômeno em livros que se esforçam para demonstrar erudição, dotados de referências excessivas e intertextualidades forçadas, tudo para que não restem dúvidas para quem lê quanto à cultura do literato — e aqui o termo cai como uma luva. Em vez de convidar o leitor a uma experiência compartilhada, o literato isola-se, coloca-se num pedestal e olha de cima para quem ousa desvendá-lo. A vaidade então mina o prazer, uma vez que só a excelência importa. Muitos dos grandes nomes da literatura eram vaidosos — e o sabiam. Oscar Wilde (1854-1900), por exemplo, construiu uma obra marcada por ironia, estilística impecável e crítica à sociedade de seu tempo, mas também por um desejo claro de impressionar e ser aceito. O gabo wildeano era uma faca de dois gumes, cortando a si e aos outros ao passo que esculpia beleza na pedra bruta do tempo.
A questão não é, portanto, se a vaidade interfere na obra de um artista, mas de que modo ela interfere. Todo escritor — como todo ser humano — tem em si uma dose de soberbia. Escrever é um ofício bastante solitário, egocêntrico nas mais diversas maneiras, às vezes cruel por exigir tanto e dar tão pouco em troca, e que, paradoxo dos paradoxos, só resiste se tocar o outro. Os oito escritores desta lista padecem de uma afetação em múltiplas formas, às vezes nem devido ao que intentam comunicar, mas pelas ideias que acabam por aflorar da interpretação do que quiseram dizer. Um dos textos políticos mais influentes da história moderna, “O Manifesto do Partido Comunista” (1848), de Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), é decerto um dos melhores exemplos de como a presunção, aqui por parte de cientistas sociais e economistas, orquestra uma devastação sobre um propósito nobre, a despeito da cor ideológica que se venha a preferir. É consenso que muito do que poderia haver de genuíno e revolucionário no velho “Manifesto” fenece pela análise enviesada e pelo proselitismo barato, embora Marx e Engels nunca tenham ficado obsoletos. Se eles não desvaneceram, porque autênticos e cada vez mais elementares, coisas feito “O Futuro da Humanidade: A Saga de Marco Polo” (2005), do psiquiatra paulista Augusto Cury, sabem a ranço.
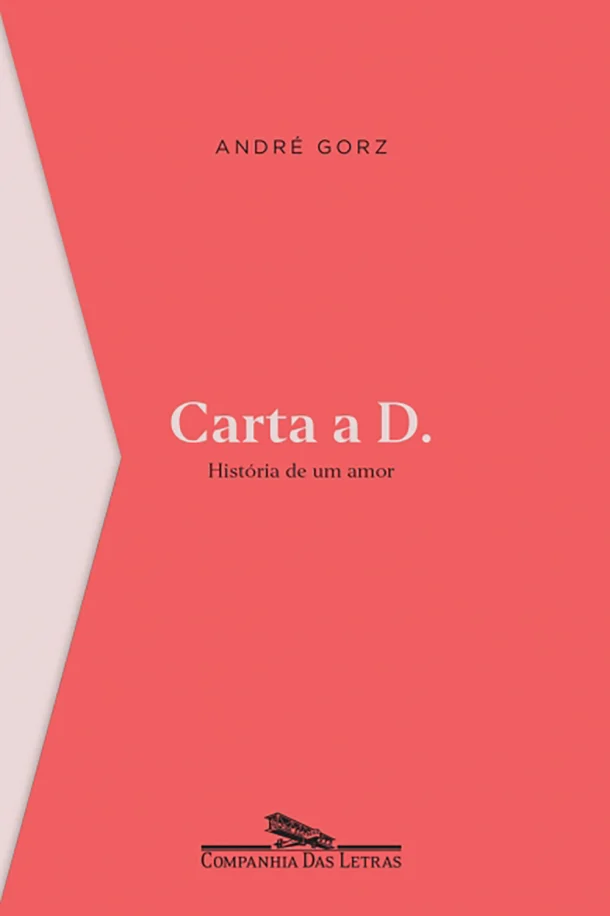
“Carta a D. — História de um Amor”, de André Gorz (1923-2007), é uma comovente e profunda carta de despedida escrita pelo filósofo francês à sua esposa, Dorine, com quem compartilhou mais de cinquenta anos de vida. A obra, breve porém muito intensa, é marcada por uma honestidade tocante, na qual Gorz revisita a história do casal, seus momentos de cumplicidade, dificuldades e transformações ao longo do tempo. O autor revela uma sensibilidade rara ao descrever o amor como algo construído, sustentado pelo cotidiano, pelo respeito mútuo e pela busca constante de compreensão. Gorz também se desnuda emocionalmente ao expor suas inseguranças e o sentimento de não ter sido um parceiro à altura da mulher extraordinária que Dorine foi para ele. Ao mesmo tempo, reflete sobre envelhecer juntos e o medo da separação pela morte. A escrita é delicada, poética e filosófica, entrelaçando memórias pessoais com reflexões sobre o amor, o tempo e a identidade. O livro ganha um peso ainda maior por ter sido escrito pouco antes do suicídio assistido do casal, selando uma história de amor que se estendeu até o fim da vida. Trata-se de uma obra que transcende o relato íntimo e convida o leitor a pensar sobre o significado profundo de amar alguém por toda uma existência.
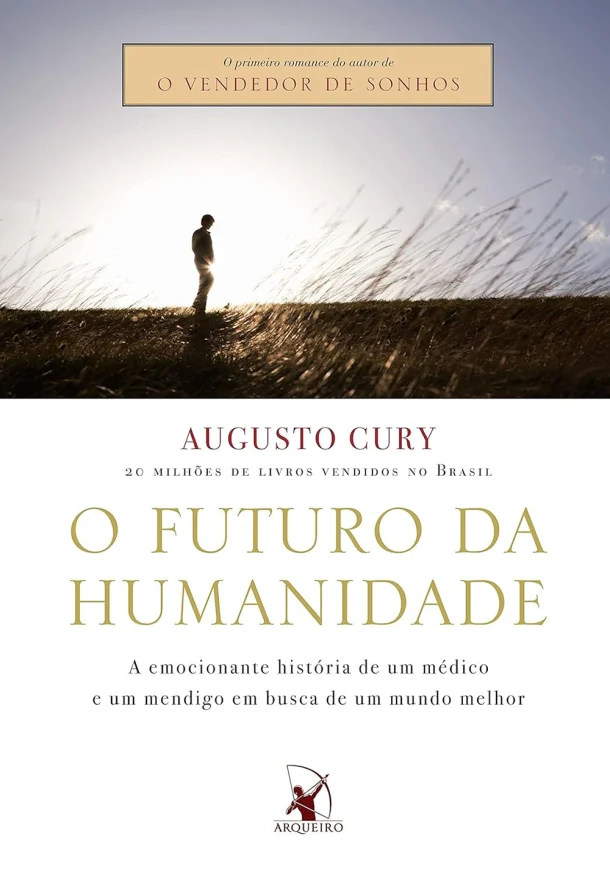
“O Futuro da Humanidade”, de Augusto Cury, é uma obra que mistura ficção e reflexão filosófica para abordar questões profundas sobre a existência humana, os dilemas da juventude e os limites da educação tradicional. O enredo gira em torno de Marco Polo, um jovem estudante de medicina que se revolta contra o ensino técnico e desumano praticado na universidade. Sensível à dor dos marginalizados e incomodado com a frieza do sistema, ele decide buscar um novo sentido para a medicina e para a vida, enfrentando críticas e incompreensões. A narrativa serve como pano de fundo para Cury desenvolver a crítica à formação acadêmica que valoriza o intelecto, mas ignora a inteligência emocional e a saúde psíquica dos indivíduos. O autor propõe uma nova abordagem baseada na valorização do ser humano, da empatia e da capacidade de sonhar. Por meio das experiências de Marco Polo, o livro defende a importância da educação emocional e do pensamento crítico como ferramentas de transformação social. Com uma linguagem acessível, Cury convida o leitor a refletir sobre sua própria existência e sobre o papel da ciência, da filosofia e da espiritualidade na construção de um futuro mais humano. No entanto, por vezes, a narrativa peca pelo excesso de idealismo e pela repetição de ideias. Ainda assim, é uma leitura instigante, que provoca o pensamento e incentiva a busca por um mundo mais sensível e justo.
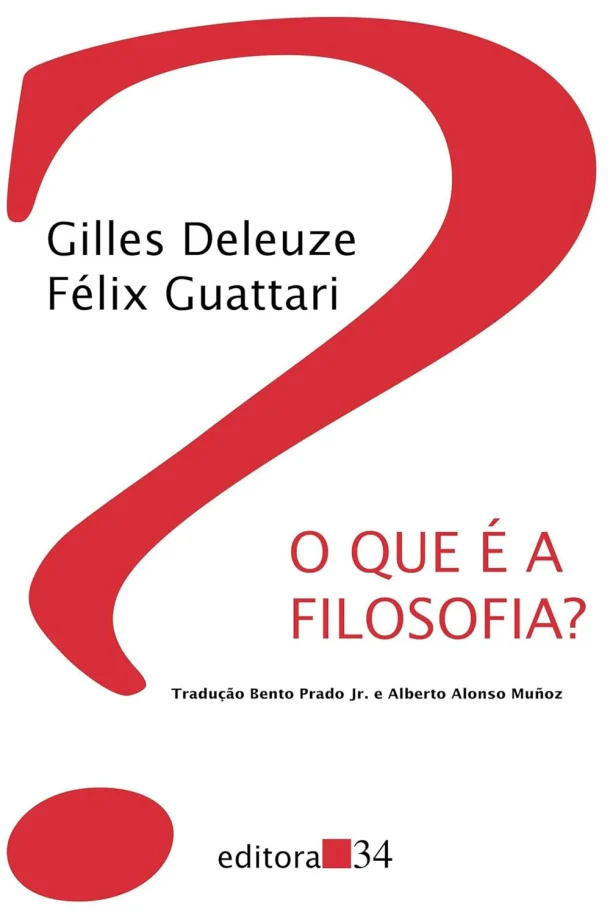
Em “O que é Filosofia?”, Gilles Deleuze (1925-1995) e Félix Guattari (1930-1992) propõem uma reflexão profunda e original sobre a natureza da filosofia, rompendo com concepções tradicionais. Para os autores, filosofar não é contemplar, refletir ou comunicar, mas sim criar conceitos — atividade própria e exclusiva da filosofia. Diferente da ciência, que opera com funções, e da arte, que trabalha com afetos e perceptos, a filosofia constrói conceitos no plano da imanência, articulando-os em personagens conceituais. Essa abordagem inovadora desloca o foco do conhecimento para a criação, valorizando a potência inventiva do pensamento. Os autores também discutem a relação entre filosofia, ciência e arte, ressaltando a importância da heterogeneidade entre essas disciplinas, que compartilham um plano comum sem se confundirem. O texto é denso e exige do leitor uma disposição crítica e atenta, mas oferece recompensas intelectuais significativas. Ao enfatizar o papel criador da filosofia e rejeitar uma visão dogmática do pensamento, Deleuze e Guattari propõem uma filosofia viva, orientada para a diferença e o devir. A obra é uma contribuição essencial para entender a filosofia como prática ativa e transformadora, especialmente no contexto contemporâneo, onde o pensamento é quase sempre subordinado a finalidades utilitárias.
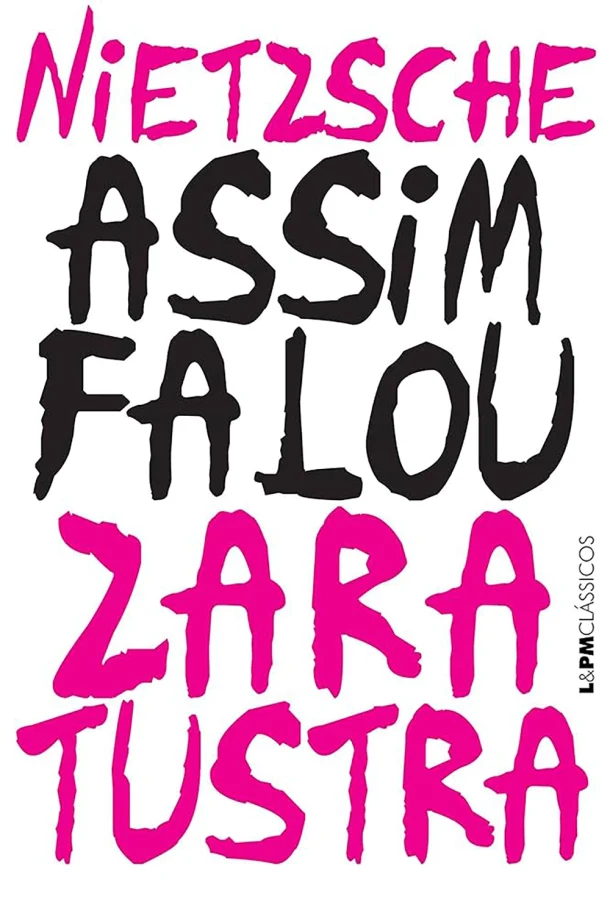
“Assim Falou Zaratustra”, de Friedrich Nietzsche (1844-1900), é uma das obras mais emblemáticas da filosofia ocidental. Publicado entre 1883 e 1885, o livro apresenta-se como um tratado filosófico em forma de narrativa poética, protagonizado por Zaratustra, um profeta que desce da montanha para compartilhar sua sabedoria com a humanidade. Por meio de parábolas e discursos simbólicos, Nietzsche critica valores tradicionais como a moral cristã, o conformismo e o racionalismo. A obra introduz conceitos centrais da filosofia nietzschiana, como o Übermensch (além-do-homem), a vontade de potência e o eterno retorno. O “além-do-homem” representa um ideal de superação do ser humano comum, aquele que cria seus próprios valores e vive com autenticidade. Nietzsche utiliza uma linguagem poética e provocativa para instigar a reflexão e desafiar o leitor. O livro não deve ser interpretado literalmente, pois sua forma simbólica exige uma leitura cuidadosa e profunda. É uma obra que questiona o sentido da existência, o papel da religião e a busca por um novo horizonte de valores. Com isso, Nietzsche propõe uma filosofia da vida baseada na afirmação da existência e na superação de limites. “Assim Falou Zaratustra” é uma leitura desafiadora, mas essencial para compreender o pensamento moderno.
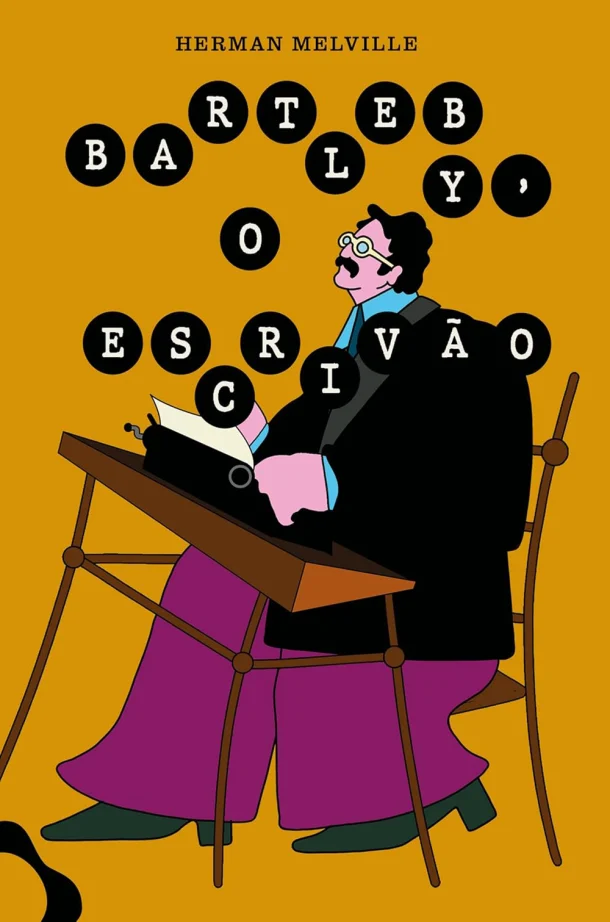
“Bartleby, o Escrivão”, de Herman Melville (1819-1891), é uma novela que explora temas como alienação, conformismo e a desumanização nas relações de trabalho. A história é narrada por um advogado de Wall Street que contrata Bartleby, um escriba inicialmente eficiente, mas que logo passa a recusar tarefas com a repetida frase: “Preferia não fazê-lo”. Essa recusa passiva, porém persistente, desestabiliza o ambiente de trabalho e desafia as expectativas do narrador, que representa a voz da lógica e do sistema. O comportamento de Bartleby é enigmático e simbólico, revelando uma forma de resistência silenciosa diante das pressões sociais e profissionais. Sua apatia crescente, culminando na recusa de se alimentar, pode ser interpretada como um protesto existencial contra a vida mecanizada e sem propósito. A atitude do narrador oscila entre o incômodo e a compaixão, evidenciando o conflito moral entre o dever profissional e a empatia humana. Melville constrói uma crítica contundente à sociedade capitalista do século 19 — ainda atual — mostrando como indivíduos podem ser descartados quando deixam de ser úteis. O final trágico de Bartleby, isolado e ignorado, reforça o peso do silêncio e da indiferença. A narrativa minimalista e simbólica convida à reflexão sobre liberdade, identidade e a fragilidade do ser humano diante das estruturas sociais.
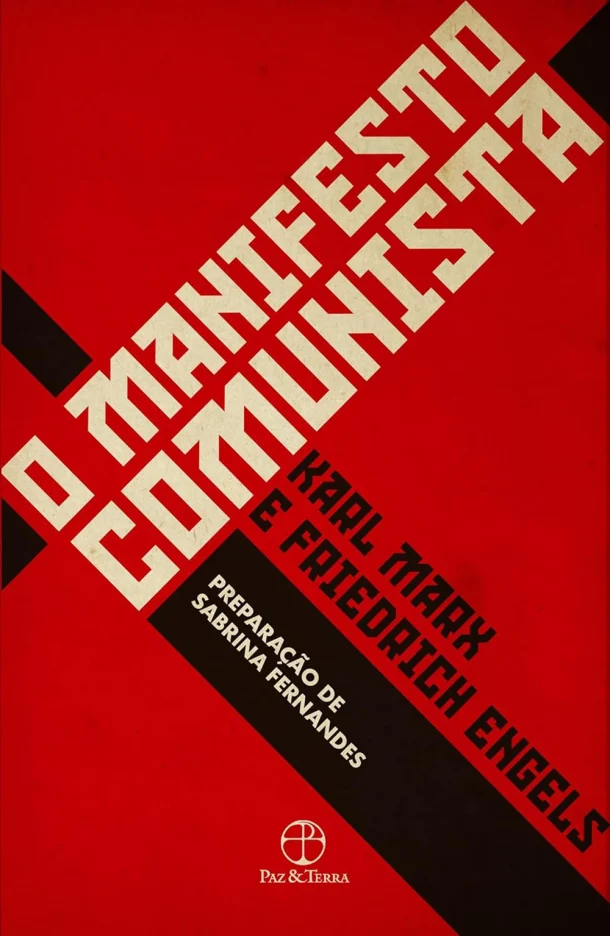
“O Manifesto do Partido Comunista”, escrito por Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) em 1848, é um dos textos políticos mais influentes da história moderna. A obra apresenta uma crítica contundente ao sistema capitalista, denunciando suas desigualdades e a exploração da classe trabalhadora pelo capital. Marx e Engels traçam uma visão histórica baseada na luta de classes, defendendo que todas as sociedades foram moldadas por conflitos entre opressores e oprimidos. No capitalismo, essa divisão se expressa entre a burguesia, detentora dos meios de produção, e o proletariado, que vende sua força de trabalho. O texto defende que o proletariado deve se organizar politicamente e realizar uma revolução para instaurar uma sociedade sem classes. O manifesto tem um tom combativo e profético, chamando os trabalhadores do mundo a se unirem. Sua linguagem é incisiva e objetiva, e sua argumentação mistura análise histórica com propostas políticas. Críticos apontam que o texto simplifica processos sociais complexos e subestima outras formas de dominação além da econômica. No entanto, seu impacto é inegável: inspirou movimentos revolucionários e influenciou profundamente a teoria social e política. A obra permanece relevante por levantar questões fundamentais sobre justiça, desigualdade e poder.
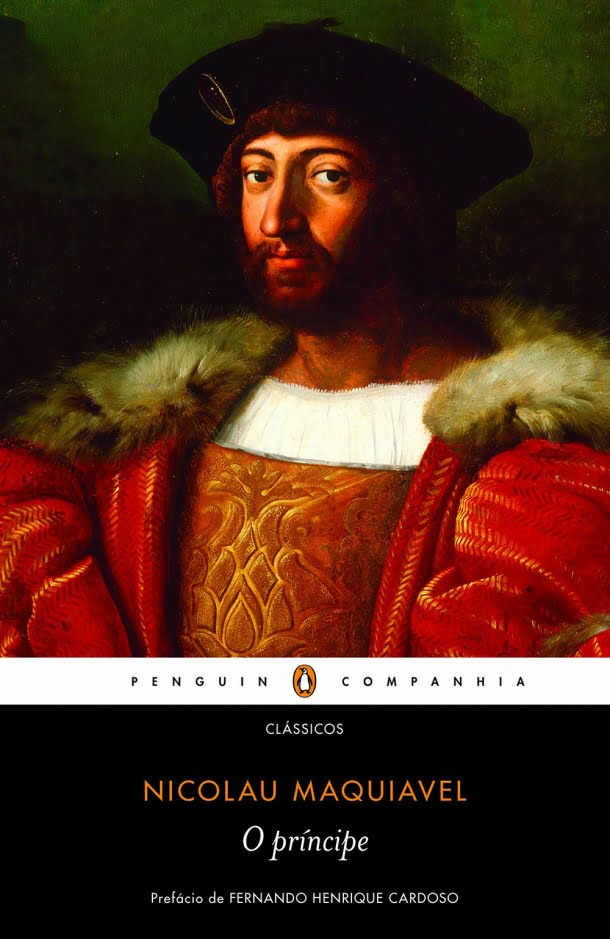
“O Príncipe”, de Nicolau Maquiavel (1469-1527), é uma obra clássica da filosofia política escrita no século 16, cujo objetivo principal é oferecer conselhos práticos sobre como um governante pode conquistar, manter e consolidar o poder. Maquiavel rompe com a tradição moralista dos tratados políticos anteriores ao defender que a eficácia política deve estar acima da ética convencional. Para ele, um bom príncipe deve saber agir com virtude, mas também ser capaz de usar a força e a astúcia quando necessário. A célebre máxima “os fins justificam os meios”, embora não esteja escrita literalmente no livro, resume bem o pensamento maquiavélico. O autor distingue diferentes tipos de principados e maneiras de obtê-los, dando destaque à importância da guerra, da habilidade política e do apoio popular. Maquiavel também analisa o comportamento humano de forma realista, partindo do princípio de que os homens são egoístas e volúveis. Seu retrato do poder é frio e calculista, o que gerou grande polêmica e levou à associação de seu nome com a manipulação e a traição. Apesar das críticas, “O Príncipe” é um marco na separação entre política e moral, influenciando profundamente o pensamento moderno. Seu valor reside menos na defesa de um modelo ideal de governo e mais na análise estratégica da dinâmica do poder. O livro continua atual ao abordar questões de liderança, autoridade e governança com impressionante lucidez e objetividade.