A literatura tem o poder de transportar leitores para universos paralelos, provocar reflexões profundas e despertar sentimentos tão pujantes quanto os da vida real. E, para grande surpresa de muitos, esse impacto não se liga à extensão da obra. Muitas vezes, são os textos breves dos contos, crônicas e novelas que levam às emoções mais intensas e inesperadas. É um fascinante paradoxo: como algo tão breve pode durar tanto? Num mundo que valoriza cada vez mais o instantâneo, as histórias curtas ganham fôlego renovado. Elas se encaixam numa rotina apressada, mas não se limitam ao superficial. Pelo contrário, o compacto da forma exige precisão na linguagem, escolhas calculadas e um vigor que, muitas vezes, dilui-se ao longo das páginas dos romances mais vastos. O que se perde em tamanho ganha-se em potência emocional. Pensemos, por exemplo, em obras como “A Metamorfose” (1915), de Franz Kafka (1883-1924). Trata-se de uma novela que pode ser lida num só golpe, mas que permanece no espírito do leitor por dias, semanas, talvez para sempre. A história de Gregor Samsa, que acorda transformado num inseto monstruoso, não precisa de centenas de páginas para revelar a angústia da exclusão, o colapso da identidade ou a pouca substância das relações em família. A concisão do texto contribui para a atmosfera de claustrofobia e absurdo, enquanto o desconforto vai se acumulando a cada parágrafo.
O poder do não dito, da sugestão, é um atributo poderoso dos textos sintéticos. As emoções despertadas por essas narrativas são arrebatadoras porque fogem ao convencional. Não são apenas o abalo de uma tragédia ou a euforia de um final ditoso, mas emoções híbridas, ambíguas, difíceis de nomear. Um bom conto pode deixar o leitor a um só tempo comovido e perturbado, reflexivo e atento. Isso se dá porque os autores que dominam a arte de ser sucinto, até lacônico, sabem criar entrelinhas, silêncios e metáforas que envolvem o leitor de maneira mais ativa. Romances, porque cheios de meandros, permitem um envolvimento gradual, um processo de imersão. Textos curtos, ao contrário, exigem um mergulho de cabeça. Não há espaço para digressões. Cada palavra tem um peso, desde as primeiras linhas, como é possível constatar nos cinco livros da relação abaixo. Tramas como a de “A Metamorfose” e “A Morte de Ivan Ílitch” (1886), de Liev Tolstói (1828-1910), passaram ao cânone ocidental por sua destreza de esgrimir assuntos como a desumanização em suas mais variadas nuanças e o perecimento ao cabo de uma jornada reta, mas (ou por isso mesmo) diminuída. Virulência e requinte num casamento perfeito, em que nada sobra ou falta.
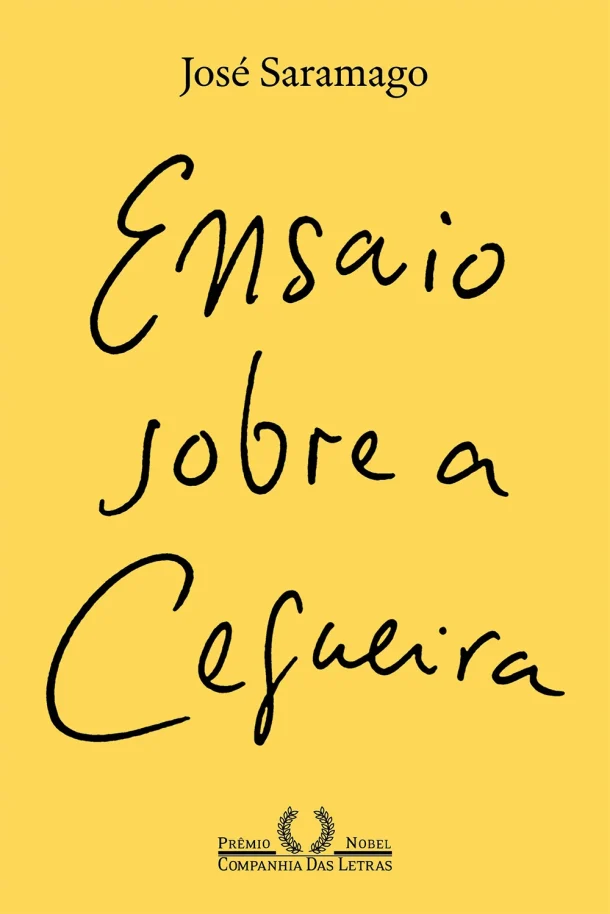
“Ensaio sobre a Cegueira”, de José Saramago (1922-2010), é uma poderosa alegoria sobre a fragilidade da civilização diante do caos. A narrativa começa com um homem que, subitamente, perde a visão. Logo, a cegueira branca se espalha como uma epidemia, afetando uma cidade inteira. Os afetados são isolados em quarentena, e o enredo se desenrola a partir da convivência forçada e da luta pela sobrevivência dentro desse espaço degradante. Saramago explora com maestria a degradação das estruturas sociais e morais quando os pilares da ordem desaparecem. A ausência de nomes nos personagens — como “o médico”, “a mulher do médico” — reforça a universalidade da condição humana. A escrita peculiar do autor, com frases longas e pontuação não convencional, exige atenção, mas também aproxima o leitor da angústia e do desespero retratados. No centro da história está a única personagem que mantém a visão, a mulher do médico, que se torna guia e testemunha da desumanização e, ao mesmo tempo, da resistência. O romance é uma crítica contundente à indiferença, ao egoísmo e à brutalidade que podem emergir em tempos de crise. Ensaio sobre a Cegueira é, acima de tudo, um alerta sobre a importância da empatia e da solidariedade.

Cansado das badalações de Nova York, Ernest Hemingway (1899-1961) registrou novas farras, agora na Cidade Luz, no póstumo “Paris É uma Festa” (1964), e quando se fartou também de lá, foi para Cuba, país que escolheu para descansar da pena. E descansou mesmo: a literatura para Hemingway rapidamente se tornou um pálido diletantismo, tão absorto estava com pescarias, conversas despretensiosas com os moradores locais e sestas após o almoço. O “mercado” não queria mais saber dele. Seu último romance de sucesso, “Por Quem os Sinos Dobram” (1940), já havia completado dez anos. Deu-se uma infrutífera tentativa de retorno, com “Na Outra Margem, Entre As Árvores” (1950), mal-recebido pelo público e, claro, desancado pela crítica. No ano seguinte, enviou a seu editor os originais de “O Velho e o Mar”, publicado em 1° de setembro de 1952, junto a um bilhete em que dizia: “Eu sei que isso é o melhor que posso escrever na minha vida toda”. Último livro do romancista publicado em vida, “O Velho e o Mar” tem por eixo a história de Santiago, um velho pescador cubano. Há 84 dias sem um pescado digno de sua fama, mas recebendo o entusiasmo — e ouvindo as provocações — de um garoto com quem dividia o convés, Santiago acaba fisgando um colossal marlim de quase 700 quilos. Apesar de breve e dispondo com uma reviravolta nada menos que genial, a história do velho Santiago é a metáfora perfeita acerca do processo artístico do autor — especialmente depois de Cuba — e, em última instância, da própria condição do homem, uma alegoria de como se vencer o sonho e, afinal, concretizá-lo, torná-lo visível para si e para os outros, o que constitui um processo penoso, repleto de questionamentos, de hesitações, de luta contra a própria covardia e, exorcizados todos esses fantasmas, ter de enfrentar a dor maior de chegar à terra firme e se deparar com nada além do que ossos.
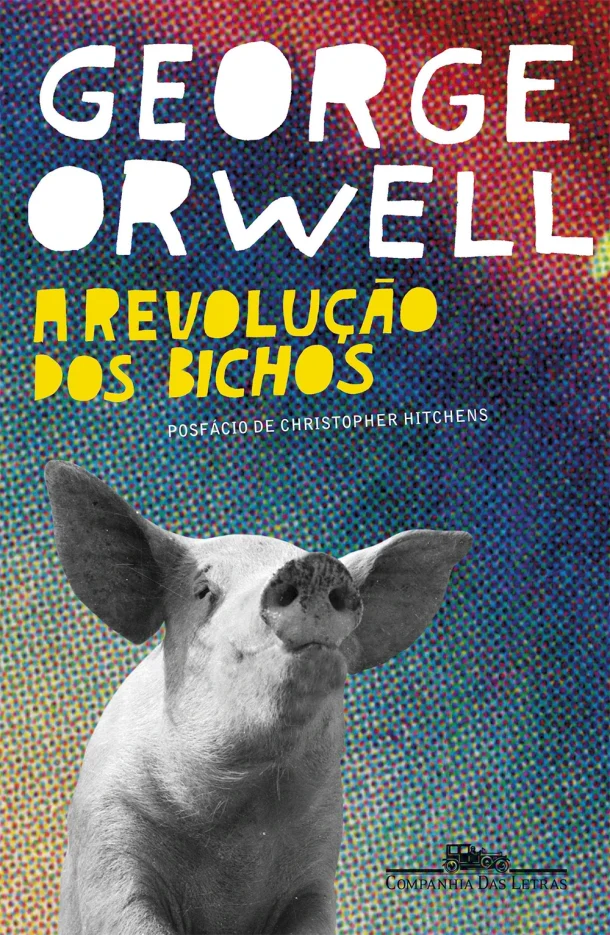
“A Revolução dos Bichos” é uma alegoria política escrita por George Orwell (1903-1950) que narra a revolta dos animais de uma fazenda contra seus exploradores humanos. Através de uma linguagem simples e simbólica, Orwell retrata a ascensão e a corrupção do poder, inspirado nos eventos da Revolução Russa e no regime stalinista. Inicialmente, os animais se unem com o ideal de igualdade e liberdade, liderados pelos porcos Bola-de-Neve e Napoleão. Com o tempo, no entanto, o poder se concentra nas mãos de Napoleão, que trai os princípios revolucionários e estabelece uma ditadura ainda mais opressora do que a anterior. A obra critica o autoritarismo, a manipulação da linguagem e a passividade das massas diante da injustiça. Orwell demonstra como ideais nobres podem ser deturpados por líderes ambiciosos, revelando a fragilidade da democracia sem consciência crítica. O livro convida à reflexão sobre o papel da educação, da memória e da resistência em contextos políticos. Sua relevância permanece atual, pois alerta para os perigos do conformismo e da concentração de poder. Com ironia e inteligência, Orwell transforma uma fábula em uma poderosa denúncia social e política.
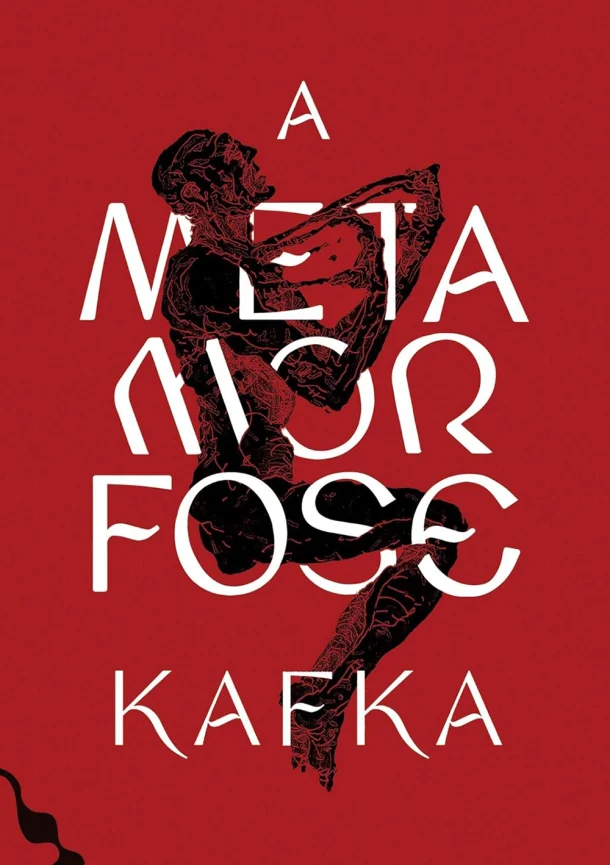
Escrito por Franz Kafka (1883-1924), “A Metamorfose” é uma das obras mais impactantes da literatura do século 20. A narrativa começa de forma abrupta e surreal com a transformação de Gregor Samsa, um caixeiro-viajante, em um inseto monstruoso. A partir dessa premissa insólita, Kafka constrói uma poderosa metáfora sobre a alienação, a desumanização e o isolamento social. Gregor, antes sustentáculo financeiro da família, torna-se um fardo insuportável, revelando a fragilidade das relações familiares baseadas na utilidade econômica. A obra critica duramente a sociedade moderna, que valoriza o indivíduo apenas por sua capacidade produtiva. A indiferença e o desprezo progressivo da família de Gregor refletem o egoísmo e a superficialidade das convenções sociais. A linguagem objetiva e fria contrasta com o drama psicológico do protagonista, intensificando o sentimento de angústia e impotência. Kafka não fornece explicações racionais para a metamorfose, o que aumenta o tom absurdo e existencial da obra. Ao final, a morte de Gregor é tratada com alívio, evidenciando a crueldade e o conformismo que permeiam as relações humanas. “A Metamorfose” permanece relevante por sua crítica à perda da identidade no mundo moderno e pela profundidade simbólica de sua narrativa.
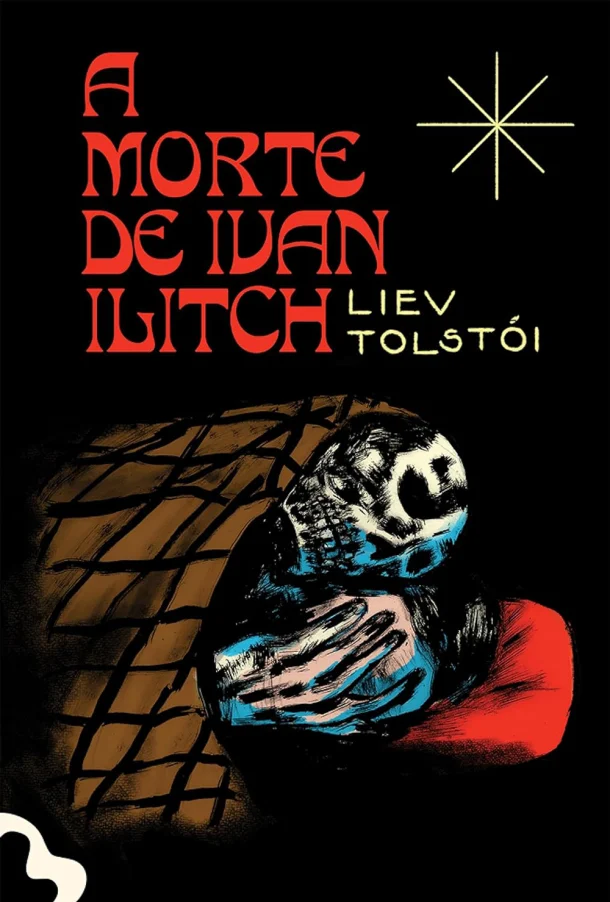
Com “A Morte de Ivan Ílitch”, romance publicado em 1886, Liev Tolstói (1828-1910) talvez tenha escrito sua novela mais amarga, muito mais ainda do que “Guerra e Paz” (1867), monumento de mais de mil páginas sobre a baldada invasão napoleônica à Rússia em 1812. Em “Guerra e Paz”, Tolstói elabora um quadro milimetricamente detalhado de uma sucessão de confrontos campais, de natureza sangrenta, portanto, mas nunca se esquecendo de pontuar a narrativa bélica com a vida íntima de uma família. A morte para Tolstói torna-se desde então um leitmotiv vital em seus trabalhos, ainda que o tempere, como já se mencionou, com fatos comezinhos — e é nisso que reside a genialidade do russo. A finitude em “A Morte de Ivan Ílitch” adquire tintas muito mais dramáticas porque 1) trata-se de um homem jovem, mesmo para os padrões do século retrasado, uma vez que o próprio Tolstói passou dos oitenta anos; 2) o protagonista sucumbe a uma enfermidade implacável, que se arrasta ao longo de muito tempo e para a qual nem se sonhava com qualquer possibilidade de cura — isso, sim, uma constante na época em que se passa a história. Tudo leva a crer que se trata de um câncer do aparelho digestivo; 3) poder-se-ia admitir que Ivan Ílitch se fosse ainda moço, o ponto não é esse. O que Tolstói não deixa escapar é o caráter rasteiro da vida que levara. Não fora um biltre, um corrupto, um degenerado. Pelo contrário.








