Uma vila cercada por florestas nuas e lagos que já esqueceram como era ser líquido. Ali, o inverno não é apenas estação — é presença. É cenário, voz e tempo suspenso. Nesse mundo quase imobilizado pelo frio, duas meninas de onze anos se encontram. Uma, Siss, é popular, segura, feita de riso fácil e passos certos. A outra, Unn, recém-chegada, órfã de mãe, é feita de silêncios. Um tipo de silêncio denso, não o da timidez, mas o de quem guarda algo — ou tenta se proteger dele.
Quando Siss aceita o convite para ir à casa de Unn, não imagina o que está prestes a acontecer. Não no sentido tradicional do enredo, mas em outra ordem de coisas: a das vibrações humanas quase imperceptíveis. Aquela visita, aquela noite, aquele espelho coberto por um pano e aquele quase toque entre mãos — tudo ali tem o peso das epifanias caladas. Elas trocam poucas palavras, mas há uma espécie de acordo tácito entre as duas, um pacto do qual talvez nem tenham consciência, mas que muda tudo.
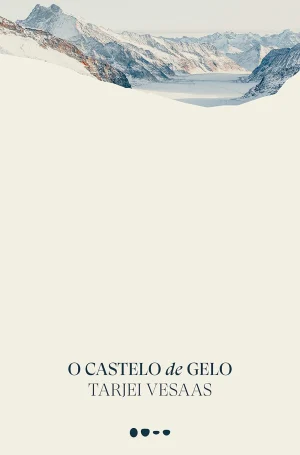
No dia seguinte, Unn desaparece. Não há bilhete. Não há explicação. Apenas ausência. E a partir daí, a história — ou o que se poderia chamar de história — se volta inteira para Siss. Que fica. E sente. E não entende. Porque a dor de perder alguém que mal se teve é, talvez, a mais difícil de nomear. Não há luto oficial, ninguém oferece consolo. E, no entanto, algo nela se rompeu.
O “castelo de gelo”, formação natural e deslumbrante sobre uma cascata congelada, torna-se mais que metáfora. Ele é o corpo simbólico do livro. Frio, magnífico, labiríntico — um lugar onde Unn esteve. E talvez ainda esteja. O leitor entra ali com ela. E entende, ou tenta, que há perdas que não se explicam. Só se atravessam.
Siss, então, começa a se retirar do mundo. Com gestos pequenos. Um afastamento aqui, um silêncio ali. Os colegas estranham. Os adultos perguntam. Mas não insistem muito — e ela também não oferece resposta. Porque não sabe. Porque talvez não queira saber. Ela fecha-se num voto íntimo, não dito, quase ritual: manter viva a presença de Unn sem jamais pronunciá-la. Como se, nomeando, estragasse. Ou matasse de vez.
O autor não entrega nada de bandeja. Não explica. Não resolve. E ainda bem. Vesaas confia no leitor. Confia no não-dito, no espaço entre as frases, no branco das páginas como parte da narrativa. A linguagem é quase mineral: precisa, contida, e por isso mesmo tocante. A neve, o gelo, o degelo. A paisagem torna-se espelho interno. Tudo pulsa, mas devagar. Como o sangue de um animal hibernando.
Siss é forçada a crescer. Não por imposição externa, mas por transbordamento interno. A relação com os outros torna-se tensa, desconfortável. Não porque a rejeitem, mas porque esperam dela uma adaptação que ela não está disposta a fingir. Ela não está pronta para o “voltar ao normal”. Porque nada mais é normal.
E há mais. Há algo na relação entre Siss e Unn que resiste a classificações fáceis. Não é apenas amizade. Também não é amor, se o entendemos como romance. É outra coisa. Um laço inaugural. Uma identificação muda. Uma espécie de reconhecimento. Como se, naquela noite, Siss tivesse vislumbrado — e isso talvez a assuste — uma versão de si que ela ainda não compreende, mas que sabe ser verdadeira.
Nada disso é dito com clareza. Mas está lá. No modo como ela sonha. No modo como hesita. No modo como a imagem de Unn continua aparecendo, fria e luminosa, nas entrelinhas da vida.
E então vem a pressão da escola. A comunidade. A família. Todos esperam que Siss supere, que sorria, que volte a ser quem era. Mas quem ela era? E quem ela é agora? O desconforto cresce. Não há confronto, mas há resistência. Silenciosa, firme, como o gelo que demora a derreter.
Vesaas constrói tudo isso sem pressa. E sem precisar dizer demais. Seu texto tem uma qualidade quase musical, com pausas no lugar certo. Como se a neve caísse entre as frases. Como se o silêncio também fosse parte da história.
Aos poucos, Siss começa a mudar. Não há virada de página nem epifania explícita. Mas há um degelo. Lento. Tímido. Ela começa a olhar de novo para fora. Não porque esqueceu Unn. Mas porque entendeu que viver também é honrar. Que lembrar é continuar. E que guardar não precisa ser se apagar.
O livro não ensina nada. Não pretende consolar. Mas toca. Porque fala de uma perda que todos já sentimos, ainda que com outros nomes. A perda daquilo que quase foi. Do que poderia ter sido. E que, por alguma razão, ficou ali — congelado.
No fim, Siss caminha. A paisagem muda. O inverno cede. Mas algo permanece. Uma fresta aberta. Um espaço dentro dela — e dentro do leitor. Porque há histórias que terminam. E há histórias que permanecem. Como um estalo de gelo à distância. Que ninguém ouve. Mas a gente sente.









