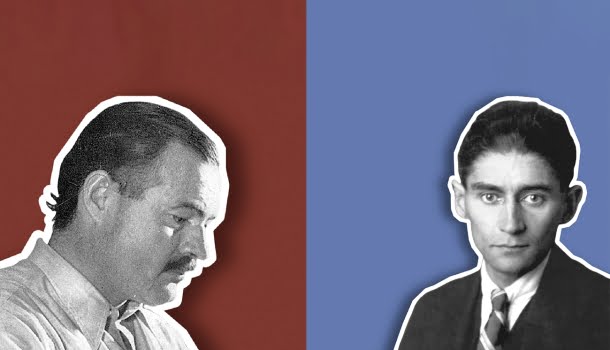Já menti várias vezes, mas, agora, eu não minto. Era preto na folhinha e não adianta tergiversar sobre os aspectos étnicos da melanina na cútis. Entrei numa padaria do condado para faturar um deputado federal da bancada terraplanista. Óbvio que não faria o serviço ali mesmo. O logradouro servia apenas como um ponto de encontro. Dali, partiríamos para algum apartamento funcional da Asa do Avião que funcionasse como um lugar mais apropriado para se comer gente usando recursos do erário.
A pandemia grassava. Os gansos grasnavam. E eu não sabia bem ao certo o que fazer da droga da minha vida. Escrever livros para cegos de ódio? Investir no mercado da fé? Exterminar a minha própria nação indígena? Salvar a pátria da ameaça comunista? As possibilidades eram tentadoras, mas, eu andava cheio de preguiça por ter que trabalhar em prol de um futuro melhor para as novas gerações. Elas que se danassem sem chuva, sem comida e sem água potável. Tudo a seu tempo e cada um com os seus problemas.
O primeiro passo foi esmagar com o coturno uma barata soturna que se fartava com as migalhas de humanidade sobre o assoalho. De tão mal frequentado, o lugar parecia incrível. Deparei-me com a padaria lotada de máscaras, a maioria delas não usava nenhum rosto. O movimento de indivíduos de má estirpe naquela birosca estava ON. Abdiquei dos frouxos protocolos de distanciamento social, claramente vilipendiados pela turba que se espremia dentro daquele estabelecimento da superquadra glacial. Adentrei a padaria para entender melhor o que estava provocando a estupenda aglomeração de incautos.
A coisa estava preta. Já disse que não adianta tergiversar. A coisa estava preta, no sentido figurativo, e a cor que a situação tinha não tem nada a ver com o racismo estrutural incutido no subconsciente da sociedade branca, se é que me entendem. Os pretos que me perdoem. Se não puderem me perdoar, que se danem. Estava durinho de gente e era só isso. Sentia-me feliz como um pinto no lixo. Num esforço hercúleo, depois de bolinar o traseiro das curiosas e encoxar uma atendente venezuelana que carregava bandejas sem carteira assinada, consegui lambrecar a cueca e claudicar até o olho do furacão. Estava ali ninguém mais, ninguém menos, do que o próprio primeiro-ministro Mojo Filter, em carne e osso. Mais carne do que osso. Alma, fazia tempo que não possuía uma.
Possuído por comedões demoníacos, o premier fazia hora a gargalhar alto, sem compostura — descompostura era a marca registrada da sua gestão —, mastigando de boca aberta, contando hilariantes piadas misóginas e ameaçando a democracia na ilha com rompantes mal-passados de golpes de estado. Estúpida como um coice nos ovos, a turba ovacionava o célebre visitante, esparramando uma célere névoa infecta de perdigotos pelos quatro cantos do salão oval da padaria. A pandemia mongol já tinha quase acabado; a burrice, não. E ia demorar muito tempo ainda para desconstruir tudo.
O primeiro-ministro parecia bem à vontade e deglutia sem modos uma porção de verdades mal-passadas, difíceis de se engolir, que lhe eram servidas a palito. Estava cercado por energúmenos do serviço secreto da inteligência ínfima do estado, portanto, patriotas inveterados e impotentes sexuais de toda ordem dispostos a enfiar o dedo no próprio rabo e a rasgar as entranhas pelas mais estranhas causas ufanistas. Senti que poderia tirar algum proveito da situação e me valer da oportunidade de ouro para me aproximar de Mojo Filter, que tinha enricado rompendo cabaços, derrubando florestas, matando índios e destruindo rios em busca de minérios preciosos. Não era todo dia que a gente se deparava com a autoridade máxima do arquipélago a quebrar o decoro, a burlar o distanciamento social e a infringir os protocolos sanitários inventados pela comissão antivax do governo central.
Inspirei fundo, estufei o peito, cuspi num pobre diabo que pedia esmolas e me aproximei do dito-cujo. Ele parecia menos reacionário pessoalmente, contudo, de odor mais sulfuroso. A maldita imprensa contorcionista estava fazendo bem o seu papel de desinformar a população com a publicação da verdade. Ninguém estava interessado nela. Sempre que um segurança segurava na minha, para não perder a piada, eu abria passagem na multidão e abria também a aba do paletó para mostrar a indefectível insígnia do CAC — Clube de Caça dos Crápulas — e uma lustrosa pistola de oito canos — um cano para cada inimigo do estado que se metesse comigo —, atada na altura do peito, próximo do local onde antes existia um coração.
Naqueles promissores dias de deterioração ética e moral da nação, todos os homens de família, os conservadores nos costumes, Jesus Cristo e os cristãos do mercado financeiro andavam armados. As mulheres mal-amadas que não tinham se tornado lésbicas ainda odiavam tudo aquilo, mas, quem se importava com elas. No ritmo que as coisas corriam no principado, as sapatas logo iriam parar numa prisão mequetrefe de segurança mínima com uma venda nos olhos e um eletrodo plugado no clitóris. A nova ordem se amarrava nos critérios da velha tortura, largamente utilizada como parque de diversões durante os áureos tempos da rebelião miliciana. Ninguém dava a mínima para os direitos humanos, quem dirá, para as enfadonhas militantes das causas feministas.
Nenhum leitor vivo ou cidadão de bem presente no interior daquela padaria entendia patavina alguma sobre humor negro, ironia e sarcasmo. Em termos culturais, o país vivia uma tragédia anunciada. O que não deixava de agradar imensamente ao cramunhão. Depois de molhar a mão de um segurança com sêmen, consegui, finalmente, ficar no tête-à-tête com o premiê Mojo Filter. Meu estômago deu aquela embrulhada, mas, homem que sou, por causa do meu passado de atleta a derrubar maçarandubas centenárias com o machado, aguentei firme a pressão no interior das vísceras.
Antes que o alvissareiro líder do principado pudesse dizer “Cara caramba cara caraô”, saquei da cintura uma daquelas famosas facas Bispo — “A lâmina que fere, mas, não mata” — e enfiei na barriga de uma leitoa que jazia morta sobre um rústico aparador confeccionado com madeira de demolição proveniente de uma escola pública. Educar as crianças já não valia mais a pena. Mas, era fundamental que continuassem a ser programadas pelo estado, por via remota, através de computadores infectados pelo vírus da ignorância. Os pais tinham papel fundamental nesse projeto de alienação filial.
A panceta estava mesmo uma delícia. Mojo Filter e eu nos afeiçoamos desde o início. Eu acho que foi ódio à primeira vista. Brindamos com o sangue-de-cristo, fizemos inúmeras self e publicamos as fotos em redes sociais forjadas da Dark Web, especializadas no compartilhamento de difamações, notícias falsas e discursos fascistas. Enquanto isso, o povo idiota do principado ali presente entoava eloquentes hinos de guerra contra a democracia, contra liberdade de expressão e contra a própria vida. Parecia “1984”, de George Orwell. Só que ninguém mais lia livros. Então — vamos lá — parecia uma novela. Uma novela com enredo muito ruim. Algo trágico, tosco, deprimente, mas, emocionante de se ver, até mesmo para alguém que, como eu, já tinha perdido toda a capacidade de amar outro ser humano.
*Este conto é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com pessoas e fatos da vida real será mera coincidência.