A pandemia do coronavírus trouxe o sentimento de que os seres humanos podem, sim, desaparecer antes do fim do planeta. Não é de hoje que a Terra está com os dias contados e cantados em verso e prosa. Existe toda uma literatura filosófica e antropológica sobre a catástrofe ambiental do mundo. No Brasil, autores indígenas criaram os títulos mais interessantes para abordar a questão: “Ideias para Adiar o Fim do Mundo”, de Ailton Krenak, e “A Queda do Céu”, de Davi Kopenawa. O desastre planetário, porém, só ganhou clareza para o mundo inteiro com a Covid-19 a partir do ano passado.
A ficção produzida no Brasil já estava atenta, mesmo antes da pandemia, aos movimentos em direção ao futuro sombrio. Tomemos apenas os casos de escritores e escritoras atuais no país, o que dá uma amostra de uma percepção negativa do mundo e do quanto essa perspectiva pode render obras de qualidade. Em 2019, o romancista Daniel Galera escreveu o curioso ensaio “Ondas catastróficas”, publicado na revista “Serrote”. O texto defende que se chegou ao esgotamento das formas realistas de narrar usadas na literatura contemporânea, incluindo os romances do próprio autor.
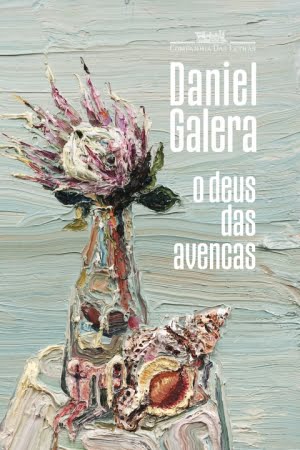
“O que parece anacrônico na era da visibilidade total, quando se fala em literatura, é o tipo de romance realista ainda hegemônico, o modelo de narrativa masculina e burguesa por excelência, atenta à metódica construção psicológica dos personagens e à representação detalhada e naturalista do real”, escreveu Galera. “É o tipo de narrativa que, de modo geral, posso ser acusado de praticar desde os meus primeiros livros publicados. Quando escrevi meu último romance, ‘Meia-Noite e Vinte’, lançado em 2016, experimentei pela primeira vez o desgaste das ferramentas com as quais estava acostumado a transcrever minha imaginação e minha vida interior.”
Segundo ele, as novas ideias e perspectivas estão surgindo na ficção de gêneros (ou subgêneros literários): a científica, a fantasia e o horror. Parece que Galera reivindica narrativas exploratórias que foram escritas no passado por autores como Philip K. Dick e hoje pelo inglês China Miéville. Para uma cultura como a brasileira, construída em cima da ideia de utopia e de um encontro marcado com o futuro grandioso, a passagem para uma fase de distopias é sem dúvida uma novidade relevante.
“Procuro me lembrar de que a arte não trabalha somente com o que está dado. A ficção pode produzir novidade. Pode parecer não ter saído de lugar nenhum nem ter grandes objetivos. Cercado de imagens digitais de nossas inúmeras catástrofes em curso, tenho vontade de escrever uma ficção que soe como um capricho sem proposta clara, um exercício gratuito da tendência cósmica à novidade, ao excedente de vida”, afirmou o autor de “Barba Ensopada de Sangue”, indicando o caminho a ser tomado em sua obra.
Em seu mais recente livro, “O Deus das Avencas” (2021), Galera começou a materializar sua virada a um novo tipo de escrita, mais distante do realismo urbano e psicologia dos personagens. O novo trabalho é uma reunião de três novelas, sendo duas delas na linha que poderíamos chamar de distopia. A narrativa “Tóquio”, por exemplo, conta a história de um homem solitário depois de uma catástrofe ambiental e tecnológica.
Nesse mundo novo, que aparece na forma de uma cidade destroçada, as pessoas têm acesso a uma tecnologia para armazenar a consciência e as memórias de outras. Trata-se de um ponto de partida para pensar uma série de questões que assustam os indivíduos modernos. No fundo, as ficções científicas são quase sempre ambientadas em um futuro para abordar na verdade o presente — o que fica evidente por exemplo no “Conto da Aia”, de Margaret Atwood, talvez a mais famosa e popular distopia dos últimos anos.

(Companhia das Letras, 144 páginas)
Em “Bugônia”, Daniel Galera mostra uma comunidade pós-apocalíptica buscando se reinventar e usar a natureza para criar uma possibilidade de futuro. A narrativa não deixa de ser uma tentativa de utopia, de imaginar saídas em meio ao cenário de uma catástrofe. O resultado final de “O Deus das avencas” é uma guinada do autor em direção a novos rumos que se insinuavam pouco antes da pandemia de Covid, com o seu ensaio-manifesto contra o realismo, e devem se consolidar nos próximos trabalhos.
Leitor de Thomas Pynchon e Don Delillo (mestres de distopias e catástrofes), o escritor Bernardo Carvalho imagina o que será o Brasil pós-Covid. Em 13º livro (“O Último Gozo do Mundo”, 2021), ele criou a história de uma professora de sociologia que se separa do marido pouco antes de uma pandemia. Ela perde o pai e a mãe para a doença. Ocorre uma festa no campo, uma rave, após a quarentena, e ela engravida de um rapaz que conheceu no encontro. A visão do narrador é ácida, tal qual seus ensaios recentes: “Na falta de imunidade ao vírus, mais de um terço da população tornou-se imune à realidade. Isso ficou claro quando começaram a morrer. Era gente que saía da quarentena de cabeça erguida, decidida a não voltar atrás. Gritavam: ‘Quero minha vida de volta!’, enquanto caíam, febris, sufocando em acessos de tosse”.
Em busca de um sentido para o futuro, a professora e o filho viajam a um lugar no interior do Brasil. Lá um sobrevivente da pandemia não se lembra mais do passado e tornou-se um vidente do que está por vir. Trata-se de uma busca de horizontes para uma vida que possam ir além de silêncios e gozos destrutivos do presente. Antes, Bernardo Carvalho havia se aventurado pelas especulações que parecem fora do tempo e do espaço, como no bem-sucedido no romance “Teatro” (1998) e seu cenário de terra desolada.
Neste ano de 2021 repleto de distopias, Joca Reiners Terron foi outro escritor que mergulhou nesse imaginário e lançou “O Riso dos Ratos”. É uma narrativa vertiginosa de um pai que descobre estar doente e decide se vingar do sujeito que teria cometido uma violência brutal contra sua filha. Quando sai às ruas, no entanto, ele só vai encontrar um país barbarizado e em ruínas. Os personagens que vão aparecendo na história são imagens mais próximas de alucinações, porém próximas de tipos sociais do Brasil contemporâneo.
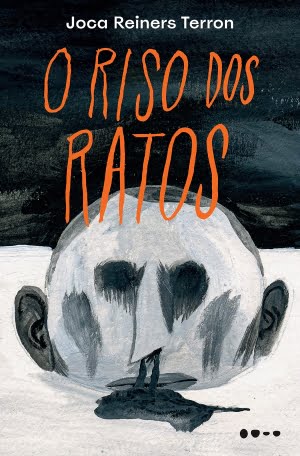
Terron havia optado por uma mistura enlouquecida em seu romance anterior, “A Morte e o Meteoro” (2019). O livro imagina a devastação final da Amazônia, onde sobreviveram os índios isolados kaajapukugi. A floresta destruída é o objeto de 100% das análises que vislumbram o fim do mundo e dos seres humanos. Na história criada pelo autor, o sertanista Boaventura tem uma ideia mirabolante: levar 50 indígenas para o México, e lá eles poderão viver como refugiados políticos. O autor é extremamente crítico e habilidoso para criar uma narrativa paranoica e cheia de conspirações.
Quem vem explorando bem as distopias e narrativas antirrealistas é a escritora Ana Paula Maia. Em agosto, sai o novo romance dela, “De Cada Quinhentos uma Alma”, que terá mais uma vez o personagem Edgar Wilson — de evidente inspiração em Edgar Allan Poe. A escrita de Ana Paula dispensa os dados do realismo, da psicologia, porém ela trata do mundo concreto de hoje com suas catástrofes. No romance “Enterre Seus Mortos” (2019), Edgar trabalha com o recolhimento de animais destroçados em rodovias do interior do país. E bombas usadas na mineração lançam uma chuva de pedras na região onde se passa a história, criando um cenário absurdo.
A presença de animais é uma marca de autora, sobretudo pelo seu aspecto de vida descartável. Se é um bicho, pode ser morto com violência. Daí é um passo para a morte de pessoas ser algo animalesco, como no livro “Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos” (2009). A narrativa “Carvão Animal” (2011) retoma o passado dos personagens que aparecem nos livros anteriores e pontua no seu início o que seria uma poética da escritora: “[Carvão animal] encerra uma saga que tem por fundamento expor como o caráter humano pode ser moldado pelo trabalho que executa”.
Os personagens de Ana Paula estão submetidos ao “trabalho sujo”, aquela atividade que ninguém pediria a um ser humano para realizar — a não ser que estivéssemos no fim dos tempos. Seu livro mais bem elaborado é “Assim na Terra Como Embaixo da Terra” (2017). Aqui o emprego desumano é uma prisão num grotão do país. Na verdade, uma colônia penal construída em cima de uma antiga fazenda de escravos. O horizonte desenhado pelo livro é o biopoder, a vida nua, numa versão à brasileira de distopia.
O futuro apocalíptico do Brasil vai aparecer também com intensidade no romance “Sob os Meus Pés, Meu Corpo Inteiro” (2018), de Marcia Tiburi. A cidade de São Paulo vive uma crise hídrica sem fim, e lá estão as personagens Lucia e Betina. A partir do encontro delas revela-se uma trama vertiginosa de revelações familiares e de acontecimentos da História brasileira nos últimos 50 anos. É uma narrativa obscura, nada realista, que aborda os traumas individuais e coletivos. Seria assim o verdadeiro Fim da História?
Uma breve leitura desses romances dá uma ideia para onde caminha parte da premiada ficção contemporânea. Pode ser que a distopia já seja uma nova “estrutura de sentimento” dos artistas, bastando lembrar os primeiros passos dados nos livros “Estorvo” (1991), de Chico Buarque, e “Cidade de Deus” (1998), de Paulo Lins. Se juntarmos essas obras ao cinema de “Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho, e “Divino Amor”, de Gabriel Mascaro, confirma-se a ideia de que a utopia modernista do Brasil, em torno de valorização da vida popular, se esfumaçou. Restaram escombros, pandemia de vírus mortais, meio ambiente insalubre, indígenas desterrados e animais mortos pelo caminho.






