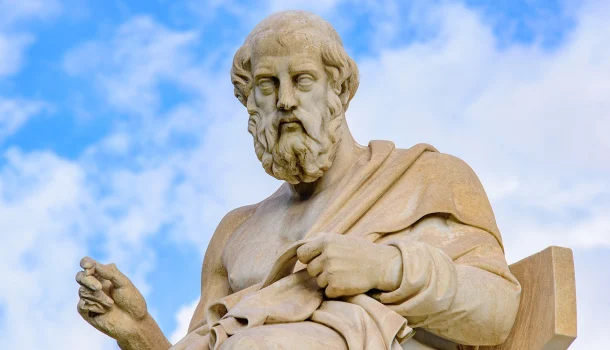Fotografia: José Cruz/Agência Brasil
Delegado do Dops revela que queimou militantes da esquerda numa usina de açúcar, articulou uma tentativa de assassinar Brizola e Gabeira, afirma que a ditadura usou e matou Sérgio Fleury
O delegado do Dops Cláudio Antonio Guerra admite, no livro Memórias de uma Guerra Suja (Topbooks, 291 páginas), depoimento colhido pelos repórteres Marcelo Netto e Rogério Medeiros, que matou e incinerou várias pessoas, relata casos de torturas contra presos políticos, garante que, orientado sobretudo pelo coronel Freddie Perdigão Pereira, do Serviço Nacional de Informações (SNI), tentou assassinar Leonel Brizola e Fernando Gabeira, faz revelações sobre a morte do delegado Sérgio Paranhos Fleury, conta que os homens do porão mantinham ligações com artistas, inclusive da TV Globo, indica que o Ministério Público Federal compactuou com a violência do regime. A obra ganhou repercussão internacional. O correspondente Mac Margolis, da revista americana “Newsweek”, publicou longo comentário a respeito. O jornalista Pedro Pomar, editor da “Revista Adusp” e doutor em ciências da comunicação, afirma que o livro aparentemente contém mais “verdades” que “problemas”. Alberto Dines, que morreu em 2018, escreveu, no “Observatório da Imprensa”: “Este caso precisa ser acompanhado ao vivo. Sem câmeras ocultas, sem sigilo, sem vazamentos. Este horror made in Brazil precisa ser escancarado. Imediatamente, em detalhes.
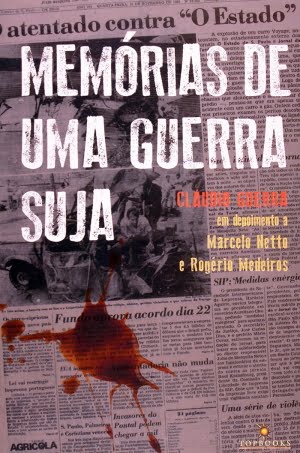
Como aconteceu com o Tribunal de Nuremberg — que julgou os crimes cometidos pela cúpula nazista —, este caso exige trâmites especiais. Está em jogo não apenas a imagem do País e de suas instituições. Nossa alma precisa desta catarse para viver em paz”. O historiador Luís Mir, autor de “A Revolução Impossível” (Best Seller, 756 páginas), é uma voz destoante: “Este livro é falso, farsesco, mentiroso da primeira à última página. O atentado contra o ‘Estadão’ foi feito pela O, Organização, que era como se denominavam à época os sargentos remanescentes do MNR que iriam fundar a VPR. Estão identificados os quatro autores, quem colocou a bomba, quem deu apoio no segundo carro. Esse livro é canalhesco. Nada, absolutamente nada do que esse esquizofrênico afirma, tem qualquer ranço mínimo de credibilidade”. É a primeira voz de um historiador das esquerdas que denuncia as versões do delegado. O volume de informações, com detalhes precisos, sugere que, pelo menos, se deve considerar o depoimento de Cláudio Guerra como ponto de vista para novas investigações históricas. O delegado seria um mini-Eichmann dos trópicos? Se verdadeiro, teríamos de admitir que o coronel Freddie Perdigão seria Heinrich Himmler. Os dois não têm, porém, a “dimensão” histórica dos personagens alemães nem a ditadura civil-militar brasileira pode ser equiparada, em poder e crueldade, ao nazismo. O delegado não é citado nos livros publicados sobre torturas e assassinatos entre 1964 e 1985 — daí, possivelmente, o estranhamento dos leitores e, sobretudo, dos jornalistas e acadêmicos.
Quem sabe, o depoimento do policial indique, mais do que tudo, que ainda se sabe menos do que se pensa sobre as atividades do porão, ou porões, durante os governos de Castello Branco, Costa e Silva, Emilio Garrastazú Medici, Ernesto Geisel e João Figueiredo. Os porões eram menos porões do que se pensa, quer dizer, eram praticamente unidades oficiais?
Na introdução do livro, Rogério Medeiros assinala, talvez com certo exagero: “Sua competência [de Cláudio Guerra], em matéria de execução e de estratégia, o levaria logo à condição de principal lugar-tenente de Freddie Perdigão, cérebro e ideólogo do sistema de repressão da comunidade de informações [um dos problemas do livro talvez seja a apresentação de Freddie Perdigão como o “chefão”, como se as forças armadas não tivessem generais, só coronéis]. Devido ao êxito de sua trajetória, Cláudio Guerra alcançaria, em pouco tempo, o lugar de estrategista do escritório do SNI no Rio de Janeiro”. O depoimento em si sugere que Cláudio Guerra era mais “executor” de ordens do que “estrategista”. O estrategista, se havia um, era Freddie Perdigão e o delegado afirma que o coronel comandava várias equipes. Um grupo não sabia o que o outro estava fazendo, mas Perdigão era o mestre dos cordões de todos eles, e não o serial killer do Dops. Fica-se com a impressão de que Cláudio Guerra tem inveja de Sérgio Fleury e quer se apresentar como o Fleury que deu certo e havia sido, pelo menos até há pouco, leal aos chefes militares. É possível concluir que os integrantes da Polícia Civil tinham escassa autonomia e eram subordinados aos militares.
Pastor evangélico, Cláudio Guerra decidiu abrir o baú de suas memórias, assim como uma filha do general Antônio Bandeira, um dos primeiros combatentes da Guerrilha do Araguaia, abriu o baú do pai, há algum tempo, para o jornal “O Globo”.
Freddie Perdigão
Cláudio Guerra atraiu a atenção dos militares da linha dura, como o coronel Freddie Perdigão, do Exército e do SNI (Serviço Nacional de Informações), e o comandante Antônio Júlio Vieira, do Cenimar (Centro de Informações da Marinha), porque era um dos matadores do esquadrão da morte da Polícia Civil do Espírito Santo. O delegado está envolvido em pelo menos 100 assassinatos — entre criminosos comuns e militantes das esquerdas. “Guerra começou a eliminar esquerdistas no início de 1973”, informam Marcelo Netto e Rogério Medeiros. O primeiro contato entre o delegado e os dois militares, intermediado pelo procurador da República Geraldo Abreu, ocorreu no final de 1972. Durante 15 anos, o policial civil e os dois militares atuaram juntos. “No início dos anos 1980, Guerra foi o mais ativo executor de atentados contra a redemocratização do Brasil.” O objetivo dos militares e policiais era impedir a redemocratização.
Cláudio Guerra divide seu trabalho em duas etapas. Primeiro, como executor “dos inimigos do regime militar”. “Eu era convocado e matava.” Segundo, tornou-se, nas suas palavras, “estrategista” e “braço direito dos coronéis linha dura”. Ele passou a ser chamado para as “discussões secretas”. Há quem diga, nos meios militares, que os homens do porão não tinham autorização “total” das chefias militares e políticas. Não é o que parece, a se aceitar o depoimento do delegado. Militares e policiais reuniam-se em locais públicos, como o restaurante Angu do Gomes, no Rio de Janeiro, e no Baby Beef, em São Paulo, e nas repartições públicas do governo, como delegacias e quartéis. Se não sabiam o que a “tigrada” fazia, torturas e assassinatos, os comandantes militares e o governo eram “incompetentes” e “mal informados” — o que não eram.
Linguagem seca
Marcelo Netto e Rogério Medeiros transcrevem o depoimento de Cláudio Guerra com a crueza que o caso exige, sem “amaciar” a linguagem.

Em abril de 1973, o sargento Jair, o tenente (da PM) Paulo Jorge (Pejota), Fininho (o policial civil Adhemar Augusto de Oliveira), da equipe de Sérgio Fleury, e Cláudio Guerra mataram Ronaldo Mouth Queiroz, da ALN. No mesmo mês, Freddie Perdigão convocou Cláudio Guerra para simular que Merival Araújo, da ALN, havia sido morto numa troca de tiros com as forças do governo. “Eu dei o tiro que matou o guerrilheiro Emanuel Bezerra dos Santos”, conta o delegado. Mais um militante do Partido Comunista Revolucionário, Manoel Lisboa de Moura, foi assassinado. O fato ocorreu em setembro de 1973. Em Recife, o delegado matou Manoel Aleixo da Silva, do PCR.
Em outubro de 1973, policiais e militares mataram Ranúsia Alves Rodrigues e três militares do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), Almir Custódio de Lima, Ramires Maranhão do Vale e Vitorino Alves Moitinho. “Foi [Freddie] Perdigão que fez questão de acabar com ela [Ranúsia], a tiros. E ria enquanto atirava. Ria alto”, garante Cláudio Guerra. Conta o delegado: “Foi em Belo Horizonte [em abril de 1975]. Nestor Veras [do comitê central do Partido Comunista Brasileiro, PCB] tinha sido muito torturado e estava agonizando. Eu lhe dei o tiro de misericórdia, na verdade, dois, um no peito e outro na cabeça”. Tempo de Ernesto Geisel na Presidência da República.
Os homens do porão não matavam apenas esquerdistas. O policial civil Mariel Mariscot, que havia pertencido à Scuderie Le Cocq, foi executado a pedido de Freddie Perdigão como “queima de arquivo”. Mariel Mariscot havia trabalhado para o SNI. Mas os militares não conseguiam mais controlá-lo. Ismael Veríssimo, ligado a bicheiros, foi morto a pedido de militares. O livro mostra que, quando o governo conseguiu segurar a tigrada, o jogo do bicho passou a sustentá-la.
Atores e a ditadura
“Memórias de uma Guerra Suja”, conta que os militares do porão articulavam no restaurante Angu do Gomes, no Rio de Janeiro. Lá, com anuência dos proprietários, o coronel Freddie Perdigão e o comandante Antônio Vieira “decidiam” os caminhos da repressão e quem ia morrer.

“O Angu do Gomes fazia parte de um complicado esquema que arrecadava fundos para as nossas atividades. Ali aconteceram vários encontros da nossa irmandade, manipulados habilmente pelo coronel Freddie Perdigão. Ali conspiramos contra [o presidente Ernesto] Geisel, Golbery [do Couto e Silva] e [João] Figueiredo. No restaurante foram planejados assassinatos comuns e com motivações políticas, e discutidos os vários atentados a bomba que tinham como objetivo incriminar a esquerda e dificultar, ou impedir, a redemocratização do País”, historia o livro.
Há informações sobre contatos de atores com figuras da repressão, infelizmente mal exploradas por Cláudio Guerra e pelos repórteres. O ator Lúcio Mauro, da TV Globo, “participava dos encontros” com militares e chegava a cozinhar para eles. O delegado não avança sobre qualquer relacionamento mais sério entre o humorista e a ditadura. O ator Jece Valadão “saía em operações” com os policiais, mas não em missões políticas. “Gostava de ver a execução de bandidos e Mariel Mariscot o levava.” Carlos Imperial, Oswaldo Sargentelli, Ciro Batelli e José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, frequentavam o Angu do Gomes. Batelli seria ligado aos bicheiros Castor de Andrade e Ivo Noal. Os bicheiros apoiavam, com logística e dinheiro, as ações dos homens do porão.
Ernesto Geisel e João Figueiredo: no governo dos dois generais, que defendiam a Abertura, o governo, usando radicais da linha dura e policiais civis, mataram líderes e militantes da esquerda
O apresentador de TV Wagner Montes também mantinha ligações com os homens do porão, notadamente àqueles ligados ao delegado Fleury, como Fininho, Joe e Mineiro. “Eram inseparáveis.” O cantor, ator e comediante Moacir Franco também “cooperava”.
Curiosamente, ao resenhar o livro, a maioria das publicações ignorou as ligações dos atores, jornalistas e jornais com militares ligados à tortura de militantes da esquerda. Cláudio Guerra declara: “A ‘Folha de S. Paulo’ apoiou informalmente as ações da Oban. Os carros que distribuíam jornais eram usados em campanhas pela prisão de comunistas. Esses carros eram muito úteis porque disfarçavam bem, ninguém suspeitaria que membros da Oban estivessem ali dentro preparados para agir”. Os repórteres Marcelo Netto e Rogério Medeiros apressam-se, numa nota de rodapé, a defender o jornal: “A direção da ‘Folha’ sempre negou ter conhecimento do uso de seus carros para isso”. Na verdade, Octávio Frias de Oliveira, o falecido publisher, admitiu, sim, que o uso dos veículos é um fato, mas garantiu ao filho, Otavio Frias Filho, que não tinha participação pessoal nenhuma com os militares. A história está registrada na biografia de Frias pai e no livro “História da Imprensa Paulista”, de Oscar Pilagallo. Supostamente, não havia como reagir. Mas os carros do “Estadão” não foram utilizados.
Outra história não mereceu registro nas resenhas: “A bomba que explodiu na casa do dono das Organizações Globo foi, na verdade, parte de uma estratégia formulada por ele mesmo — Roberto Marinho. Foi simulado. A ordem partiu do coronel Perdigão, e eu mesmo coloquei a bomba, mas tudo foi feito a pedido do empresário, para não complicá-lo com os outros veículos de comunicação, para se defender da desconfiança de suas relações com os militares. Para todo mundo ele foi a vítima. Roberto Marinho estava ficando muito visado pela esquerda e pela própria imprensa. Achavam que ele apoiava a ditadura”. Cláudio Guerra contou com o apoio do sargento Jair, de um tenente e do policial civil Zé do Ganho.
Guerrilheiros incinerados
Cláudio Guerra conta que, a partir de 1973, alguns militares começaram “a discutir o que fazer com os corpos dos eliminados na luta clandestina”. O delegado do Dops revela que “a primeira tentativa foi a de um intercâmbio de cadáveres. A equipe do Rio passou a despachar os corpos para São Paulo e vice-versa. Mas isso não foi suficiente para manter a discrição no ocultamento dos corpos”. Ao discutir o assunto com o coronel Freddie Perdigão e com o comandante Antonio Júlio Vieira, o mini-Eichmann dos trópicos sugeriu que usassem os fornos da usina de açúcar Cambahyba, do ex-vice-governador do Rio de Janeiro Heli Ribeiro Gomes, político de extrema direita ligado à Tradição, Família e Propriedade (TFP), e disse “que enterrar corpos em cemitérios clandestinos ou jogá-los ao mar — operação comandada pelo Cenimar — já eram técnicas manjadas, que não tinham a eficácia de antes”.
Com a ajuda de dois funcionários da usina, Zé Crente e Vavá, os corpos de esquerdistas passaram a ser incinerados. “A Usina Cambahyba foi muito usada para este fim [destruir pessoas] nas décadas de 1970 e 1980. (…) Fui responsável por levar dez corpos de presos políticos para lá, todos mortos pela tortura no DOI e na Casa da Morte, em Petrópolis, além dos cadáveres provenientes do DOI da Barão de Mesquita e os que vinham de São Paulo. (…) Também lá na usina matei e desapareci com o corpo do tenente Odilon [Carlos de Souza].” Este foi morto como queima de arquivo.
No livro, Cláudio Guerra cita dez corpos, mas, ao visitar a usina com o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro (Kakay, advogado de José Dirceu e outros próceres da República) e o jornalista Marcelo Netto, depois do lançamento do livro, lembrou-se de outro guerrilheiro incinerado, Armando Teixeira Frutuoso, no forno da usina de açúcar em Campos dos Goytacazes. Ele listou todas as pessoas que levou para serem incineradas.
Os corpos de João Batista Rita e Joaquim Pires Cerveira (foram presos na Argentina, possivelmente pela Operação Condor), mortos na tortura pela equipe do delegado Sérgio Fleury, foram entregues a Cláudio Guerra no final de 1973. Em abril de 1974, o casal Ana Rosa Kucinski — irmã do jornalista e professor universitário Bernardo Kucinski — e Wilson Silva foi preso, torturado e morto pela equipe de Fleury. Cláudio Guerra e o sargento Levy pegaram os corpos na Rua Barão de Mesquita e levaram para a usina. “Os dois estavam completamente nus. A mulher apresentava muitas marcas de mordidas pelo corpo, talvez por ter sido violentada sexualmente. O jovem não tinha as unhas da mão direita. Tudo levava a crer que tinham sido torturados. Não havia perfuração de bala neles”, relata o delegado.

A história sobre David Capistrano da Costa, de 61 anos, não difere do que é narrado no livro “Sem Vestígios — Revelações de um Agente Secreto da Ditadura Militar Brasileira” (Geração Editorial, 239 páginas), de Taís Morais, uma das mais bem informadas jornalistas sobre o que aconteceu nos porões da ditadura. O eleitor que escandalizar-se com o que mostra Cláudio Guerra vai ficar ainda mais impressionado com o que explicita Taís Morais. Elio Gaspari, em “A Ditadura Derrotada” (Companhia das Letras, 538 páginas), também relata o desaparecimento de Capistrano, que havia lutado na Guerra Civil Espanhola e na Resistência Francesa, e José Roman, na cidade de Uruguaiana. “Walter de Souza Ribeiro, David Capistrano e José Roman foram levados para a casa que o CIE mantinha em Petrópolis. Esquartejaram-nos”, diz Gaspari.
Taís Morais, baseada em “documentos” do agente do Exército Joaquim Artur Lopes de Souza, o Carioca, revela que Capistrano foi capturado pelo tigrada da Operação Bandeirantes (Oban). Carioca e outro agente levaram o preso para São Paulo e, de lá, para Petrópolis. À noite, esquartejaram o líder do PCB. O relato da jornalista: “Lentamente, [Carioca] levantou a cabeça em direção a algo pendurado em ganchos. A princípio não distinguiu bem o que era. Um tronco, dividido ao meio. As costelas de Capistrano pendiam do teto, e ele, reduzido a pedaços como se fosse uma carcaça de animal abatido, pronta para o açougue”. Depois, “retiraram tudo e colocaram em sacos plásticos, que imediatamente levaram até o porta-malas de um carro de passeio recém-estacionado na porta do matadouro”. Em seguida, os militares que mataram e esquartejaram Capistrano comeram bifes fritos.
Carioca não menciona os nomes das pessoas que buscaram o corpo de Capistrano, mas sua história coaduna com a de Cláudio Guerra. O delegado levou os pedaços de Capistrano e João Massena Melo (Mello, no livro Elio Gaspari) da Casa da Morte, em Petrópolis, para incinerar na usina de Campos dos Goyatacazes. “Um deles [Massena] me marcou muito, porque lhe haviam arrancado a mão direita. Ela estava dentro do saco, perto do corpo, resultado de tortura impiedosa. O outro homem parecia ter sido mais torturado. Era David Capistrano. A Casa da Morte era para onde iam as pessoas mais importantes.”
Os corpos de José Roman, do PCB, Fernando Augusto Santa Cruz Oliveira, Eduardo Coleia Filho, ambos da Ação Popular Marxista-Leninista (APML), e Luiz Ignácio Maranhão Filho, do PCB, foram incinerados na usina Cambahyba. O dono da usina, Heli Ribeiro, ex-vice-governador do Rio de Janeiro, recebeu benefícios fiscais e financeiros do governo federal. O que sugere que a turma do porão não agia isoladamente, sem apoio de cima. O coronel Perdigão, o doutor Nagib, chegou a mandar Cláudio Guerra sabotar as usinas da região.
Na Casa da Morte, o cabo Félix Freire, apontado como o doutor Magno, “não só matava e serrava os mortos como punha um ácido para acabar com os corpos”, relata Cláudio Guerra. “Depois os enterrava, sem chances para a perícia conseguir identificá-los.” Freire contesta as informações do ex-sargento Marival Chaves, agora confirmadas pelo delegado do Dops. Mas, no livro, o próprio Cláudio Guerra não cita Freire. O nome é apontado pelos jornalistas Marcelo Netto e Rogério Medeiros.
Cláudio Guerra revela que, além dos cemitérios tradicionais nos quais militantes da esquerda eram enterrados como indigentes, havia pelo menos mais quatro cemitérios clandestinos. Um ficava em Petrópolis, onde havia outra casa. “A Casa da Morte era um aparelho de tortura, enquanto essa outra era o cemitério clandestino. Temos então, segundo Perdigão, duas casas da morte.” O ex-policial civil Josmar Bueno, Joe, da equipe do delegado Fleury, “tinha um sítio que servia para enterrar corpos dos torturados pelo Dops, em São Paulo”. Joe é juiz de boxe e amigo do ex-boxeador Maguila. O terceiro cemitério fica em Minas Gerais. Sobre o quarto cemitério: “Ajudei a atirar corpos por um penhasco da Floresta da Tijuca. Nesse local foram jogados presos políticos apanhados no DOI-Codi da Barão de Mesquita, na Tijuca”.
Massacre da Lapa
Há livros esclarecendo o massacre da cúpula do PC do B, em 1976, mas Cláudio Guerra, em “Memórias de uma Guerra Suja”, apresenta nuances. “A Chacina da Lapa foi realmente uma chacina. Eles estavam desarmados. Pejota [tenente Paulo Jorge, da PM] matou [Ângelo] Arroyo, e [o delegado Sérgio] Fleury, [Pedro] Pomar. (…) Ficamos esperando o revide, algum disparo do lado de dentro da casa. Não houve.” Pomar estava com as mãos para cima e, mesmo assim, Fleury o matou “com dezenas de tiros de metralhadora. Não havia armamento no interior da casa, mas, para sustentar a versão de troca de tiros, a equipe de Fleury colocou armas nas mãos dos cadáveres.” O comunista João Baptista Franco Drummond foi morto pela equipe de Fleury, que, depois, simulou um atropelamento. Isto aconteceu no governo de Ernesto Geisel.
Freddie Perdigão, que contava com informações passadas por Jover Telles, que, para sobreviver, havia traído os camaradas, articulou a invasão do aparelho do partido, onde ocorreria uma reunião do Comitê Central do PC do B. Participaram da operação os coronéis Freddie Perdigão e Ênio Pimentel da Silveira, o doutor Ney, e a equipe de Fleury. A cúpula que liderava as ações “sujas” do porão militar.
O trabalho mais qualificado sobre o assunto é “Massacre na Lapa — Como o Exército Liquidou o Comitê Central do PC do B” (Perseu Abramo, 200 páginas), de Pedro Estevam da Rocha Pomar.
Matar Brizola e Gabeira
Parte dos militares que organizaram o golpe de 1964 tinha fixação no político gaúcho Leonel Brizola. Alguns cogitaram matá-lo, inclusive planejando derrubar um avião no qual estaria. Em “Memórias de uma Guerra Suja”, o delegado Cláudio Guerra declara: “O coronel Perdigão e o comandante Vieira me escalaram para matar Leonel Brizola”.
Como Brizola havia ficado com o dinheiro de Fidel Castro — que teria chamado o brasileiro de “el ratón” —, o crime seria atribuído aos cubanos. “O interesse maior partia do Cenimar, órgão de informação da Marinha; o comandante Vieira queria Brizola morto, me disse Perdigão, e pediu para planejar o atentado. Eu o idealizei e fui executar”, garante Cláudio Guerra.
O delegado do Dops hospedou-se no Hotel Apa, na Rua República do Peru, vestiu uma batina — para “implicar a Igreja Católica” (estranhamente, antes era para atribuir o crime aos cubanos) —, subiu na garupa de uma motocicleta, dirigida pelo tenente Molina (o doutor Ney dava cobertura, de carro), e postou-se na porta do edifício no qual morava Brizola. Só que o líder político gaúcho não saiu de casa no dia e escapou. A notícia vazou e o general Golbery do Couto e Silva “acabou com a história”.
A história da tentativa de assassinato do jornalista Fernando Gabeira é inédita. O coronel Freddie Perdigão levou um tiro, supostamente em combate, e culpava Gabeira (que, ao ser preso, não deu nenhum tiro, revelou aos repórteres que colheram o depoimento do delegado). Por isso, depois da Anistia, “estava obcecado em eliminar Gabeira”.
Perdigão seguia os passos de Gabeira, que não desconfiava de nada. O coronel “conseguiu a informação de um voo que ele pegaria a partir do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. (…) Eu e Jacaré fomos escalados, pelo Perdigão, para colocar uma bomba nesse avião”.
No aeroporto, os agentes da ditadura perceberam que crianças e idosos estariam no voo, mas não viram Gabeira, então abortaram a missão. Perdigão, alertado de que a operação era uma loucura, disse que estava “decepcionado” com Cláudio Guerra e Jacaré.
Morte de Fleury
No livro “Brasil: De Castello a Tancredo” (Paz e Terra, 608 páginas, tradução de Mário Salviano Silva), o brasilianista Thomas Skidmore escreve: “A morte de [Sérgio] Fleury atendia muito convenientemente ao plano de [João] Figueiredo de prosseguir com o projeto de Abertura”. No livro “A Ditadura Derrotada” (Companhia das Letras, 538 páginas), o jornalista Elio Gaspari conta que o general Golbery do Couto e Silva disse para o presidente Ernesto Geisel: “Nós não vemos esse Fleury. Eu vou dar crédito a um sujeito desses, que é um bandidaço sem-vergonha. Não, tenha paciência”. Depois, Gaspari relata: “O general [Golbery do Couto e Silva] queria também tirar o delegado Sérgio Fleury de cena. (…) Geisel concordava com o afastamento do delegado”. Golbery disse ao secretário particular do presidente Geisel, Heitor Aquino Ferreira: “Mas tira esse homem para fora. Bota esse homem em férias, manda ele passear na China. Aliás, o chefe está de acordo nisso. […] É uma burrice ter esse homem aí, à vista de todo mundo”. Heitor Ferreira replicou: “Manda ele fazer um curso na França. Com esse nome: Fleury”. Golbery retrucou: “É, mas talvez ele não possa se afastar, porque está sub judice. Manda ele para Foz do Iguaçu. Tem um negócio onde criam jacaré, manda ele tomar banho lá. Esse é bandido. Esse é um bandido. Agora, prestou serviços e conhece muita coisa”.
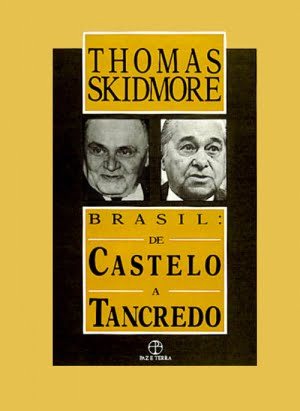
Noutro livro, “A Ditadura Escancarada” (Companhia das Letras, 507 páginas), Gaspari escreve: “A associação de oficiais das Forças Armadas com a bandidagem da polícia na construção de um sistema de repressão baseado na tortura foi produto da incompetência. Não era inevitável. (…) O delegado Sérgio Fleury não ficou parecido com um oficial do Exército. Eram oficiais do Exército que ficavam parecidos com ele”. Na verdade, era chefiado pelos militares.
“Autópsia do Medo — Vida e Morte do Delegado Sérgio Paranhos Fleury” (Globo, 650 páginas), do jornalista Percival de Souza, é o livro mais completo sobre o chefão do Dops e da tortura. Conta, por exemplo, que ele namorou a irmã do jornalista Raimundo Rodrigues, Leonora Rodrigues, e que o ex-presidente da UNE, Tarzan de Castro, teve uma “fuga arranjada” e “colaborou” com a ditadura. “Foi um dos primeiros infiltrados nas organizações subversivas” (página 384), registra Percival. Tarzan nega e disse que iria processar Percival.
Percival fala da morte de Fleury, registrando as várias versões. Cláudio Guerra, em “Memórias de uma Guerra Suja”, conta que o delegado foi assassinado por um comando civil-militar. Sua morte foi articulada, no Baby Beef, em São Paulo, pelos homens do porão: coronel Ênio Pimentel da Silveira (doutor Ney), coronel-aviador Juarez de Deus Gomes da Silva (que contesta a versão), coronel Brilhante Ustra, coronel Freddie Perdigão, o comandante Antonio Vieira, o delegado Aparecido Laertes Calandra e Cláudio Guerra.
Fleury, na versão de Cláudio Guerra, “não respeitava a autoridade dos coronéis, era vaidoso e tinha uma ambição exagerada; não aceitava comando, fazia tudo por conta própria e usava o poder para obter vantagens pessoais, dinheiro, fama. E mexia com drogas” [sobre o uso de cocaína, o brasilianista Skidmore destaca: “Comentava-se que ele era viciado, e com seu trabalho policial tinha acesso aos narcóticos”]. O certo é que a autonomia de Fleury era relativa e ele estava subordinado a miliares.
Ao ser preso, Fleury teria dito: “Se eu cair, cai todo mundo. Vou falar de todos e de tudo que aconteceu”. Segundo Cláudio Guerra, “no final dos anos 1970, Fleury tinha se tornado um homem rico, desviando dinheiro dos empresários que pagavam para sustentar as ações clandestinas do regime militar. Não obedecia mais a ninguém, agindo por conta própria. Os militares da linha dura lhe tiraram o apoio”.
Os militares doparam Fleury, que bebia muito, em Ilhabela, em 1979. “Depois Fleury ainda levou, de um homem de sua confiança, uma pedrada na parte de trás da cabeça, caiu no mar e, logo depois, morreu.” Percival contesta a versão e sustenta que não havia machucado na cabeça do delegado.
Cláudio Guerra garante que outros agentes da repressão foram mortos, alguns “se mataram” e alguns enlouqueceram.
Bancos e empresas
A Operação Bandeirantes (Oban) era financiada por empresários e o delegado Cláudio Guerra escancara os nomes das empresas e bancos. “Eram dois os bancos que apoiavam nossas operações: o [Banco] Mercantil de São Paulo [S/A] e o Sudameris. No início, financiavam o combate à esquerda armada, mas depois custearam as operações com bombas e os atentados para impedir a redemocratização do país”, revela o policial.
Os policiais e militares recebiam dinheiro dos empresários e banqueiros. “Havia dois tipos de movimentação. A regular, oficial, em que circulava o dinheiro que vinha da atividade como servidor público, seja da polícia ou do Exército; e a extraoficial, que era a remuneração pelas atividades clandestinas que mantínhamos. Nesse caso, recebíamos por codinomes.”
Cláudio Guerra diz que o dono do Mercantil, Gastão Eduardo de Bueno Vidigal, era o “mentor, arrecadador e financiador das operações clandestinas” dos militares e policiais civis. “A maioria dos policiais, inclusive Perdigão, recebia pelo Mercantil. (…) O coronel Perdigão recebia como doutor Flávio; o general Nilton Cerqueira também recebia lá. O Fleury, em São Paulo. (…) Dinheiro nunca faltava.”
O dono da Viação Itapemirim, o capixaba Camilo Cola, “foi um grande apoiador das nossas ações clandestinas. Muito próximo do coronel Perdigão, ele arrecadava recursos entre grandes empresas, como a Gasbrás e a White Martins, e levava em mãos para o coronel”, relata Cláudio Guerra. O delegado revela que mais tarde, com a redemocratização consolidada, o coronel Perdigão mandou matar, a pedido de Camilo Cola, o jornalista José Roberto Jeveaux. Nada tinha a ver com política. Era pistolagem pura.
O bicheiro Ivo Noal “foi um dos que mais arrecadaram para as operações clandestinas do delegado Fleury”. O Mappin, de Alberto e Cosette Alves, também colaborou, segundo Cláudio Guerra, com fundos para a repressão. “No tempo dos militares, eles financiavam as operações do Fleury?”
O agente da CIA
A CIA atuou ao lado dos homens do porão na ditadura? O delegado do Dops Cláudio Guerra diz que pelo menos um agente da CIA, que não torturava nem matava, trabalhou com os militares. Jone Romaguera Trotte, o suposto agente, repassava armas para o policial. “A principal função dele era trazer armamento. Fazia isso para a Polícia Federal, para o SNI, para muitas de nossas operações clandestinas. (…) Tudo com o conhecimento do comandante [Antonio Júlio] Vieira, do coronel [Freddie] Perdigão e do delegado da Polícia Federal Cláudio Barrouin.”
Romaguera Trotte “fornecia também material de escuta, dispositivos que ainda não existiam no Brasil; trazia pessoal preparado para dar treinamento, além de substâncias ilegais. (…) O esquema de entrada de armas no país envolvia alguns pilotos da Varig. Um dos pilotos era irmão de um famoso ator da Rede Globo”.
A conta do agente da CIA era no Banco Itaú. “O pagamento das armas importadas por ele era feito nesse banco.” Jone contou que era cubano naturalizado americano. Era ligado ao coronel Perdigão e, sobretudo, ao delegado Barrouin.
Cláudio Guerra diz que Romaguera Trotte planejou matá-lo, mas o plano furou. Paranoia? É possível. Militares disseram à época do lançamento do livro que o delegado “não estaria bom da cabeça” e que estaria “delirando”. O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra prometeu processá-lo. Por que não aparece na documentação apresentada até hoje e não havia sido rastreado pelos historiadores e jornalistas? Talvez o policial seja a prova de que é possível escarafunchar mais fundo nos e fora dos porões.
Um dos problemas de Cláudio Guerra é que não percebe nada além do coronel Freddie Perdigão e do comandante Antonio Júlio Vieira. Os dois, do seu ponto de vista, parecem general e brigadeiro. Não há uma palavra sobre quem chefiava os dois militares diretamente — o que não sugere que o delegado não era mesmo “estrategista” e não tem informação além da zona de operação em que se envolveu.
O delegado conta que, no porão, Freddie Perdigão apresentava-se como doutor Nagib e doutor Flávio. “O coronel foi um torturador dos mais cruéis, um carrasco que tinha prazer no ofício.” Era um homem sem medo. Comandou, por exemplo, o sequestro do bispo de Nova Iguaçu, dom Adriano Hipólito. O religioso, depois de espancado, foi “abandonado nu, com o corpo pintado de vermelho”. Teve o apoio do comandante Vieira.

“Foi Perdigão quem vislumbrou que a estrutura organizacional do Destacamento de Operações de Informações — Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-Codi, serviria como uma luva para operacionalizar o funcionamento do aparelho de repressão do Estado. (…) Para o DOI-Codi, Perdigão levou também as técnicas aprendidas na Scuderie Le Cocq, com a qual passou a manter estreito relacionamento ilegal”, conta Cláudio Guerra.
O comandante Antônio Vieira é o personagem mais curioso do livro, pois não é mencionado noutras obras, nem mesmo em trabalhos amplos como o de Elio Gaspari. Morreu em 2006, praticamente incógnito. “O comandante Vieira era o contato de Alexandre von Baumgarten na agência do SNI do Rio de Janeiro. (…) O comandante e Perdigão eram os cabeças da comunidade de informações no Rio.”
Vieira era do Cenimar, mas trabalhava com o coronel Perdigão, do Exército. “Todas as agências de informações do Brasil tinham um panfleto do general Golbery, enforcado, para mostrar que ele era traidor. Alguns radicais pensaram em matar o general. Ligado ao Cenimar e ao SNI, o comandante Vieira foi quem teria desenhado esses panfletos. ‘Olha aqui, agora querem matar o safado’, disse a mim o Perdigão, quando me entregou o panfleto, e falou dessa habilidade de desenhista do Vieira. Era ele quem fazia os croquis das operações; e era muito culto.”
Outro chefe do porão, segundo Cláudio Guerra, era o coronel da artilharia Ênio Pimentel da Silveira, o doutor Ney (Borges de Medeiros). “Doutor Ney, coronel Perdigão, delegado Sérgio Fleury e comandante Vieira foram os personagens centrais e principais articuladores dessa trama de repressão criada no submundo da ditadura. (…) Esse [doutor Ney] era carne e unha com Perdigão e Vieira; os dois não faziam nada sem ele. Sempre me pareceu que Perdigão e Vieira eram chefes operacionais. Já o doutor Ney parecia ser um elo entre o SNI, o DOI-Codi e as outras áreas de informação, em Brasília”, diz o delegado. “Dois outros personagens foram decisivos para a vitória dos militares na guerra clandestina: os coronéis Carlos Alberto Brilhante Ustra e Paulo Manhães.” O doutor Ney era chamado de “irmão do Fleury”, tal a ligação dos dois.
Agente goiana
Segundo Cláudio Guerra, foi o doutor Ney quem “planejou a emboscada ao grupo dirigente da Ação Libertadora Nacional”, em 1972, que matou Iuri Xavier Pereira, Ana Maria Nacinovic e Marcos Nonato da Fonseca. Antônio Carlos Bicalho Lana escapou, mas foi morto um ano depois numa operação coordenada pelo doutor Ney e por Freddie Perdigão. O coronel-aviador Juarez de Deus Gomes da Silva é apontado, pelo delegado Cláudio Guerra, como outro chefe do porão. O militar contesta. Ele era ligado ao ministro da Justiça do governo Geisel, Armando Falcão. “A maior parte do material explosivo da bomba que atingiu o ‘Estadão’ foi ele quem me entregou”, afirma o delegado. Para jogar a bomba no jornal da família Mesquita, Cláudio Guerra contou com a agente Tânia, apontada como da polícia de Goiás.
O coronel do Exército Paulo Manhães, o doutor Pablo, chefiou o SNI no Rio de Janeiro e teria sido o militar que comandou “o extermínio” dos quadros do Partido Comunista Brasileiro em todo o país. Cláudio Guerra o apresenta como chefe do coronel Freddie Perdigão, mas acrescenta que este militar enviava seus relatórios diretamente para Brasília. Apontado como “o mais sádico dos torturadores”, Paulo Manhães combateu a Guerrilha do Araguaia.
O procurador da República Geraldo Abreu, radicado no Espírito Santo, teria dado apoio à ditadura. O delegado Cláudio Guerra garante que Abreu “recebia armas encaminhadas por um agente da CIA no mesmo escritório onde foi cooptado para a guerra suja e clandestina contra a esquerda”. O policial sustenta que “algumas procuradorias federais nos Estados fizeram parte da comunidade de informações. Os gabinetes das procuradorias davam suporte ao SNI quando a capital de um Estado não tinha sede própria do órgão”.