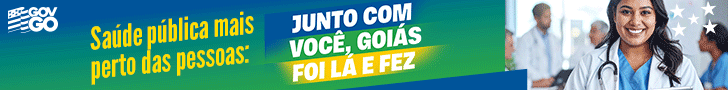“Green Book: O Guia” é um daqueles títulos que parecem, à primeira vista, obedecer a um rádio interno que insiste em suavizar tudo o que é complexo, como se o cinema precisasse sempre envolver o espectador em algodão e mantê-lo protegido de desconfortos maiores. No entanto, o que acontece aqui é menos uma tentativa de adocicar conflitos históricos e mais um experimento curioso de aproximação entre duas subjetividades que, em qualquer outra conjuntura, jamais se tocariam. O interesse real está nesse lugar de atrito, nesse pequeno território em que Donald Shirley (Mahershala Ali) um pianista negro, cosmopolita, disciplinado e consciente de sua singularidade, acaba orbitando ao lado de Tony Lip (Viggo Mortensen) um segurança ítalo-americano que se comunica a partir do improviso, da truculência bem-humorada e de um repertório social limitado. O que poderia ser apenas uma narrativa de convivência forçada se desloca para algo mais sutil: uma coreografia afetiva construída dentro de um país que insiste em produzir amnésia enquanto maquilha seu passado com verniz patriótico.
O que me chama atenção é como o filme estrutura essa proximidade sem recorrer a grandes épicos morais ou discursos pretensamente transformadores. Há um interesse constante em revelar pequenos deslocamentos, aqueles que surgem quando alguém se vê obrigado a olhar o outro de forma minimamente honesta. Essa honestidade não nasce da admiração imediata, mas de um constrangimento progressivo diante de comportamentos que já não parecem tão justificáveis assim. Lip percebe que a violência simbólica que assiste não é uma exceção distante, mas uma engrenagem cotidiana que pode alcançar qualquer pessoa fora da cartilha branca que ordena quem deve se encaixar e quem deve ser lembrado de seu lugar. Esse desconforto, que primeiro aparece como fricção, funciona como uma espécie de abertura na carapaça cultural do personagem. E nessa abertura, o pianista instala algo que não é didatismo, tampouco superioridade, mas uma espécie de espelho: um reflexo que devolve ao motorista suas contradições mais íntimas.
Enquanto isso, Shirley se mantém naquele lugar de controle quase ritualístico que, paradoxalmente, é o que mais o fragiliza. Quanto mais ele tenta lapidar a própria imagem, mais evidente fica o isolamento que o engole por dentro. A sofisticação que carrega como segunda pele não lhe oferece abrigo real; ao contrário, o mantém preso em um pedestal que ninguém pediu para ser erguido. E é justamente na convivência com alguém tão distante de seu universo intelectual que ele se permite reconhecer o cansaço de performar perfeição para sobreviver. Esse desgaste fica evidente nos momentos em que a música, que deveria libertá-lo, torna-se instrumento de confinamento. Cada plateia branca que o aplaude enquanto o segrega reafirma que seu talento só é bem-vindo quando não perturba a ordem das coisas. O motorista é o primeiro a enxergar esse paradoxo em vez de aceitá-lo como um simples costume regional.
O filme se movimenta como se costurasse duas solidões distintas. Uma nasce da rigidez de quem aprendeu a controlar cada gesto para não ser engolido pela hostilidade. A outra vem da brutalidade meio desajeitada de quem nunca se viu incentivado a pensar sobre si mesmo. A convivência gera um eixo improvável: o pianista precisa de alguém que o lembre do direito básico de ser vulnerável; o motorista precisa de alguém que o confronte com a pequenez de seus preconceitos. Essa troca não é sentimentalismo de manual, mas uma negociação contínua, cheia de falhas, tropeços e silêncios que pesam mais do que muitos discursos inflamados sobre igualdade. E é por isso que a narrativa ganha força. Ela aposta no detalhe, na microtransformação, naquilo que só se percebe quando se abandona a necessidade de grandes iluminações.
Essa interação revela uma faceta pouco discutida: a transformação não nasce da culpa, mas do reconhecimento de que a ignorância, quando aceita como hábito, opera como uma forma lenta de autodestruição. Lip descobre esse mecanismo quase por acidente, ao testemunhar situações que contradizem tudo o que repetiu durante a vida inteira. Ele não passa por uma epifania relâmpago. Em vez disso, experimenta um processo gradual de reorganização interna que o arranca de seu estado de conformidade. O filme, nesse ponto, encontra um equilíbrio difícil: não absolve a brancura de suas responsabilidades históricas, mas investiga como certas mentalidades se sustentam pela inércia e pelo medo de revisitar a própria formação. É nesse terreno que a narrativa torna-se politicamente interessante, porque recusa o conforto da sentimentalidade redentora e aposta em algo mais humano: a possibilidade de alguém desarmar o próprio condicionamento sem necessidade de se tornar herói.
Outro aspecto fascinante é como a viagem pelo sul dos Estados Unidos se transforma em uma espécie de mapa emocional. Cada hotel, cada restaurante, cada plateia funciona como um termômetro de tensões raciais que continuam latejando no presente, por mais que se insista em tratá-las como vestígios de um passado distante. O país chamado de Estados Unidos da Amnésia não esquece por acidente; esquece porque lhe convém. E o filme, ao expor a brutalidade que se perpetua por meio da cordialidade hipócrita, acaba por desmontar essa fantasia de progresso contínuo. As comunidades que se vendem como hospitaleiras revelam seu verdadeiro rosto quando confrontadas com qualquer desvio da norma branca. Essa fissura civilizatória aparece com clareza não por meio de grandes cenas de violência, mas na naturalidade com que o preconceito é administrado como rotina de serviço, como se obedecesse a um manual de etiqueta social que todos conhecem, mas fingem não ter escrito.
Um dos momentos mais decisivos é aquele em que a relação entre os dois protagonistas se reconfigura após um incidente que expõe o pianista de forma profunda. A partir desse ponto, a distância entre eles deixa de ser apenas cultural e passa a ser também moral. O motorista, que até então funcionava como proteção física, precisa lidar com a vulnerabilidade que testemunha. E essa vulnerabilidade opera como chave de inversão: o pianista, antes visto como impecável, revela um esgotamento emocional que não se alinha ao ideal de genialidade que o cerca. O motorista, por sua vez, começa a assumir um tipo de responsabilidade que vai além da segurança. Ele precisa, pela primeira vez, ocupar um lugar ético real, e esse deslocamento obriga ambos a encarar suas próprias inconsistências.
Esse deslocamento, somado ao ritmo quase confidencial das conversas que travam pelo caminho, constrói uma intimidade que nada tem a ver com amizade idealizada. Trata-se de convivência lapidada pelo desgaste, pela convivência prolongada, pelas pequenas irritações que abrem espaço para revelações que ninguém gostaria de admitir. É nesse tipo de aproximação imperfeita que a narrativa encontra seu ponto mais forte. Ela recorda que nenhum vínculo significativo nasce sem atritos, e que frequentemente é o desconforto que produz alguma espécie de lucidez. A viagem é longa o suficiente para que um passe a enxergar o outro sem as caricaturas que carregava no início. Não há fusão simbólica, não há anulação das diferenças. Há, sim, um pacto tácito de reconhecimento que brota em ritmo próprio.
Quando enfim retornam ao ponto de partida, o espectador percebe que algo se deslocou sem alarde. Não se trata de redenção nem de superação, mas de uma reordenação delicada das fronteiras internas que sustentam cada personagem. O motorista já não consegue acomodar suas antigas convicções com a mesma tranquilidade; o pianista encontra fissuras em seu isolamento que, pela primeira vez, não o aterrorizam. A narrativa conclui esse percurso sem levantar bandeiras triunfalistas. Prefere sugerir que a mudança humana é menos um destino e mais um exercício contínuo, marcado por hesitações, recaídas e lampejos de percepção que se perdem se não forem nutridos. Essa ambiguidade, tão pouco explorada em debates apressados sobre o filme, é justamente o que o mantém pulsante. E talvez o que exista de mais provocador nessa experiência seja perceber que, em um país empenhado em esquecer o que o constitui, dois homens tão diferentes aprenderam a lembrar um do outro de formas que jamais haviam imaginado.
★★★★★★★★★★