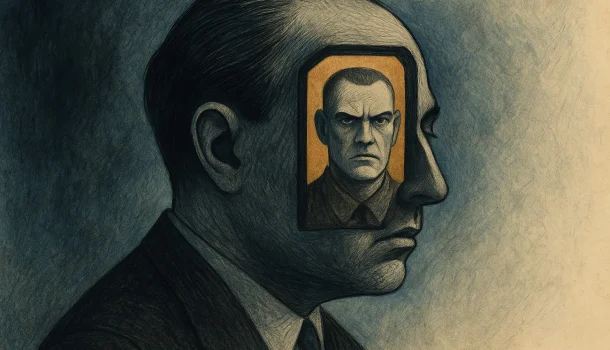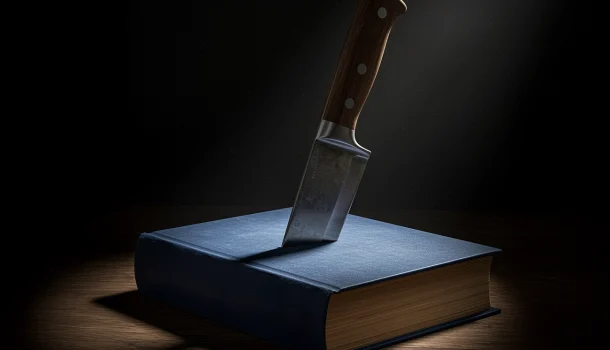Quando Theodor W. Adorno desembarcou nos Estados Unidos, fugindo da Alemanha nazista, carregava mais do que malas e manuscritos. Trazia uma obsessão intelectual que o acompanharia por toda a vida: entender como um país culto, moderno, impregnado de filosofia e música, havia se rendido tão facilmente ao fascismo. Aquilo que para muitos soava como uma pergunta filosófica abstrata, para ele era uma espécie de urgência clínica. Adorno queria encontrar, no indivíduo comum, as raízes emocionais e temperamentais que permitiam que uma sociedade inteira se curvasse diante de um líder autoritário.
A Segunda Guerra havia terminado, Hitler estava morto, as ruínas da Europa começavam a esfriar. Para Adorno e para um grupo de jovens pesquisadores da Universidade da Califórnia em Berkeley, porém, a sensação era outra. O fascismo não lhes parecia enterrado com os escombros de Berlim. Talvez tivesse perdido seu exército e suas bandeiras, mas não a matéria-prima: uma predisposição emocional espalhada e difícil de nomear, que podia reaparecer sob novas formas. Foi desse incômodo que nasceu “The Authoritarian Personality”, publicado em 1950, e dentro dele o instrumento que se tornaria o legado empírico mais conhecido e mais contestado de Adorno, a Escala F, o chamado teste do fascismo.
A proposta era ousada para um mundo ainda traumatizado. Em vez de procurar fascistas apenas em discursos inflamados e em organizações declaradamente extremistas, o grupo decidiu procurá-los por dentro. Não nas grandes declarações políticas, mas nas crenças íntimas sobre disciplina, família, obediência, ordem, sexualidade e destino. A Escala F se apoiava na ideia de que o autoritarismo não brota apenas de ideologias explícitas, mas também de pequenos reflexos cotidianos, frases repetidas sem muita atenção, convicções herdadas de pais e avós. Se fosse possível identificar esse terreno psicológico antes que fosse ocupado por um projeto político, talvez se pudesse reconhecer mais cedo o perigo.
As afirmações reunidas pelo grupo pareciam, à primeira vista, simples, às vezes quase banais. “Obediência e respeito à autoridade são as virtudes mais importantes que as crianças devem aprender.” “Uma ofensa à nossa honra deve sempre ser punida.” “O país precisa menos de leis e mais de líderes fortes em quem o povo possa depositar fé total.” Lidas em sequência, funcionavam como um sismógrafo moral. Quem reagia com concordância ampla demais revelava fissuras que, em outro contexto histórico, poderiam servir de corredor de passagem para regimes autoritários.
Parte da força do teste estava justamente nessa ambição de transformar em números uma angústia que, até então, tinha se expressado sobretudo em literatura, cinema e filosofia. A mesma ambição também expunha suas fragilidades. A partir dos anos 1970, psicólogos começaram a apontar falhas metodológicas. O questionário exigia que o respondente mantivesse quase sempre o mesmo padrão, concordar ou discordar, sem oferecer contrapesos que reduzissem o que pesquisadores chamam de estilo aquiescente, a tendência de algumas pessoas a concordar com afirmações por hábito, sem grande exame. Críticos também argumentaram que o teste confundia conservadorismo rígido com autoritarismo e deixava de fora manifestações autoritárias ligadas a outras correntes ideológicas.
Ainda assim, a Escala F nunca desapareceu do debate público. De tempos em tempos, reaparece em reportagens, livros e sites de cultura. Em 2022, o site “OpenCulture” voltou a publicar a escala, em uma versão comentada, e o texto circulou por redes sociais, fóruns acadêmicos e espaços de militância, reacendendo discussões sobre autoritarismo cotidiano. Na mesma década, a “Ars Technica” revisitou a história da pesquisa de Berkeley e lembrou que se tratava de uma tentativa, então inovadora, de responder ao fascismo com ferramentas empíricas, enquanto o “Gizmodo” sugeriu que o questionário fosse encarado menos como exame clínico e mais como exercício de introspecção, um espelho incômodo erguido diante de quem se dispõe a respondê-lo.
O renascimento periódico desse teste diz algo sobre o presente. Democracias que se julgavam consolidadas passaram a conviver com líderes que flertam com a linguagem da força, com fantasias de pureza nacional e com promessas de ordem imediata, sem mediação institucional. A desinformação se espalha por canais múltiplos, confundindo fronteiras entre notícia e boato. A nostalgia por hierarquias rígidas e por fronteiras morais nítidas reaparece em conversas de família, em campanhas eleitorais, em discursos oficiais. Nesse ambiente, a Escala F volta à cena como um instrumento quase arqueológico. Embora envelhecida, ajuda a escavar zonas cinzentas entre frustração e violência simbólica, entre desconfiança difusa e ódio declarado, entre insegurança e obediência cega.
A lógica das redes sociais adiciona outra camada a essa redescoberta. Estudos de centros de pesquisa em tecnologia e política mostram que ambientes de recomendação algorítmica tendem a reforçar posições extremadas, alimentando bolhas em que desconfiança da ciência, celebração de líderes infalíveis e teorias conspiratórias circulam sem freio. A Escala F, mesmo ultrapassada, oferece um mapa rudimentar dos impulsos que podem se acomodar nesses espaços. Não descreve em detalhe como essas forças se articulam politicamente em cada país, mas aponta para o tipo de sensibilidade em que elas encontram abrigo.
Há também algo de literário na experiência de responder ao teste. Muitas das afirmações parecem saídas de conversas de almoço de domingo, de discussões no escritório, de comentários lançados com descuido em redes sociais. Lidas isoladamente, podem soar apenas conservadoras, apenas exageradas, apenas senso comum. Lidas em conjunto, revelam uma disposição mais ampla: a crença em líderes que resolveriam tudo se tivessem mãos livres, a ideia de que o sofrimento é condição necessária para qualquer aprendizado importante, o desconforto diante de diferenças de comportamento, a irritação com quem se afasta da norma. O questionário convida, silenciosamente, a identificar esses pontos dentro de cada um.
Essa talvez seja a razão pela qual, mesmo com todas as críticas, a Escala F continua a incomodar. Ela lembra que o autoritarismo raramente se anuncia de forma estrondosa no início. Não chega de imediato com botas, marchas e bandeiras. Começa antes, nas frases que aceitamos sem exame, nos elogios fáceis à disciplina absoluta, na disposição de trocar o próprio julgamento por uma promessa de segurança. Adorno sabia que nenhum teste impediria sozinho o surgimento de um novo regime autoritário. Acreditava, no entanto, que reconhecer os germes psicológicos que precedem esse tipo de regime poderia ajudar sociedades inteiras a perceber o momento em que começam a abrir mão de sua própria autonomia.
Responder à Escala F hoje não determina o futuro político de ninguém. Mas revela, com um desconforto às vezes inesperado, quais portas internas ficam entreabertas quando a democracia se fragiliza e o medo se torna rotina. É nesse ponto, onde convicções íntimas encontram pressões externas, que a velha inquietação de Adorno continua atual. Em épocas em que vozes que prometem ordem falam cada vez mais alto, o teste que ele ajudou a construir lembra que o primeiro terreno a ser disputado não é o da praça pública, e sim o das certezas silenciosas que cada um leva consigo.
O teste original está disponível on-line. Leitores podem consultá-lo integralmente aqui.