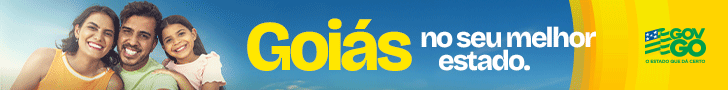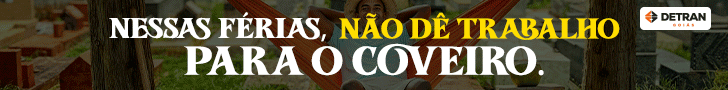A abertura apresenta uma mãe exausta, assistente social, inserida em um sistema que confia em procedimentos para reduzir riscos imediatos. Só depois o texto confirma que a história em exame é “A Maldição da Chorona”. Anna Tate-Garcia precisa avaliar Patricia Alvarez, que mantém os filhos trancados por acreditar que uma mulher vestida de branco os chama e os quer levar. O primeiro objetivo de Anna é cumprir o protocolo e garantir segurança às crianças afastando-as de uma possível agressora. O obstáculo inicial é a crença de Patricia em um perigo invisível, sem valor probatório no formulário. Quando Anna decide remover os meninos, a cadeia causal se instala: a retirada abre a oportunidade para que, naquela mesma noite, a entidade ataque. O resultado são duas mortes no rio. Patricia, devastada, acusa Anna e deseja que a mesma dor alcance sua casa, o que desloca o conflito para o núcleo familiar da protagonista.
Dessa decisão nasce a segunda etapa do enredo. Chris e Samantha, filhos de Anna, passam a receber visitas da figura chorosa. O objetivo da mãe muda de cumprir normas para impedir que os filhos sejam levados. O primeiro obstáculo agora é a descrença institucional. No encontro com o padre, ela ouve cautela e limites. A cena informa o espectador sobre a existência de um curandeiro capaz de aconselhar casos semelhantes, deslocando a ação para uma combinação de fé popular e pragmatismo doméstico. A entrada de Rafael tem função dramática precisa: propor regras testáveis que alteram o comportamento da entidade, como água abençoada e objetos de madeira específica. Esses elementos não aparecem como enfeite folclórico; cada um modifica o ponto de vista e o ritmo das investidas. O roteiro exige que Anna suspenda a confiança exclusiva nos procedimentos e experimente táticas que retardam a agressora. A montagem acelera com idas e vindas, e cada invasão noturna cobra preço emocional visível na hesitação das crianças, que oscilam entre obedecer e quebrar regras por curiosidade.
A terceira virada vem do luto de Patricia. Dominada pela culpa, ela invade a casa de Anna e interfere nas barreiras de proteção em nome de uma justiça íntima. O gesto produz efeito direto: a fronteira simbólica que Rafael havia definido se rompe e a entidade alcança as crianças com maior força. O filme amarra causa e efeito sem atalho. Uma mãe ferida julga outra mãe e, ao fazê-lo, aproxima o perigo. A escolha da direção evita transformar Patricia em vilã simples, porque seu gesto nasce da perda dos filhos, que o próprio sistema não impediu. O conflito entre as duas não corre paralelo ao terror, alimenta o terror.
No núcleo doméstico, as crianças têm objetivos concretos, sobreviver e ajudar a mãe. Em uma cena decisiva, Chris responde ao chamado choroso acreditando negociar a segurança da irmã. O diálogo curto, “sou eu quem você quer?”, indica a ingenuidade que a entidade explora. A ameaça se fortalece quando os personagens se dispersam, e a encenação realça isso ao posicionar a câmera na altura do olhar infantil durante perseguições. Essa decisão visual muda o foco da informação, limita o campo de visão e explica ações apressadas, como abrir portas erradas ou derrubar proteção. Quando o ponto de vista retorna para Anna, o enquadramento amplia o espaço e a cena muda de disposição, permitindo leitura mais clara dos sinais da próxima investida, como marcas deixadas na pele.
A presença de Rafael atua como mediação entre mundos. Seus diálogos são econômicos e delimitam regras de jogo, como preservar símbolos intactos e resistir até o amanhecer. Cada regra quebrada gera uma consequência mensurável. Quando a água abençoada fica escassa, a entidade ajusta o ataque e procura brechas na casa. Quando a madeira do rio, moldada em cruz, toca o corpo da assombração, há recuo imediato, informação que reorienta a estratégia. Esse traçado lógico evita soluções externas. Ninguém aparece com um artefato salvador de última hora. As armas existem porque os personagens decidem escutar, preparar e aplicar sob pressão, e o filme mostra o aprendizado acontecendo em cena.
A montagem repete espaços da casa com variações, escada, corredor, banheiro, cada um testado pela agressora e reconfigurado pelos defensores. O efeito sobre o ritmo é calculado para sustentar a escalada do conflito. Elipses curtas entre sustos e preparações mantêm a noite como unidade de tempo, reforçando a sensação de cerco. O trabalho de som orienta decisões: quando o choro distante diminui de repente, a percepção de proximidade muda e obriga reposicionamento de corpos e objetos. Em momentos de silêncio, a falta de barulho guiado deixa respirar e ouvir pequenos estalos, o que justifica hesitações diante de portas e explica a escolha por recuar. O som, portanto, informa deslocamentos de ameaça e pauta a próxima ação, não apenas acompanha o medo.
A atuação de Patricia Velásquez, contida e ferida, altera a leitura do perigo, porque sua personagem oscila entre defesa paranoica e arrependimento sincero. Cada mudança dela modifica a margem de risco para Anna. Raymond Cruz dá a Rafael uma seriedade que impede que seus rituais virem truques. Essa contenção muda o sentido dramático porque transforma crença em procedimento observável dentro da lógica do filme. O espectador vê, sequência a sequência, que certos gestos atrasam a entidade e outros a enfraquecem, o que sustenta o avanço até o confronto final. Linda Cardellini conduz Anna da autoconfiança institucional à humildade prática, movimento coerente com a cadeia de perdas e aprendizados que a personagem enfrenta.
Quando o colar ligado à história da figura chorosa reaparece em cena, ele enfraquece a antagonista por instantes, permitindo que Anna use a madeira adequada e conclua a defesa. Importa a sequência causal: a possibilidade desse golpe final nasce das tentativas anteriores, dos erros corrigidos e da observação das reações do inimigo. As crianças, antes reativas, executam tarefas que sustentam a mãe, e a casa, que começou como cenário de medo, vira espaço de coordenação afetiva e tática. O amanhecer não apaga o trauma, mas recompõe a vida de Anna e dos filhos em novos termos, baseados em escuta e vigilância compartilhada.
Se há lacunas, estão na rapidez com que a instituição se retira do enredo depois da tragédia inicial. O filme prefere concentrar a tensão na esfera doméstica e, com isso, reduz a discussão sobre responsabilidades públicas. Em termos de coerência interna, porém, a concentração fortalece o vínculo materno e evidencia como decisões dentro da casa, obedecer a regras de proteção ou abrir uma janela por curiosidade, definem a proximidade da ameaça. O conjunto se sustenta porque cada escolha produz reação concreta, e a direção mantém a progressão do conflito sem atalhos explicativos. “A Maldição da Chorona” assume que, diante do medo, famílias precisam escolher quem ouvir e que normas seguir. Cada decisão altera a noite seguinte, e é nessa pedagogia de causa e efeito que a narrativa se firma.
★★★★★★★★★★