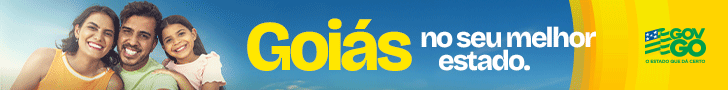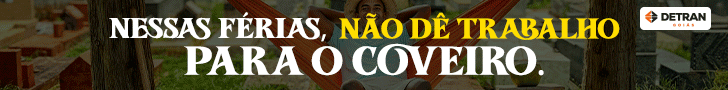O faroeste é um dos gêneros mais apaixonantes do cinema. Ele não apenas consolidou a linguagem cinematográfica, como também ajudou a moldar a identidade cultural do cinema americano, projetando-se como um símbolo de aventura, conflito e transformação social. Ao longo de décadas, o faroeste foi capaz de reinventar-se, acompanhando transformações políticas e estéticas, tornando-se referência obrigatória para qualquer estudo sobre a evolução da narrativa cinematográfica. Desde o início do século 20, produções de doze minutos como “O Grande Roubo do Trem” (1903), de Edwin S. Porter (1840-1941), quase artesanal numa era de tecnologia copiosa, estabeleceram o western como uma das formas mais autênticas de se fazer um filme. A simplicidade do enredo — um assalto a trem seguido por perseguições e tiroteios sem fim — já trazia os elementos que seriam a marca registrada dessas histórias: o confronto entre a lei e o crime, a paisagem materializando a ideia de uma existência difícil e o herói que, esperava-se, recomporia a ordem em meio ao caos. O pioneirismo do diretor abriu os olhos de cineastas e do público para quanta diferença podem fazer detalhes como a edição, capaz de definir o ritmo do que é contado.
Durante as décadas de 1930 e 1940, o faroeste foi o gênero mais popular de Hollywood. Obras como “No Tempo das Diligências” (1939), de John Ford (1894-1973), elevaram o western a um padrão inédito de sofisticação artística com seus personagens complexos e dilemas morais que iam além do que se podia ver. Nesse período, o faroeste deixou de ser apenas entretenimento e passou a ser uma metáfora do processo de invenção do povo americano, com a conquista do território, embates contra o “desconhecido” e a luta entre progresso e barbárie. A amplitude dos cenários do Oeste, com seus desertos e montanhas, também virou um personagem, simbolizando o perigo diante da urgência de ser livre. O valor do faroeste também está no seu papel como laboratório estético. Foi a partir dele que diretores desenvolveram técnicas de enquadramento, profundidade de campo e uso da panorâmica, recursos que seriam assimilados por outros gêneros. Howard Hawks (1896-1977) e Anthony Mann (1906-1967) exploraram a composição visual de maneira sublime, transformando o western em um gênero de estudo obrigatório para quem chegou depois. A simetria entre tempo e espaço, assim como o uso das cores no tecnicolor em filmes como “Paixão dos Fortes” (1946), de Ford, ajudaram a alargar as possibilidades de expressão do cinema.
Mesmo com a perda de popularidade, o faroeste nunca desapareceu. Ele manteve-se vivo em releituras modernas, a exemplo de “Os Imperdoáveis” (1992), de Clint Eastwood, que revisitou o mito do pistoleiro sob uma ótica mais soturna e realista. Filmes contemporâneos, como “O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford” (2007), levado à tela por Andrew Dominik, ou “Ataque dos Cães” (2021), de Jane Campion, vencedora do Oscar de Melhor Direção, mostram como o gênero continua a ser relevante para debater assuntos como violência, masculinidade tóxica e a perene fragilidade do indivíduo. Ademais, o western influenciou indiretamente a ficção científica — basta lembrar que a franquia “Star Wars” nada mais é que um faroeste nas estrelas, com duelos, caçadores de recompensas e fronteiras a serem conquistadas. Sua importância para o cinema está na louvável capacidade de unir tradição e arrojo. Mais do que um gênero, o western é uma lente por meio da qual o cinema ilumina questões universais de poder, justiça, vingança e busca por identidade. A seleção que fizemos mescla os grandes sucessos do faroeste em épocas distintas. Figuram neste brevíssimo compêndio, além de “No Tempo das Diligências” e “Os Imperdoáveis, mais oito títulos, com destaque para John Ford, que assina outros dois longas. Lembranças de um cinema talvez mais bruto, porém decerto muito mais autêntico.

O western antes do western. Essa poderia ser uma definição um tanto reducionista de “O Regresso”, que proporcionou a Leonardo DiCaprio o grande papel de sua carreira, ainda não superado — pelo qual também recebeu o Oscar de Melhor Ator. “O Regresso” expõe parte das chagas de um país feito de sangue, de caçadores, de mercenários, de índios, de homens infaustos que se deixavam iludir pelas promessas de algum dinheiro, mediante muito sacrifício, muita renúncia e muita humilhação. Um dos filmes que melhor disserta sobre os infortúnios dos primeiros ianques é dirigido por um mexicano — outra das tantas ironias que o cinema nos prega. Alejandro González-Iñárritu enxergou na narrativa, adaptada do romance de Michael Punke, publicado em 2002 e nunca lançado no Brasil, a possibilidade de falar dos Estados Unidos como poucos o conhecem. El Negro, como o chamam em Hollywood, conduz a trama a partir da biografia de Hugh Glass, um caçador que sobrevive à ofensiva de uma ursa parda que defendia seus filhotes, é dado como morto, abandonado, sepultado vivo, mas volta do inferno, sedento por vingança. González-Iñárritu e sua equipe se debruçaram sobre a vida muito particular de Glass por cerca de um ano, filmando em locações no Canadá e privilegiando o emprego da luz natural, um dos grandes trunfos da produção e mérito de Emmanuel Lubezki, ganhador do Oscar de Melhor Fotografia por “Gravidade” (2013), em 2014, “Birdman” (2014), em 2015, e, claro, “O Regresso”, em 2016, o único a conseguir uma estatueta na categoria por três edições consecutivas.
 Divulgação / Warner Bros.
Divulgação / Warner Bros.Cada grão de areia, cada folha de cacto, cada escarpa de rocha guarda um pouco dos episódios inescapavelmente conflituosos protagonizados pelos vaqueiros americanos no transcurso de 250 anos, harmonizados aos trancos e barrancos à custa de sangue, suor, lágrimas e o aço dos revólveres, sempre em defesa da liberdade — sobretudo a sua própria. Mesmo a Constituição dos Estados Unidos inspira-se nesse arrojo dos caubóis, malgrado esse conceito, por natureza tão ambíguo, perca-se e degenere muitas vezes em justificativa para a intolerância, o ódio e o derramamento de sangue. O império da lei era ainda um cenário distante em 1880, quando se desenrola a história de “Os Imperdoáveis”; homens corretos, bandidos e meretrizes encontravam uma maneira qualquer para conviver em harmonia, e desses acordos tácitos nasciam relações que, não raro, sobrepujavam a morte. Ninguém melhor que Clint Eastwood para transcrever para o cinema, com a exatidão necessária, muito do que acontecia naqueles tempos obscuros. Alma do faroeste — e do próprio cinema americano pós-moderno — por excelência, Eastwood põe no chinelo muito antimocinho e quase todos os super-heróis que certos estúdios empurram goela do público abaixo, sem que este sequer pigarreie. O que se vê em “Os Imperdoáveis” é mais um dos tantos shows de interpretação de um ator começando a envelhecer, mas ainda no auge da potência física e da maturidade no ofício que escolheu, talvez o único em muitos anos a reunir essas duas qualidades fundamentais em seu ofício por quase setenta anos agora, e contando. Aqui, Eastwood dá uma de suas tantas provas quanto à dificuldade de se pregar rótulos em quem quer que seja, tanto mais se o objeto em questão forem brucutus de século e meio atrás.
 Divulgação / Malpaso Productions
Divulgação / Malpaso ProductionsÉ claro que não se pode tomar o que acontecia nos Estados Unidos entre os séculos 18 e 19 à luz do politicamente correto — nem mesmo nas então metrópoles e hoje megalópoles Nova Amsterdã, rebatizada de Nova York, e Fort Dearborn, a não menos glamorosa Chicago de nossos dias —, e essa é a regra de ouro dos westerns. Revirando os segredos entre envergonhados e preciosos desse país fascinantes e do povo inspirador e que o fundou e o habita, John Sturges (1910-1992) eleva “Joe Kidd” à categoria de um tratado sociológico bastante sui generis e completamente desabotoado do dia a dia no vila de Sinola, perdida num recanto qualquer nas imediações com o México. Sturges aproveita bem os ventos de liberdade que sopravam naquele distante 1972 para carregar nas tintas do discurso ufanista, empregando para a tarefa a mais americana das celebridades de Hollywood — e uma das mais talentosas. O que se vê em “Joe Kidd” é mais um dos tantos shows de interpretação de um ator no auge da potência física e da maturidade artística, talvez o único em muitos anos a reunir essas duas qualidades fundamentais em seu ofício por mais de meio século.
 Divulgação / Warner Bros.
Divulgação / Warner Bros.O que mais salta aos olhos em “Meu Ódio Será Sua Herança” é a ausência de cercas e muralhas na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Assim mesmo, a falta de grandes novidades no filme de Sam Peckinpah (1925-1984) não empana o brilho do cineasta, um dos mais prolíficos da velha Hollywood, e neste, o diretor sabe muito bem o que deve fazer para manter o interesse do público. Peckinpah lida com limitações parecidas com as de mestres do gabarito do John Schlesinger (1926-2003) de “Perdidos na Noite” (1969) ou do John Huston (1906-1987) de “O Tesouro de Sierra Madre” (1948) no gênero inaugurado por Edwin S. Porter (1870-1941) com “O Grande Roubo do Trem” (1903), mas se sai galhardamente, seguro ao conduzir seu longa pela espiral de reviravoltas algo grandiloquentes que encantam a audiência. O diretor e o corroteirista Roy N. Sickner (1928-2001) absorvem do texto de Walon Green a natureza dos anti-herói no tempo das diligências, retratando com fidedignidade o caos de uma terra sem lei.
 Divulgação / Paramount Pictures
Divulgação / Paramount PicturesQuanto mais o tempo passa, mais se tem clara a superioridade artística de Sergio Leone (1929-1989). O diretor soube como poucos tirar poesia da árida vastidão mórbida do Velho Oeste e seus sujeitos coléricos flagelados por dilemas morais de dificílima solução, amores feitos de barreiras físicas e dos obstáculos impostos pelos costumes, homens poderosos que não hesitam em atropelar a frágil lei daqueles territórios para ter um punhado de dólares a mais. “Era uma Vez no Oeste” é decerto o trabalho no qual Leone melhor aliou a tensão dramática ao deslizar melífluo das horas nos confins da América dos anos 1870. Com calma, sem nenhuma pressa, vão despontando os tantos conflitos de que o diretor quer falar através do roteiro assinado com os grandes Dario Argento e Sergio Donati (1933-2024). Leone dispõe de todos os recursos que pode para conferir beleza a suas histórias, e aqui, a trilha sonora de Ennio Morricone (1928-2020) pontua momentos de violência iminente e respiros cômicos ou quase românticos de modo a criar a atmosfera ideal para que o espectador urda conclusões adequadas ou tolas sobre o que vem a seguir. Juras de morte, terras sem dono, pistolas cuspindo chumbo, trens abarrotados de forasteiros à cata de seu quinhão de ouro, adultérios, planos de vingança: “Era uma Vez no Oeste” entra em cada um desses tópicos para uni-los na virada do primeiro para o segundo ato, quando a audiência já se deleita com a condução caótica e cheia de método, típica de Leone, com a qual ele trata de esticar a corda o quanto pode e destrinchar o fio narrativo, mas só até certo limite.
 Divulgação / MGM
Divulgação / MGMA grandeza de Sergio Leone (1929-1989) atravessa o tempo sem cerimônia. Copiado até hoje (e cada vez mais), o diretor sabia como poucos traduzir a vastidão poeirenta e mórbida do Velho Oeste em dilemas morais quase insolúveis, centrados em sujeitos coléricos, e nenhum outro de seus excelentes trabalhos captou com tanta fineza de espírito a dura vida daqueles homens tortos como “Três Homens em Conflito”. O cenário agiganta-se ao passo que os personagens parecem menores tomada após tomada, graças à preferência de Leone por enquadramentos grandiloquentes, uma sua marca bastante conhecida, sensação que torna-se mais nítida diante do silêncio incômodo de algumas cenas, tudo milimetricamente urdido como uma maneira nada óbvia de questionar a liberdade de que eles julgavam usufruir.
 Divulgação / Paramount Pictures.
Divulgação / Paramount Pictures.Ao articular mito, política e memória, “O Homem que Matou o Facínora” é um dos faroestes mais reflexivos da história do cinema. John Ford estrutura seu filme em torno de um relato retrospectivo, quando o senador Ransom Stoddard (James Stewart) retorna ao vilarejo de Shinbone para o enterro de Tom Doniphon (John Wayne). A partir daí, Ford constrói uma narrativa marcada pela tensão entre lenda e verdade histórica. O título já sugere a ambiguidade central: quem realmente matou Liberty Valance (Lee Marvin) e quem, de fato, se tornou herói. Stoddard, símbolo da civilização, da lei e da educação, ascende ao poder político graças ao mito de que teria eliminado o bandido; já Doniphon, o homem rústico do Oeste, responsável pelo verdadeiro feito, permanece relegado ao esquecimento. Ford problematiza a própria tradição do faroeste, desmontando o heroísmo individualista e mostrando como a história dos Estados Unidos foi construída por narrativas convenientes. A célebre frase — “entre a lenda e o fato, imprima-se a lenda” — sintetiza a crítica do diretor à manipulação simbólica. Esteticamente, o uso do preto e branco confere peso trágico e elegíaco, distanciando-se do espetáculo dos faroestes coloridos da época. Mais do que um duelo, o filme trata do fim de uma era: a transição do Oeste selvagem para a ordem institucionalizada. John Wayne representa o sacrifício silencioso de quem abre caminho para a modernidade, mas sem lugar nela. Já Stewart encarna o político que colhe os frutos do mito, ainda que preso a uma culpa silenciosa. Ford, em tom crepuscular, revela que as bases da democracia americana não foram erguidas apenas na verdade, mas também em histórias cuidadosamente moldadas. Assim, o filme é ao mesmo tempo homenagem e desconstrução do faroeste clássico, permanecendo uma obra fundamental sobre memória, poder e identidade nacional.
 Divulgação / C.V. Whitney Pictures
Divulgação / C.V. Whitney Pictures“Rastros de Ódio” é amplamente considerado o faroeste mais complexo e sombrio de John Ford, desconstruindo o mito heroico do gênero. A trama acompanha Ethan Edwards (John Wayne), um ex-combatente sulista que retorna após a Guerra de Secessão e parte em longa busca pela sobrinha raptada por comanches. Ao contrário dos heróis típicos, Ethan é marcado pelo ódio, pelo racismo e pela incapacidade de se adaptar à paz. Ford constrói nele um protagonista ambíguo, simultaneamente movido por devoção familiar e por um desejo de destruição. Monument Valley, com sua imponência visual, serve de metáfora para a vastidão e a solidão do personagem, refletindo sua jornada interior. O filme explora tensões raciais e culturais, expondo preconceitos da sociedade americana, ao mesmo tempo em que critica a violência fundadora do Oeste. A figura de Martin Pawley (Jeffrey Hunter), mestiço e criado por Ethan, contrapõe-se ao tio como representação de tolerância e mediação. O olhar obsessivo de Ethan em relação à sobrinha, entre salvamento e aniquilação, sintetiza seu dilema moral. Ford evita o maniqueísmo: os indígenas não são apenas inimigos, mas parte de uma realidade trágica e inevitável. O desfecho, com Ethan excluído no limiar da porta, simboliza a impossibilidade de integração do herói violento na ordem civilizada. O enquadramento final, icônico, resume a solidão do indivíduo que abriu caminho para a nação, mas não encontra lugar nela. Assim, “Rastros de Ódio” é uma reflexão amarga sobre intolerância, obsessão e marginalidade. Mais do que um faroeste, é uma obra-prima sobre a sombra que acompanha a construção da identidade americana.
 Divulgação / Republic Pictures
Divulgação / Republic PicturesNicholas Ray faz de “Johnny Guitar” (1954) um faroeste atípico, marcado por intensidade melodramática e ousadia estética. Em vez do tradicional herói masculino, a narrativa é conduzida por Vienna (Joan Crawford), dona de um saloon que enfrenta hostilidade da comunidade por ser independente e por apoiar a chegada do trem. O título sugere protagonismo masculino, mas Johnny (Sterling Hayden) é figura secundária diante da força e complexidade das mulheres, sobretudo Vienna e sua rival Emma (Mercedes McCambridge). Essa inversão de papéis desafia convenções do gênero e introduz forte subtexto feminista. Ray radicaliza ainda mais ao usar cores vibrantes e cenários artificiais, criando uma atmosfera quase onírica que intensifica o melodrama. O filme traduz tensões políticas da época, funcionando como alegoria ao macarthismo: Vienna e Johnny representam os perseguidos, enquanto Emma encarna a histeria acusatória. O conflito entre as duas mulheres vai além de rivalidade amorosa, tornando-se confronto ideológico e social. Crawford imprime autoridade e vulnerabilidade, construindo uma personagem emblemática do western moderno. O clima de paranoia coletiva, a violência latente e os julgamentos sumários refletem uma América dilacerada pelo medo. A narrativa desmonta os mitos de honra e virilidade, revelando que poder e sobrevivência no Oeste também se pautam por desejo e ressentimento. Musicalmente, a canção-tema reforça o tom trágico e romântico da obra. O duelo final, protagonizado por mulheres, inverte a lógica do faroeste clássico, estabelecendo novo paradigma. Assim, “Johnny Guitar” é tanto uma obra singular dentro do western quanto um filme político e visionário. Sua força reside em transformar o Oeste em palco de paixões, paranoia e resistência.
 Divulgação / United Artists
Divulgação / United ArtistsCom “No Tempo das Diligências” John Ford ergue um marco na consolidação do faroeste, transformando um gênero visto como menor em cinema de prestígio. O filme acompanha a jornada de um grupo heterogêneo que viaja em uma diligência atravessando território hostil, ameaçado por ataques indígenas. Essa estrutura funciona como microcosmo social, reunindo personagens de diferentes classes e moralidades, como a prostituta Dallas (Claire Trevor), o médico alcoólatra Boone (Thomas Mitchell) e o fugitivo Ringo Kid (John Wayne, no papel que o consagrou). Ford explora tensões sociais e preconceitos, revelando como situações extremas revelam o caráter humano. O deserto de Monument Valley, filmado de modo grandioso, torna-se quase um personagem, estabelecendo o cenário mítico do Oeste. A narrativa equilibra ação, drama e crítica social, elevando o gênero a outro patamar estético e narrativo. A presença de John Wayne inaugura um novo arquétipo de herói: viril, solitário, mas guiado por um código de honra. Ford, contudo, não idealiza o Oeste, mas sugere que a convivência entre marginalizados e “respeitáveis” revela fragilidades da sociedade americana. O ataque à diligência é uma das sequências mais memoráveis do cinema, mostrando domínio técnico e ritmo narrativo. Ao mesmo tempo, o filme reflete sobre exclusão, solidariedade e a busca por justiça. A vitória final não apaga a dureza da jornada, mas reafirma o mito de um território em construção. Assim, “No Tempo das Diligências” não é apenas um western de aventura, mas uma obra sobre o encontro de destinos em meio à violência e à esperança. Por isso, permanece como símbolo do poder do faroeste em articular espetáculo e crítica social.