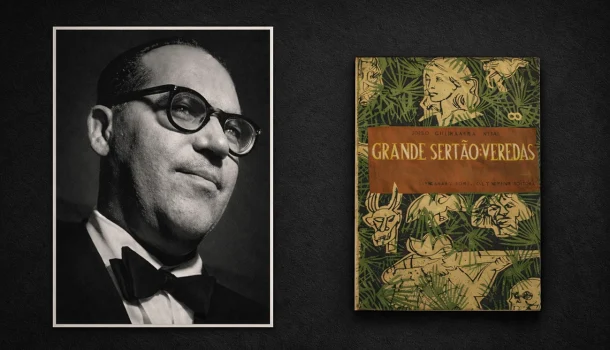Albert Camus nunca conheceu o Google Agenda. Não viveu para experimentar a sensação de responder a uma mensagem no WhatsApp às 2h48 da madrugada apenas para limpá-la da consciência. Não foi empurrado contra a parede por KPIs, nem aprendeu a sorrir para uma câmera com a alma corroída. Mas escreveu, em 1942, um dos textos mais radiográficos da vida contemporânea sem precisar de previsão tecnológica, nem distopia digital. Bastou que escutasse o silêncio. Em “O Mito de Sísifo”, Camus propôs que o único problema filosófico realmente sério é o suicídio. E tudo o que o mundo atual tenta tratar com cafeína, alta performance e silêncio emocional começa exatamente aí: no ponto em que a vida deixa de fazer sentido, mas continua sendo exigida.
Num tempo em que os profissionais se orgulham de funcionar mesmo adoecidos, em que o cansaço é um status de produtividade e a alienação virou forma de manter-se desejável, Camus volta como um fantasma lúcido. Ele não consola, não oferece terapias curativas, não propõe equilíbrio. Apenas afirma: o absurdo existe. E o absurdo, por definição, não se resolve. Convive-se com ele. Ou se para. Não há outra lógica.

O personagem central da metáfora é Sísifo, o homem condenado a empurrar uma pedra montanha acima para vê-la rolar de volta, eternamente. Camus observa essa repetição não como metáfora exclusiva do castigo, mas como metáfora da rotina. A repetição inútil, o esforço sem finalidade, a ausência de transcendência. O que Camus intui, sem o vocabulário clínico do século 21, é aquilo que a psiquiatria só nomearia muitas décadas depois: o esgotamento como sintoma estrutural de uma vida sem margens. Nascido em 1913 na Argélia, então território francês, entre a luz brutal do Norte da África e as sombras da Europa em crise, Camus conheceu cedo a fricção entre o centro e a periferia, entre a ordem imposta e o absurdo vivido. Sua filosofia nasce desse atrito, entre o sol que queima e o sentido que falta.
Mas “O Mito de Sísifo” não é, como se repete em memes ilustrados, um manual de resiliência. Não há ali otimismo oculto, nem apologia à superação. Quando Camus escreve que é preciso imaginar Sísifo feliz, ele não está propondo positividade diante da tragédia. Está falando de consciência. Felicidade, aqui, não tem relação com prazer. Tem relação com lucidez. A consciência de que a tarefa é absurda, e de que ainda assim ela será feita. Não por heroísmo. Mas porque há uma dignidade possível no gesto.
É uma tese perigosa, às vezes mal lida. Porque se interpretada de modo superficial, pode parecer uma defesa do conformismo, uma espécie de convite à aceitação passiva da repetição como forma de existir. Mas o que Camus propõe, com brutal clareza, é o contrário disso. Ele propõe olhar de frente para a pedra. Saber o que ela é. Saber que ela voltará. E, mesmo assim, continuar. A liberdade está nessa percepção: no ato de não negar o real, mesmo quando o real é insuportável.
A pergunta central — se a vida vale ou não a pena ser vivida — permanece incômoda porque escapa aos dispositivos contemporâneos de distração. Numa cultura que estimula o desempenho constante, qualquer forma de questionamento existencial profundo soa como ameaça. É por isso que as crises são medicalizadas com pressa, a angústia é tratada como falha moral e o tédio virou inimigo da performance. O burnout não é um colapso. É uma resposta. Uma tentativa do corpo de interromper o que a mente já não pode negar.
Na estrutura narrativa do ensaio, Camus constrói sua argumentação com precisão quase geométrica. Ele parte do sentimento do absurdo, percorre as evasões religiosas e filosóficas tradicionais, desmonta o consolo da esperança e então, finalmente, recusa o suicídio como solução. A recusa não é um ato de fé, mas de fidelidade à experiência. Continuar vivendo, mesmo sabendo da ausência de sentido, torna-se o único gesto verdadeiramente livre. É uma ética sem promessa. Uma sobrevivência sem propósito. Mas é escolha.
Essa escolha, no entanto, exige um tipo de coragem silenciosa que raramente é celebrada. Não há medalhas para quem atravessa o dia em desassossego sem anestesia. Não há troféu para quem se recusa a performar entusiasmo. A cultura da positividade transforma a angústia em tabu. E o que Camus faz, sem didatismo, é devolver complexidade ao simples fato de estar vivo.
Nas últimas duas décadas, o termo “burnout” foi ganhando status clínico, depois estatístico, depois estético. Artigos científicos, relatórios corporativos, tendências de RH e campanhas de autocuidado o transformaram num conceito público. Mas sua experiência permanece íntima e silenciosa. O sujeito em burnout não grita. Ele esvazia. Ele continua. Ele funciona. Mas funciona como alguém que empurra uma pedra sem nome. A dissociação entre o gesto e o desejo é o que Camus identificou como o núcleo do absurdo. E se a linguagem do século 21 é incapaz de lidar com isso sem convertê-lo em campanha publicitária, o ensaio de 1942 segue como um documento de resistência.
Camus escreveu durante a guerra. Escreveu entre bombas, censura e miséria. Mas o centro de sua escrita não está na conjuntura. Está na condição. Ele não precisa de eventos para falar do vazio. Porque o vazio, para ele, é recorrente. É parte da estrutura humana. A diferença, talvez, seja que no século 21 o vazio se esconde melhor. Ele veste roupa social, fala por e-mail, agenda reuniões, bate ponto digital. Mas continua vazio. O esforço para ignorá-lo só o torna mais intrusivo.
Na ausência de sentido, a única ética possível é a do olhar. Saber que a pedra existe. Saber que ela não muda. E continuar. Isso não é felicidade. É escolha. Escolher ver e ainda assim mover-se. Não há grandeza nisso. Há insistência. Há uma forma bruta de fidelidade a si mesmo.
Hoje, quem lê “O Mito de Sísifo” talvez esteja em trânsito. No intervalo entre um turno e outro. Esperando a bateria do celular terminar. Tentando não dormir no meio de uma chamada de vídeo. Talvez tenha aberto o ensaio por acaso, ou por desespero. Não importa. O que importa é que ali está alguém dizendo que a dor de existir sem propósito não é loucura. É lucidez. E que entre o fim e a fuga, existe ainda a possibilidade de gesto. Pequeno, inútil, resistente.
Essa é a resposta de Camus. Não uma solução. Não um caminho. Mas uma postura. Um modo de continuar. Não porque a vida tenha sentido. Mas porque, mesmo sem sentido, ela é a única coisa que nos resta.