Há livros que abraçam, que consolam, que embalam o leitor em histórias doces e reconfortantes. Mas há outros que simplesmente desestabilizam. Livros que falam baixo, não vociferam, não se impõem pela virulência retórica, mas que, com precisão cartesiana, desmontam-nos. São como bofetadas com luva de pelica, que não fazem barulho, mas excitam a consciência. Livros assim não estão nada preocupados em agradar, ao contrário: só o que fazem é desafiar nossas certezas, desmentindo o que acreditávamos saber sobre o mundo, sobre os outros e, por óbvio, sobre nós mesmos. Seus autores escavam camadas e mais camadas de autoengano; revelam cinismo onde, ingênuos, supúnhamos haver moralidade; denunciam vícios onde julgávamos florescer virtudes. E fazem-no substituindo os rodeios por verdades cruas, tão evidentes que só nos resta perguntar, vexados, por que foi que nunca atingíramos tal iluminação. O estilo pode ser dos mais serenos, mas em algum momento da leitura acusamos o golpe. Pode ser um parágrafo que parece ter saído direto do nosso caos mais impenetrável. Em outras vezes, chama atenção uma frase incômoda, como se o autor nos conhecesse melhor do que gostaríamos, como se visse com nitidez o que escondemos com tanto cuidado. Livros feito esses não nos representam: eles nos descobrem.
Essas publicações expõem, com rara clareza, aquilo que várias outras apenas insinuam ou, pior, mantêm numa redoma, enevoada e distante. Histórias que conseguem misturar as agruras de um personagem a alguns dos incontáveis capítulos do mal-estar da civilização são particularmente vigorosos, e merecem o escrutínio mais detalhado. Este é o caso de “Homem Invisível” (1952). Narrado em primeira pessoa, o romance do americano Ralph Ellison (1913-1994) acompanha um protagonista sem nome que se descobre invisível, não por estar literalmente oculto, mas porque a sociedade não o reconhece como cidadão. Negro, Ellison urde um enredo que junta a segregação no sul racista às armadilhas ideológicas do norte, composto de gente mais civilizada e muito mais cheia de afazeres, o que resulta num apagamento bastante sui generis e também cruel. Sofrimentos e dores que à primeira vista tocam apenas ao território doméstico é o que pulsa em “Carta ao Pai” (1919), documento íntimo e devastador em que Franz Kafka (1883-1924) aborda, com lucidez angustiada, o impacto emocional que a figura autoritária de seu pai, Hermann Kafka (1852-1931), exerceu sobre sua vida. A tal carta jamais foi entregue, a reconciliação nunca aconteceu, porém ficou o desabafo kafkiano, visceral, pujante, lírico, inspirador. Eterno.
“Homem Invisível”, “Carta ao Pai” e mais três títulos matadores, que batem com toda a lhaneza, sem fazer estardalhaço e prontos para derrubar, constam da lista abaixo, excelentes sugestões para quem carece ouvir umas verdades. Em tempos de discursos histéricos, de certezas inabaláveis, de indignações performáticas e seletivas, livros como esses, que provocam desconforto sem escandalizar, são monumentos à resistência e à vida ela mesma.
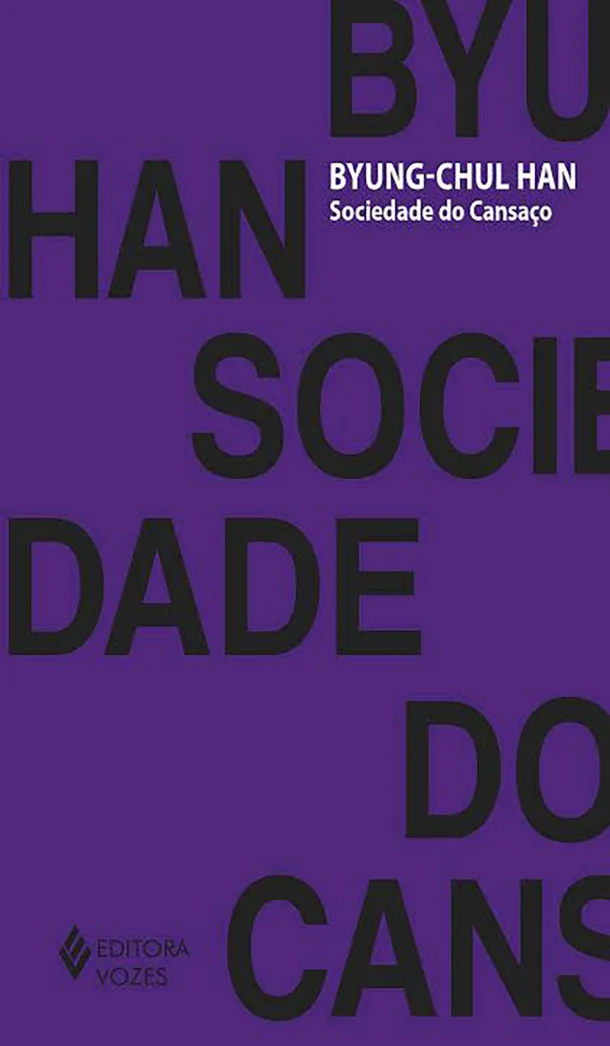
Sul-coreano radicado na Alemanha, o filósofo Byung-chul Han diagnostica em “A Sociedade do Cansaço” a transição de uma sociedade disciplinar, marcada pela repressão externa, para uma sociedade de desempenho, onde o indivíduo explora-se a si mesmo sob o imperativo da produtividade. Segundo Han, vivemos em um regime psíquico onde o excesso de positividade – “Yes, we can” – transforma a liberdade em um novo mecanismo de controle. O sujeito atual é empreendedor de si, livre em aparência, mas exaurido por dentro. A hiperatividade, a multitarefa e a autocobrança exacerbada resultam em patologias como depressão, burnout e transtornos de ansiedade. Para Han, não há mais um inimigo claro contra quem lutar, pois o sujeito se tornou simultaneamente o algoz e a vítima. O autor critica a lógica neoliberal que reduz tudo à performance e ao capital humano, dissolvendo o espaço para o ócio, a contemplação e o pensamento crítico. Embora conciso, o ensaio é denso e provocador, exigindo uma leitura atenta. Seu mérito está em dar forma conceitual a mal-estares contemporâneos difusos. No entanto, por vezes falta-lhe aprofundamento empírico, e sua visão, bastante melancólica, pode soar determinista. Ainda assim, Han oferece um alerta necessário sobre os custos psíquicos de um mundo que exige entusiasmo permanente.
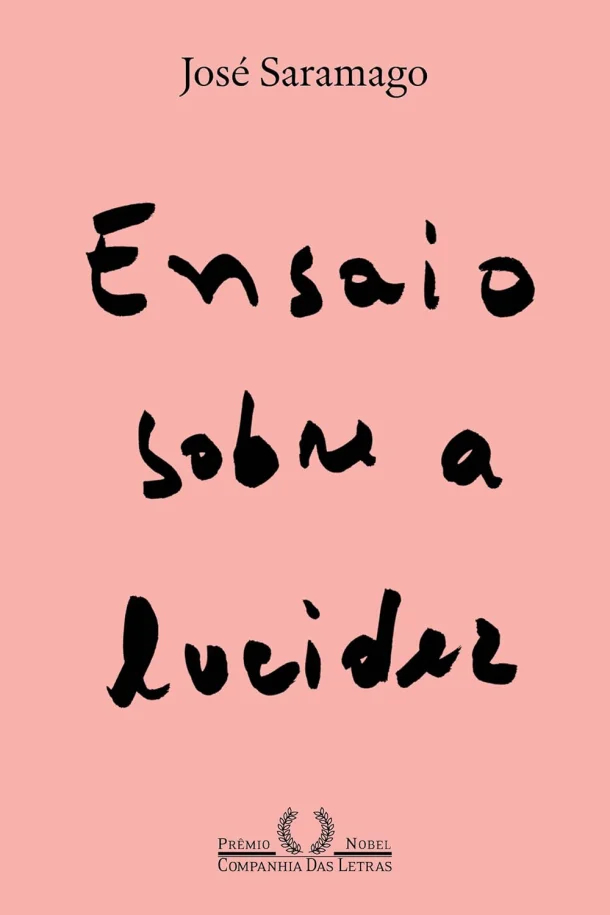
“Ensaio sobre a Lucidez” é uma fábula política provocadora na qual José Saramago imagina uma capital democrática onde, numa eleição, 83% do povo vota em branco. A partir desse gesto aparentemente pacífico, o governo interpreta o ato como subversivo, instaurando um estado de exceção e desencadeando uma violenta repressão. Saramago constrói uma crítica contundente às estruturas do poder, revelando a fragilidade das instituições democráticas quando confrontadas com a recusa silenciosa da população. O romance é uma espécie de continuação temática de “Ensaio sobre a Cegueira”, mas, agora, o “vírus” é a lucidez – e o perigo, paradoxalmente, está na clareza de pensamento. O autor denuncia a hipocrisia do discurso democrático, mostrando como o poder teme a autonomia cidadã mais do que a barbárie. Com sua linguagem fluida, parágrafos longos e diálogos implícitos, Saramago desafia o leitor a refletir sobre o que realmente sustenta uma democracia. Críticos apontam a força alegórica do livro, mas também destacam o risco de certo maniqueísmo na representação dos agentes do poder. Ainda assim, trata-se de uma obra essencial para pensar a relação entre cidadania, ética e autoridade. “Ensaio sobre a Lucidez” é uma ode sombria à coragem de pensar — e ao preço que isso cobra.

“Homem Invisível”, de Ralph Ellison, é uma poderosa alegoria sobre a identidade negra nos Estados Unidos do século 20. Narrado em primeira pessoa, o romance acompanha um protagonista sem nome que se descobre invisível, não por estar literalmente oculto, mas porque a sociedade se recusa a enxergá-lo como sujeito. Da segregação no sul racista às manipulações ideológicas do norte urbano, o personagem enfrenta sucessivos apagamentos, sendo ora usado, ora ignorado por instituições como universidades, sindicatos e movimentos políticos. A invisibilidade torna-se, então, símbolo da desumanização sistemática imposta ao negro. Ellison entrelaça elementos do existencialismo, do realismo social e do simbolismo, criando uma prosa densa e multifacetada. O romance critica tanto o racismo estrutural quanto a instrumentalização política da identidade. Sua estrutura labiríntica e suas imagens oníricas remetem à jornada do herói em busca de si mesmo. Apesar de publicado em 1952, o livro permanece atual, expondo as formas sutis e brutais de exclusão. A crítica reconhece em Ellison um marco na literatura afro-americana, por sua sofisticação formal e sua abordagem complexa do sujeito negro. “Homem Invisível” não é apenas denúncia; é também uma profunda meditação sobre o que significa ser e não ser em uma sociedade que insiste em não enxergar.
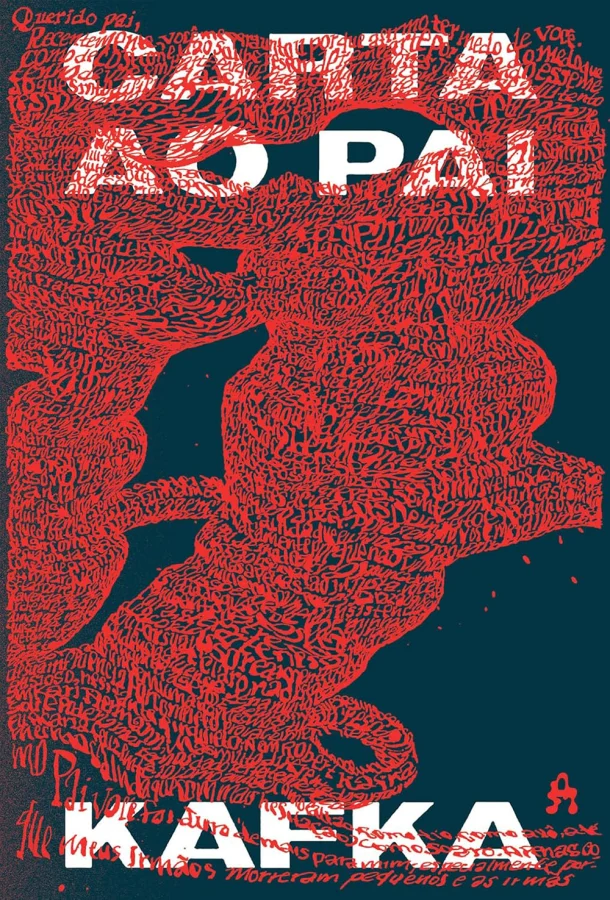
“Carta ao Pai” é um documento íntimo e devastador em que Franz Kafka expõe, com lucidez angustiada, o impacto emocional que a figura autoritária de seu pai, Hermann Kafka (1852-1931), exerceu sobre sua vida. Escrita como uma tentativa de reconciliação, nunca enviada, a carta revela um retrato do filho humilhado, inseguro e esmagado pela opressão simbólica e afetiva do pai. Kafka acusa o pai de brutalidade emocional, insensibilidade e autoritarismo, descrevendo como isso minou sua autoestima e o condenou à culpa e ao medo. Ao mesmo tempo, há um desejo ambíguo de reconhecimento e amor, tornando a carta um texto profundamente ambivalente. A prosa, ao mesmo tempo lógica e emocional, é marcada por uma dor que se elabora na tentativa de compreensão. Embora pessoal, o texto transcende a biografia, tornando-se símbolo das relações assimétricas entre pais e filhos, entre poder e fragilidade. A força da obra reside justamente nesse tensionamento entre o particular e o universal. Críticos apontam que Kafka, apesar da intenção de autopiedade, não poupa a si mesmo, revelando uma autopercepção complexa e crítica. “Carta ao Pai” é, enfim, um desabafo literário de rara potência, onde o trauma se transforma em arte e análise implacável das feridas herdadas.
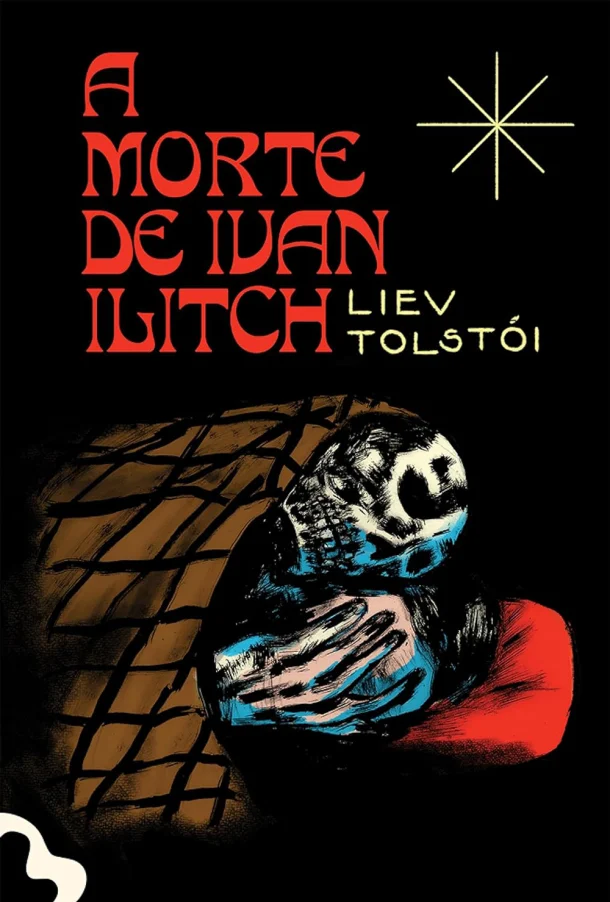
Com “A Morte de Ivan Ílitch”, romance publicado em 1886, Liev Tolstói (1828-1910) talvez tenha escrito sua novela mais amarga, muito mais ainda do que “Guerra e Paz” (1867), monumento de mais de mil páginas sobre a baldada invasão napoleônica à Rússia em 1812. Em “Guerra e Paz”, Tolstói elabora um quadro milimetricamente detalhado de uma sucessão de confrontos campais, de natureza sangrenta, portanto, mas nunca se esquecendo de pontuar a narrativa bélica com a vida íntima de uma família. A morte para Tolstói torna-se desde então um leitmotiv vital em seus trabalhos, ainda que o tempere, como já se mencionou, com fatos comezinhos — e é nisso que reside a genialidade do russo. A finitude em “A Morte de Ivan Ílitch” adquire tintas muito mais dramáticas porque 1) trata-se de um homem jovem, mesmo para os padrões do século retrasado, uma vez que o próprio Tolstói passou dos oitenta anos; 2) o protagonista sucumbe a uma enfermidade implacável, que se arrasta ao longo de muito tempo e para a qual nem se sonhava com qualquer possibilidade de cura — isso, sim, uma constante na época em que se passa a história. Tudo leva a crer que se trata de um câncer do aparelho digestivo; 3) poder-se-ia admitir que Ivan Ílitch se fosse ainda moço, o ponto não é esse. O que Tolstói não deixa escapar é o caráter rasteiro da vida que levara. Não fora um biltre, um corrupto, um degenerado. Pelo contrário.








