Em “James”, publicado em 2024 e laureado com o Pulitzer de Ficção, Percival Everett realiza um feito raro: transforma um clássico da literatura canônica em matéria viva, inconformada, dilacerada por dentro. A obra revisita “As Aventuras de Huckleberry Finn”, de Mark Twain, não com reverência, mas com bisturi — não para amputar, mas para abrir, expor, examinar. O narrador agora é Jim, o homem escravizado que na obra original era apenas um companheiro de travessia, presença marginalizada, ao mesmo tempo caricata e funcional. Aqui, Jim ganha corpo, memória, intelecto, ironia — e sobretudo voz. Mas não uma voz unívoca, monumental ou redentora: a que emerge destas páginas é tensa, inquieta, por vezes contraditória, sempre consciente de sua posição precária no mundo.
Everett evita a armadilha da correção histórica. Não se trata de “reparar” Twain, mas de transformar sua narrativa em palco para a revelação daquilo que foi omitido, simplificado ou, pior, romantizado. A escravidão nos Estados Unidos, neste romance, não é uma moldura remota e polida: é uma máquina ainda quente, com engrenagens enferrujadas e dentes quebrados. Jim — ou James, como ele se afirma — compreende essa máquina por dentro, não porque a estudou, mas porque foi moído por ela desde o nascimento. No entanto, o que se ergue das páginas não é a figura do mártir passivo, mas a de um homem astuto, cindido entre estratégias de sobrevivência e lampejos de desobediência, entre uma consciência aguçada e a brutal necessidade de encarnar expectativas para seguir respirando.
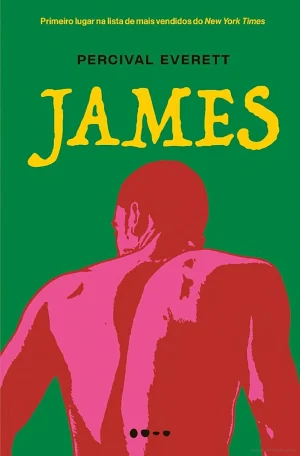
Há momentos em que James se finge de menos do que é, e outros em que se excede, como se testasse os limites da linguagem que lhe foi negada. É um narrador dúbio, por escolha. Sua ironia é tão letal quanto silenciosa — quase sempre dirigida à hipocrisia branca, mas também, de maneira pungente, à ideia de que a dor negra deva sempre vir embalada em nobreza ou dignidade estética. Everett não oferece isso. Em vez disso, entrega uma escrita viva, vibrante, em carne exposta. A linguagem, aqui, tem textura: escorrega, arde, implode.
A estrutura do romance dialoga com a tradição picaresca, mas com uma inflexão dolorosa. A travessia de Jim e Huck pelo Mississippi se converte em metáfora da ambiguidade moral de uma nação que nunca se reconciliou com sua origem escravocrata. Huck, nesse novo olhar, é tanto um garoto envolto em ingenuidade quanto um sintoma do privilégio mais cruel: aquele que se permite a inocência. Há compaixão — mas nunca condescendência. A amizade entre os dois pulsa, sim, mas à sombra de um contrato social que transforma o afeto em tensão constante.
As passagens de violência — e há muitas — não são espetaculares. São curtas, diretas, íntimas demais para o voyeurismo. Um olho arrancado, um açoite, uma mão que hesita e depois desce. Everett entende que o horror mais duradouro não está no gesto, mas no silêncio que o sucede. Nessa economia precisa, a narrativa se torna cortante: não há gordura, mas tampouco há pressa. Cada frase parece ter sido arrastada por dentro da garganta antes de alcançar o papel.
Mas “James” não é apenas denúncia. É também invenção — e, nesse sentido, profundamente literário. Everett desloca vozes, distorce sintaxes, altera o curso do fluxo narrativo com uma liberdade que lembra, por vezes, Ralph Ellison em “Homem Invisível”, ou Toni Morrison em “Amada”. Há monólogos que se aproximam do delírio, diálogos que revelam mais pelo que não dizem, e parágrafos inteiros que parecem respirar por conta própria, como se a prosa estivesse viva, inquieta, em estado de alerta. A ficção aqui não é um abrigo, mas um campo de batalha.
A crítica à branquitude americana — institucional, cultural, moral — é constante e mordaz. Mas o romance não se reduz a isso. Há também meditações sobre masculinidade, linguagem, liberdade e religiosidade, que se enredam na subjetividade de James sem jamais se tornarem doutrina. Ele não se oferece como símbolo, mas como sujeito — fragmentado, cheio de cicatrizes, por vezes cruéis. É justamente essa recusa a se enquadrar que torna sua narrativa tão urgente.
Uma espécie de cirurgia literária que reabre feridas aparentemente cicatrizadas para mostrar que, sob a crosta, ainda pulsa o mesmo pus. Percival Everett não escreve para consolar, muito menos para agradar. Ele escreve — se escreve — como quem sabe que algumas verdades só podem ser ditas com a lâmina.





